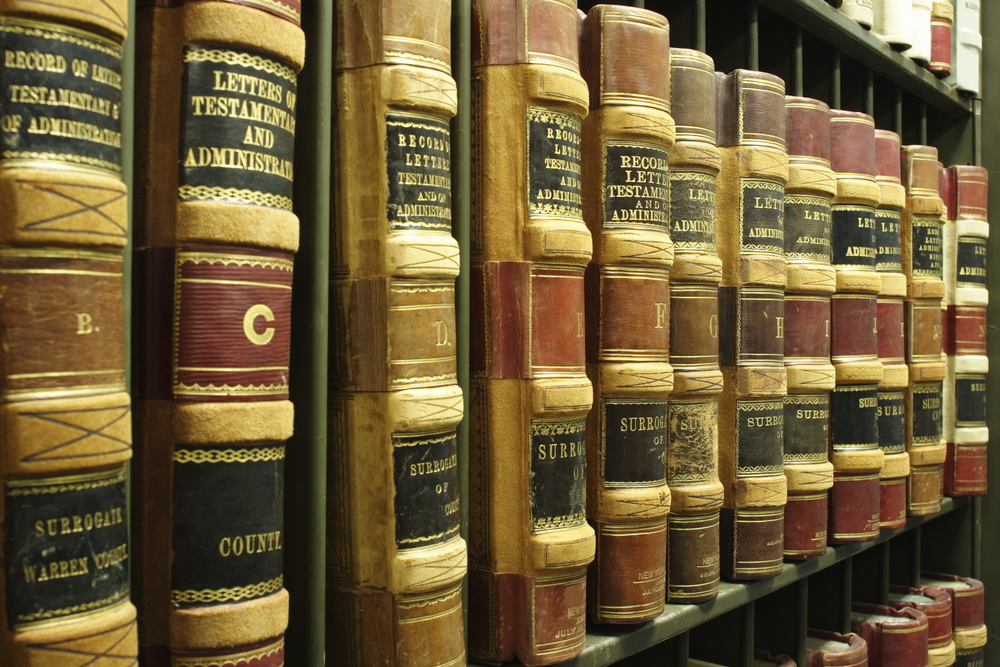Há muito tempo que o juiz deixou de ser a desprezível “boca da lei”, apesar da elegante expressão francesa la bouche de la loi[1], porque mesmo no sistema romano-germânico, veio a jurisprudência ocupar lugar de prestigiado destaque, principalmente por conta das cortes constitucionais, o que faz com que venha até a se aproximar do sistema da common law.
Foi René David o primeiro doutrinador a chamar a atenção no sistema common law do século CC no Reino Unido principalmente ao tratar do Welfare state[2] (O Estado do Bem-Estar social)e escreveu sobre novas situações que estão proporcionando maior aproximação do common law do civil law.
Afirmou literalmente: “O movimento iniciado no século XIX continua nos nossos dias, com novas características. Uma nova corrente socialista, visando o estabelecimento da sociedade sobre novas bases, substituiu a corrente liberal que foi dominante até 1914. A common law sofreu, por isto, uma grave crise, já que os processos de elaboração casuística e jurisprudencial, pelos quais ela se caracterizou desde a sua origem, conciliam-se com a vontade de efetuar na sociedade profundas e rápidas transformações. As leis e regulamentos adquiriram uma importância desmedida em comparação com a situação anterior.
Para resolver os problemas do Welfare-state[3], talvez os direitos românicos do continente europeu, familiarizados com a elaboração legislativa e doutrinal do direito, estejam mais preparados do que o direito inglês.
Esboça-se, assim, um movimento de aproximação entre o direito inglês e o direito do continente europeu; este movimento é estimulado pelas necessidades do comércio internacional e favorecido por mais nítida consciência das afinidades que existem entre os países europeus ligados a certos valores da civilização ocidental: a estrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia poderá dar um novo impulso a esta aproximação.
Já a ordem jurídica italiana após a Lei Fundamental de 1947, aponta para o stare decisis antes tido como peculiaridade do sistema inglês, atualmente é encontradiço em seus traços gerais com prática difundida em todo o continente europeu a partir do século XVI.
Conclui-se que no sistema italiano, a partir da Carta de 1947, existe autêntica aproximação do sistema common law ao da civil law. E idêntica aproximação acontece no sistema judiciário alemão. Pois de fato, a Lei fundamental de Bonn de 1949 é expressa ao prever em seu art. 94.2, o efeito vinculante das decisões do Tribunal Constitucional, salientado, ademais, que a lei federal disporá sobre a organização e o procedimento, precisando os casos em que seus julgados terão eficácia de lei.
Em Portugal, segundo José Joaquim Gomes Canotilho de acordo com o art. 282º/1 da Constituição Portuguesa, as decisões do Tribunal Constitucional possuem força obrigatória geral, demonstrando: a) vinculação geral, ao submeterem o legislador, que não pode reeditar normas julgadas inconstitucionais neutralizar a decisão através de convalidação retroativa; b) força de lei, porque tais deliberações, em face do valor normativo que ostentam, estendem seus efeitos perante as pessoas físicas e coletivas privadas.
A Espanha, por sua vez, não ficou alheia ao fascínio do precedente judicial e, para essa finalidade, o Tribunal Constitucional invocou o princípio da igualdade que fora prestigiado pelo art. 14 da Constituição de 1978.
Por derradeiro, é de se apontar o sistema vigente em França, historicamente por conta da Revolução de 1789, o sistema francês tendeu a repudiar o trabalho dos juízes, que eram vistos e considerados como caudários do Ancién Régime. Desta forma, a Lei de 1790, ao criar o référé legislatif, destacou o caráter do magistrado como um aplicador autômato da lei, dando importância maior à interpretação legislativa, com descrédito ao labor do juiz, sendo maior prova disso, o dispositivo contido no art. 3º da Constituição de 1791 que estabelecia que: “Os tribunais não podem imiscuir-se no exercício do Poder Legislativo ou suspender a execução das leis, nem intrometer-se nas funções administrativas ou citar perante eles os administradores por motivo de suas funções”.
Por essa razão fora criado o Tribunal de Cassação que representa o órgão político do Legislativo que tinha como principal função a de retificar as infrações cometidas pelas cortes judiciais francesas, sempre que as ditas infrações se traduzissem em contravenção ao texto da lei.
O Tribunal de Cassação, porém a partir de 1837 assumira outra feição, passando então a ser órgão do Judiciário com a atribuição de rever qualquer sentença que se baseasse em ratio decidendi contrária à sua orientação jurisprudencial.
Depois surgira em 1872 o Conselho de Estado que, mesmo não pertencendo ao Judiciário francês, passou a merecer a atribuição de julgar as questões de direito público, sendo considerado o ápice da jurisdição administrativa.
George Vedel[4] e Delvolvé Pierre[5] explicaram coerentemente a inclusão da jurisprudência como fonte do direito no sistema francês e destacaram a relevância do papel do juiz, afirmando que este somente interpreta os textos legais, não criando o direito.
Registre-se que essa aproximação enfocando o direito pátrio é mais visível quando da adoção das chamadas súmulas vinculantes que representam estruturas peculiares do sistema da common law[6] e que redirecionou o sistema jurídico brasileiro, onde as decisões do Supremo Tribunal Federal passaram a ter após a EC 45/2004 e a Lei 11.417/2006, o efeito vinculante[7] em relação aos demais órgãos do Judiciário e também à administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
A referida aproximação dos sistemas nos leva a uma análise sobre a mudança de paradigmas que estruturam cada um dos sistemas. Valendo-se da teoria de Thomas Kuhn que cuidou de demonstrar o caráter revolucionário do progresso científico, em que a revolução implica o eventual abandona de uma estrutura teórica e sua substituição por outra que, às vezes, se mostra mais incompatível com a primeira.
Kuhn sintetiza um quadro de como progride a ciência, num esquema aberto: pré-ciência, ciência normal, crise-revolução, nova ciência normal, nova crise.
Assim num retrospecto histórico percebe-se que os dois sistemas, na fase de pré-ciência em que se encontravam, chegaram até a fase de ciência normal, de modo que o sistema da common law passou a ser regulado por precedentes e o da civil law, por sua vez, pela legislação codificada e positivada.
O eventual fracasso em resolver um problema é considerado como fracasso do cientista e não como uma falta de adequação do paradigma. E, diante disso, o paradigma permanece. Quando será necessário, valer-se das leis gerais, os princípios metafísicos e metodológicos envolvidos no paradigma para tentar mantê-lo.
Em relação às crises, os sistemas ora analisados podem eventualmente apresentar, e os juristas de cada um dos sistemas irão tentar resolver seus problemas exatamente com os métodos paradigmáticos que orientam cada um dos dois sistemas.
Dificuldades, contudo, ainda não são as verdadeiras crises. As crises somente irão realmente se materializar quando as anomalias passam a representar os problemas sérios para um paradigma e um período de acentuada insegurança comece.
E, assim os cientistas começam a expressar abertamente seu descontentamento e inquietação com o paradigma reinante. Acentua-se a complexidade quando do surgimento de um eventual paradigma rival, quando os adeptos de cada sistema tenta se manter, o que ocorre porque vivem, por assim dizer, em mundos diferentes.
Chega-se, contudo, a um certo momento em que, em plena crise, os próprios adeptos aos conceitos orientadores de certo paradigma irão aderir às ideias e soluções do outro. É a chamada troca gestáltica ou conversão religiosa, que não terá significa ou até poderá traduzir-se em superioridade de um paradigma em relação ao outro, exatamente porque dita adesão não decorre de um único fator.
Indubitavelmente o sistema jurídico pátrio tem-se aproximado do common law que vigora no Reino Unido e nos EUA e se torna mais evidente a partir da implantação do sistema vinculativo de jurisprudência, e atualmente com o CPC/2015.
Porém tal aproximação não é recente, pois o CPC de 1939[8], em seu art. 861 trazia expressamente que o Tribunal poderia promover o pronunciamento prévio sobre a interpretação de qualquer norma jurídica. Mesmo no Anteprojeto do CPC de 1973 de autoria de Alfredo Buzaid, houve estudos no sentido de se restabelecer os antigos assentos que vigoravam anteriormente (art. 519 e item 29 da Exposição de Motivos) com que as decisões judiciais teriam então efeito vinculativo.
Também ocorreu na Constituição de 1946 quando existiram projetos de implantação do sistema de precedentes vinculante.
Porém, a mais pujante adoção das regras do common law no sistema jurídico brasileiro adveio com a EC45/2004 que inseriu o art. 103-A da CF/1988, possibilitando a edição pelo STF, de ofício ou por provocação, mediante a decisão de dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, a aprovação de súmula[9] que, a partir de sua publicação passa a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder sua revisão ou cancelamento.
O referido preceito constitucional fora regulamentado devidamente pela Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que disciplinou a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula[10] vinculante.
Aliás, várias mudanças legislativas brasileiras apontam que tem realmente ocorrido o avizinhamento conforme o art. 38 da Lei 8.039/90, que permitira ao relator, no STF e no STJ, negar seguimento ao recurso que contrarie, nas questões de direito, súmula do respectivo tribunal; o art. 557 do CPC/73 (correspondente ao inciso III do art. 932 do CPC/2015) que, o mesmo sentido, dispôs que o relator negará o seguimento ao recurso que estiver em confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Tribunal, do STF ou STJ; o art. 896 da CLT que também passou a estabelecer que o relator poderá negar seguimento ao recurso de revista, se a decisão recorrida estiver em consonância com enunciado de súmula do Tribunal Superior do Trabalho; o art. 285-A do CPC/73 (correspondente ao art. 332 do CPC/2015) que veio permitir que quando houver a matéria unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença nos mesmos moldes da que já fora anteriormente prolatada.
Igualmente os arts. 543-B e 543-C do CPC/73 e os arts. 544, terceiro e quarto parágrafos todos do Código Processual ainda vigente (O art. 534-A correspondente ao art. 1.035 do CPC/2015; O art. 534-B correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, art. 1.039; O art. 534- C correspondente ao Primeiro e terceiro parágrafos do art. 1.036 do CPC/2015).
Também quanto à tendência de incentivar a conciliação, o sistema anglo-saxônico se revela mais expressivo. É a denominada alternative dispute resolution dos EUA. E, percebe-se claramente essa tendência impressa no CPC/2015 onde há o claro incentivo para as vias alternativas de composição da lide, trazendo diversas formas combinadas entre as figuras de negociação, mediação, arbitragem e conciliação desonerando de forma evidente o labor do Poder Judiciário.
Na doutrina reconhecendo a aproximação, em brilhante artigo que teve grande circulação no país, ao tratar a transformação do Civil Law e a chance de se criar um sistema precedentalista para o Brasil, veio o Luiz Guilherme Marinoni sustentar que é chegada a hora para se ter efetivas investigações doutrinárias sobre a jurisdição da common law e se deve abandonar o preconceito em relação ao direito americano.
Afinal, afirma o brilhante doutrinador, o juiz da civil law passou a exercer o inconcebível papel com esse sistema, passando a ser tão criativo quanto o seu colega da common law, porque atualmente o juiz do primeiro sistema controla a constitucionalidade da lei e, obviamente não está mais a esta submetido, com o seu papel até mesmo negaria a ideia da supremacia do legislativo que é tão próprio na civil law.
O Estado Constitucional[11] deixou de ser mero servo do legislativo. O juiz sob o neoconstitucionalismo tem papel muito próximo ao do common law. É exatamente a cegueira para a aproximação destes juízes que não permite enxergar a relevância de um sistema de precedentes no civil law[12].
Afinal concluir que realmente tem havido a aproximação entre esses dois sistemas e que isto caracteriza uma mudança de paradigmas que traz a evolução do direito brasileiro e da jurisdição brasileira, trazendo o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e o reforço necessário e inspirador para o cumprimento dos princípios constitucionais de segurança jurídica, da isonomia e do acesso à justiça. Além de garantir o exercício dos direitos fundamentais além da duração razoável do processo.
Referências
BRITO, Jaime Domingues. OLIVEIRA, Flávio Luis de. A convergência do sistema da civil law ao da common law e a concretização dos direitos. Disponível em: http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/INTERTEMAS/article/viewFile/2616/2405 Acesso em 31.07.2015.
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional. 5. ed., Coimbra;: Almedina, 1992.
CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
DINAMARCO, C.R. Efeito vinculante das decisões judiciárias. In: Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2000.
LEITE, Gisele; HEUSELER, Denise. Commonlização à brasileira. Portal Jurídico Investidura. Florianópolis, 05.set.2011 Disponível em http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/processocivil/197197-commonlizacao-a-brasileira Acesso 31.07.2015;
MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado Contemporâneo. In: Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Monis Aragão. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A jurisprudência como fonte do direito e o Aprimoramento da magistratura. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 279, jul./set, 1982.
TESHEINER, José Maria Rosa. Juiz Bouche de la loi – Em defesa de Montesquieu. Disponível em: http://www.tex.pro.br/home/artigos/64-artigos-jun-2008/5975-juiz-bouche-de-la-loi–em-defesa-de-montesquieu Acesso em 31.07.2015.
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2006.
[1] É corrente a crítica à noção de juiz como “boca da lei” ou juiz robot que são expressões eivadas de pejora. Porém a crítica está longe de ser merecida e justa. A ideia de Montesquieu decorre naturalmente em prol do princípio da legalidade que, embora enfraquecido, continua a integrar nosso sistema constitucional. E em paralelo há outra ideia que não pode ser desprezada: a de que uma sociedade de homens livres deve ser governada por leis, e não por homens, ainda que juízes. Em resumo, prega-se a substituição decisões judicias discricionárias (decisões predominantemente politicas), por decisões vinculadas ao sistema jurídico (decisões predominantemente jurídicas). A ideia principal é o juiz que obedece à lei não exerce verdadeiro poder. Defere ou indefere o pedido do autor, em obediência a um dever. O juiz que, abusando da hermenêutica, faz a lei dizer o que ele quer, este sim, exerce poder: defere ao amigo o que nega ao inimigo.
A principal crítica de Montesquieu assenta na existência possível de várias interpretações de um texto legal, donde a possibilidade de extrair-se, de um texto velho, uma norma nova, mais consentânea com a atualidade. Em suma, trata-se da criação jurisprudencial do Direito, que constitui uma antítese do princípio da legalidade, baseado na supremacia da lei.
[2] A crise do Estado de Bem-estar é um tema complexo para o qual não há consenso entre os estudiosos. Nos países industrializados ocidentais, os primeiros sinais da crise do Welfare State estão relacionados à crise fiscal provocada pela dificuldade cada vez maior de harmonizar os gastos públicos com o crescimento da economia capitalista. Nessas condições, ocorre a desunião entre “capital e trabalho”. As grandes organizações e empresas capitalistas e as massas trabalhadoras já não se entendem e entram em conflito na tentativa de assegurar seus próprios interesses.
No Reino Unido, a eleição da primeira-ministra Margareth Thatcher (do Partido Conservador; que governou de 1979 a 1990) representou o marco histórico do desmonte gradual do Estado de Bem-estar inglês a partir da política de privatização das empresas públicas. Outros países adotaram a mesma política.
[3] O Estado do Bem-estar também conhecido pela denominação inglesa Welfare State. E designa basicamente um Estado assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos. É possível identificar vários tipos de políticas assistenciais promovidas por inúmeros Estados. Ao longo do século XVIII, por exemplo, em países como Áustria, Rússia, Prússia e Espanha colocaram em prática uma série de importantes políticas assistenciais. Tais políticas desenvolvidas se situavam no campo da justiça material, e eram consideradas pelos súditos como dádivas ofertadas pelo governante. Podemos identificar tais políticas no governo ditatorial de Getúlio Vargas (1930-1945) que ficou conhecido por extensos segmentos das populações pobres como o “pai dos pobres”.
[4] Georges Vedel (1910-2002) professor e jurista francês de direito público. Consultor jurídico da delegação francesa nas negociações sobre o Mercado Comum e Euratom 1956-1957) em conferências em Veneza, Bruxelas e Roma (organismo público europeu para coordenar os programas de investigação em matéria de energia nuclear. Foi instituído por uma “indefinido” período pelo Tratado Euratom, assinado em 25 de Março de 1957 pelos seis países membros do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia (CECA), e entrou em vigor em 1 st de Janeiro de 1958). Membro do Conselho Económico e Social (1969 1979).
[5] Delvolvé Pierre é professora e jurista francesa. É professora emérita da Universidade de Paris II. Sua tese intitulada “O princípio da igualdade perante ônus público” que fora prefaciado por Georges Vedel e, fora publicado em 1969, na Biblioteca Geral da Lei e da Jurisprudência.
[6] O common law encontra seus primórdios na Inglaterra, no século XI, época da conquista de povos e expansão de territórios dominados pelo Império Britânico, como, por exemplo, EUA, Austrália, Índia e parte do Canadá. O direito inglês sempre foi baseado nos costumes e, principalmente, nos precedentes judiciais, apesar de considerarem a lei escrita como fonte de direito, mas visto sob um enfoque secundário. No common law, há o case method, quer dizer, são discutidos precedentes da Suprema Corte, assim como das cortes superiores dos estados americanos, dos quais serão extraídos regras e princípios gerais necessários para o julgamento.
[7] Vinculante não é somente o teor interpretativo-descritivo e imperativo da súmula, mas também os fundamentos invocados na sua edição, com relação ao núcleo do procedente. A edição, revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante depende sempre de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros da Corte em sessão plenária, o que equivale, em regra, a 8 (oito) ministros. O art. 3º apresenta o rol de legitimados para a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. De se observar que na redação final da lei foram excluídos os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e o Advogado-Geral da União, que figuravam na redação original.
[8] O referido diploma legal de 1939 teve o mérito de se inspirar nas mais modernas doutrinas europeias da época, introduzindo importantes inovações em nosso ordenamento processual, como o princípio da oralidade e a combinação do princípio dispositivo e do princípio do juiz ativo, permitindo uma maior agilidade nos procedimentos.
[9] Vulgarmente a palavra súmula significa o sinônimo de suma ou resumo, mas juridicamente significa um enunciado sobre a jurisprudência dominante no tribunal. O que se publica do acórdão, verdadeiramente, é o seu dispositivo, e não propriamente a sua súmula. O dispositivo do acórdão representa o fechamento do silogismo iniciado com o relatório e desenvolvido pela motivação, isto é, é a resposta com que se nega ou dá provimento ao recurso. É essa conclusão que deverá ser divulgada na imprensa oficial, para que a parte compreenda desde logo se venceu ou se foi vencida na demanda.
[10] A decisão judicial sob a forma de uma súmula vinculante passa a se tornar, ao lado da lei, fonte formal do direito. A palavra súmula, criada no direito brasileiro no ano de 1963, pelo então Ministro Victor Nunes Leal, passa a ganhar agora um duplo sentido. Podemos falar em súmula persuasiva, ou seja, aquela que tem por objetivo influenciar outras decisões, e em súmula vinculante, entendida como aquela dotada de força obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário e para o Poder Executivo. Em regra, as súmulas não são vinculantes. Vale lembrar, inclusive, que nenhuma das súmulas editadas pelo STF até o advento da presente Lei tem efeito vinculante. Para que sejam vinculantes, as súmulas terão que seguir todo o procedimento adiante descrito. A base teórica da súmula vinculante repousa na doutrina americana conhecida como stare decisis, que se fundamenta nos princípios da isonomia, respeito à coisa julgada, economicidade e previsibilidade das decisões judiciais.
[11] Não nasceu o Estado Constitucional moderno, permita-se-nos o truísmo, de uma sentada só. Foi fruto de lenta evolução dos costumes das sociedades políticas, as quais nem sempre caminhavam no mesmo diapasão. Fatores de toda ordem, sociais, geográficos, culturais, seguramente contribuíram para que essa caminhada não se processasse da mesma maneira. Não é desprezível, por exemplo, o registro de a Inglaterra, até por sua condição insular, ter desenvolvido uma monarquia parlamentar, ou experimentado uma curta República, quando no continente vigorava uma monarquia absolutista.
[12] Há uma crescente simpatia pelo common law o que pode ser taxado de commonlawlização do direito brasileiro principalmente a partir da constatação da importância que a jurisprudência, prestigiando a função criadora do juiz. Também é crescente o fenômeno a que chamamos de “justiça negociada”, pois na maioria das vezes ocorre o acordo entre as partes, como meio de resolução do mérito, evitando-se enfim o julgamento do pedido .Acreditamos que deve existir prudência ao encarar a chamada interação[9] entre os dois sistemas, respeitando-se as peculiaridades de cada país. Não basta as meras reformas legislativas e sucessivas, mas busca-se a autêntica mudança de ideologia, principalmente para conferir ao Poder Judiciário o poder de pacificação do convívio social, com a garantia de acesso à justiça e da cidadania resgatada.