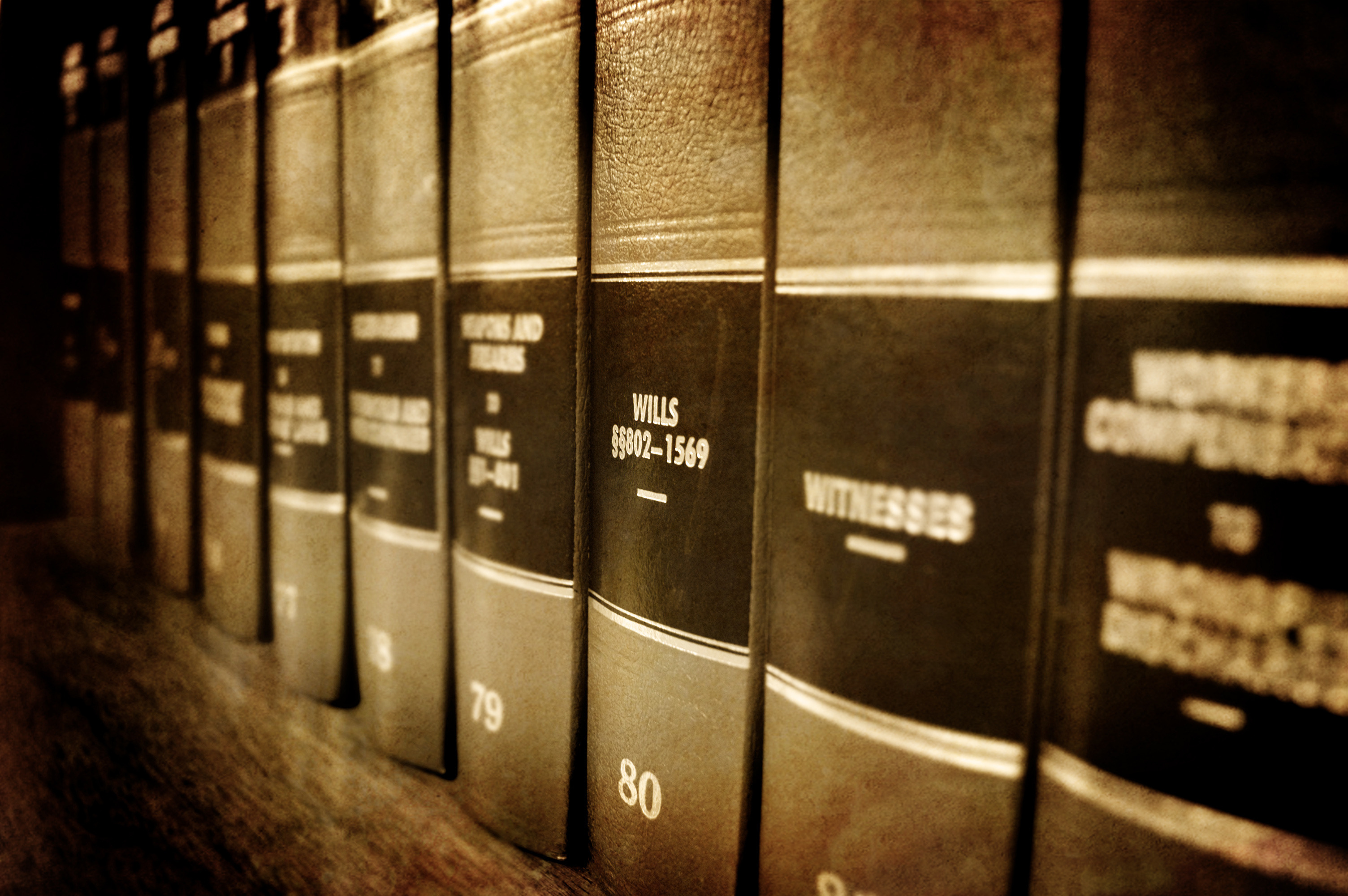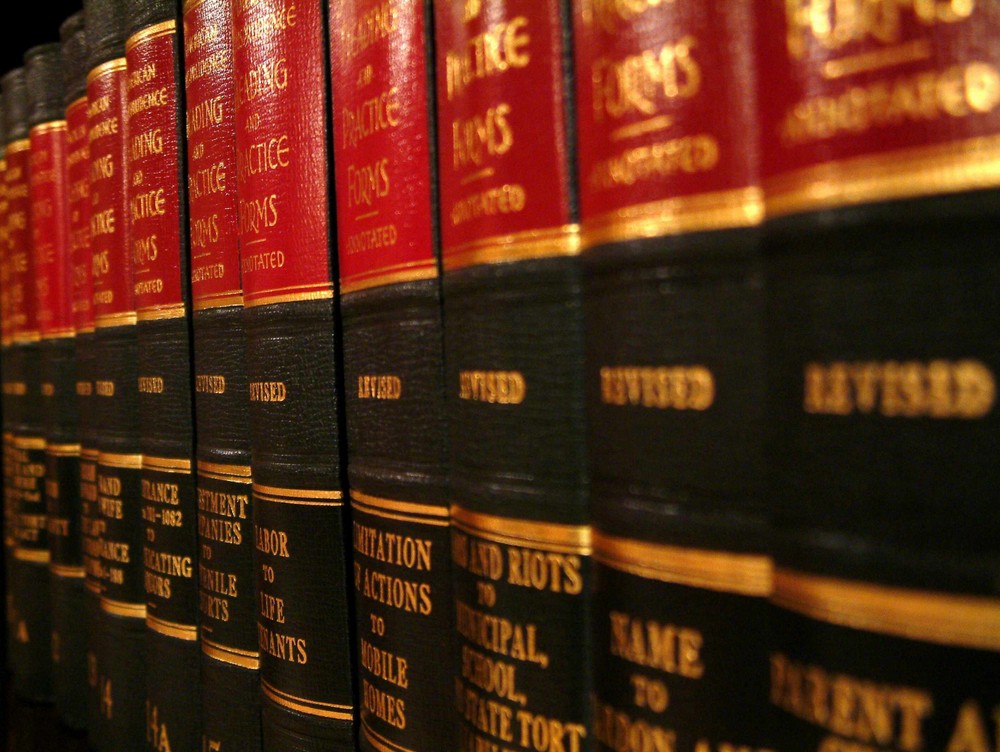Verificando tamanho mal que a Alienação Parental pode causar às suas vítimas, a Lei estabeleceu medidas coercitivas aos alienadores, desde a advertência até a alteração da guarda e a suspensão do poder familiar, cabendo ao julgador decidir quais serão aplicadas.
Introdução
O presente artigo, tem por objetivo tratar sobre a Síndrome da Alienação Parental, sob a análise da problemática jurídica e psicológica ocasionadas a criança e ao adolescente.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foram utilizados livros, artigos e publicações relacionadas à dinâmica familiar que levassem à síndrome, identificação e visões nas áreas de Psicologia e Direito.
Em um primeiro momento, será abordada a questão conceitual de acordo com a doutrina, bem como o seu surgimento no âmbito familiar, sob o enfoque de alguns juristas.
Em um segundo momento, por se tratar de um tem a de extrema relevância, consistirá em identificar e analisar os elementos essenciais à configuração de práticas alienantes e quais suas consequências com relação às questões jurídicas e psicológicas, em especial a criança que sofre a alienação.
Por fim, serão abordadas as medidas cabíveis ao alienador de acordo com a legislação pátria, que possam impedir o avanço do problema, e formas de evitar o sofrimento de crianças e adolescentes a fim de que se tornem adultos saudáveis.
Definição e origem no âmbito familiar
A Síndrome de Alienação Parental, também denominada como SAP é um termo proposto em 1985 por Richard Gardner, psicólogo americano, sendo utilizada para os casos em que um dos genitores, “treina” a criança para romper laços afetivos com outro cônjuge, ocasionando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação a um dos genitores.
Segundo Gardner, a SAP pode ser definida como: “um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou negligencia parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável”.[1]
Assim, a SAP consistiria em um processo de programação da criança para que odeie um dos genitores, sem justificativa, de modo que a própria criança ingressa na trajetória de desmoralização desse mesmo genitor.
A Síndrome de Alienação Parental é um tema bastante complexo e polêmico que vem despertando atenção de vários profissionais tanto da área jurídica como da área da saúde, pois é uma prática que vem sendo denunciada de forma recorrente. É um tema também de interesse público e que se encontra atualmente em evidência na mídia.
Segundo lição de Maria Berenice Dias, a Síndrome da Alienação Parental, também costuma ser chamada de “implantação de falsas memórias”[2]. De acordo com a sua análise, sua origem está ligada à intensificação das estruturas de convivência familiar, o que fez surgir, em consequência, maior aproximação dos pais com os filhos. Assim, quando da separação dos genitores, passou a haver entre eles uma disputa pela guarda dos filhos, algo impensável até algum tempo atrás.
Nas palavras de Maria Berenice Dias, ainda era natural que antigamente, os filhos ficarem sob a guarda da mãe. Ao pai restava somente o direito de visitas em dias predeterminados, normalmente em fins-de-semana alternados. Como encontros impostos de modo tarifado não alimentam o estreitamento dos vínculos afetivos, a tendência é o estreitamento da cumplicidade que só a convivência traz. Afrouxando-se os elos de afetividade, ocorre o distanciamento, tornando as visitas rarefeitas. Com isso, os encontros acabam protocolares: uma obrigação para o pai e, muitas vezes, um suplício para os filhos.[3]
Todavia, com o passar dos anos e consequente evolução do conceito de família, o cenário atual passou a ser outro. Graças ao tratamento interdisciplinar que vem recebendo o Direito de Família, passou-se a emprestar maior atenção às questões de ordem psíquica, permitindo o reconhecimento da presença de dano afetivo pela ausência de convívio paterno-filial.
A evolução dos costumes, que levou a mulher para fora do lar, convocou o homem a participar das tarefas domésticas e a assumir o cuidado com a prole. Assim, quando da separação, o pai passou a reivindicar a guarda da prole, o estabelecimento da guarda conjunta, a flexibilização de horários e a intensificação das visitas. No entanto, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge.
Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. Para isso cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. Trata-se então de verdadeira campanha para desmoralizar o genitor. O filho é utilizado como instrumento da agressividade direcionada ao parceiro. A mãe monitora o tempo do filho com o outro genitor e também os seus sentimentos para com ele.
O âmbito familiar é considerado como o primeiro ambiente socializador de todo indivíduo. É nele que o indivíduo passa a exercer papel fundamental no decorrer de sua trajetória[4]. É no contexto familiar que experiências vivenciadas quando criança contribuem diretamente para a sua formação enquanto adulto. Vale enfatizar que no ambiente familiar o indivíduo vai passar por uma série de experiências genuínas em termos de afeto, dor, medo, raiva e inúmeras outras emoções, que possibilitarão um aprendizado essencial para a sua atuação futura.[5]
Desde o primeiro ano de vida da criança o desenvolvimento emocional tem lugar para a evolução da personalidade e do caráter. E há algo na mãe de um bebê que a torna qualificada para proteger seu filho nesta fase de vulnerabilidade, e que a faz capaz de contribuir positivamente com as claras necessidades da criança. Mas a mãe só é capaz de desempenhar este papel sentindo-se segura e amada, em sua relação com o pai da criança e com a própria família, e ao sentir-se aceita.[6] Assim, a família é considerada um ciclo vital do qual trará algumas consequências e interferências no aspecto emocional, assim como na construção da identidade da criança.
O ambiente familiar é o responsável por formar um ser humano que sinta que a vida vale a pena ser vivida. Os problemas psíquicos seriam, portanto, resultados de falhas graves nas etapas iniciais do desenvolvimento. Torna-se importante a harmonia do casal no desenvolvimento da criança.
A união dos pais e/ou seus cuidadores mantém para a criança um contexto através do qual ela possa encontrar a si mesmo (seu eu) no mundo, e uma relação entre ela e o mundo. Segundo Baltazar[7], a criança necessita de seu grupo familiar para sobreviver, desenvolver todas as etapas de crescimento e adquirir diversas habilidades.
A seguir, serão analisadas as principais características e seus estágios, consoante será observado.
Principais características e seus estágios
Em relação as principais características, para fins de reconhecimento da Síndrome da Alienação Parental, são observados sintomas tanto no comportamento do filho alienado quanto do genitor alienador.
Segundo Gardner, “a SAP é caracterizada por um conjunto de sintomas que aparecem na criança geralmente juntos, especialmente nos tipos moderado e severo. Esses incluem: i) uma campanha denegritória contra o genitor alienado; ii) racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação; iii) falta de ambivalência; iv) o fenômeno do “pensador independente”; v) apoio automático ao genitor alienante no conflito parental; vi) ausência de culpa sobre a crueldade a e/ou a exploração contra o genitor alienado; vii) a presença de encenações ‘encomendadas’; viii) propagação da animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor alienado.”[8]
A Síndrome de Alienação Parental (SAP), tem como característica quando, a qualquer preço, o genitor guardião que quer se vingar do ex cônjuge, através da condição de superioridade que detêm, tentando fazer com que o outro progenitor ou se submeta às suas vontades, ou então se afaste dos filhos.
No atual momento social brasileiro, ressalta-se a importância da análise do termo SAP conforme o art. 2º da Lei nº 12.318/2010, que dispõe sobre os atos de alienação parental:
Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.[9]
A síndrome da alienação parental é exercida em vários estágios, quais sejam, leve, moderado e grave. Esta divisão de categorias progressivas está relacionada com as etapas de execução da Alienação Parental e o grau de comprometimento psicológico do filho alienado.[10]
O estágio leve é onde a alienação é iniciada, sendo sua característica basilar a sutileza, o filho começa a receber informações negativas sobre o genitor alienado do genitor alienador. Inicia o processo de desconstituição da figura do genitor alienado minuciosa e gradativamente, passando o filho a desconfiar e levemente repulsar o genitor alienado, embora ainda haja afeto.
O estágio moderado leva o filho alienado a posicionar-se contrário às decisões do genitor alienado e repulsá-lo com maior clareza, deixando explícito o desejo de afastamento, valendo como modelo ideal o genitor alienador e o círculo a que este pertence.
O estágio grave é denotado quando o filho alienado não aceita a proximidade do genitor alienado e quando o faz, deixa claro que o afeto está se transformado em ódio, repulsa. Neste último estágio o comportamento do filho caracteriza a síndrome.
Assim, verifica-se que essa síndrome, resulta da programação da criança, por parte de um dos pais, para que rejeite e odeie o outro, somada à colaboração da própria criança – tal colaboração é assinalada como fundamental para que se configure a síndrome.
A SAP, pode ser considerada ainda como mais do que uma simples lavagem cerebral, pois inclui fatores conscientes e inconscientes que motivariam um genitor a conduzir seu filho ao desenvolvimento dessa síndrome, além da contribuição ativa desse na difamação do outro responsável.
Dessa forma, observa-se que a Síndrome da Alienação Parental – SAP, é uma das inúmeras maneiras que o genitor possui para descontar os seus sentimentos em relação ao outro genitor, fazendo com que a criança ou adolescente desenvolva de maneira leve, moderada ou severa, o pânico em estar na presença do outro genitor, de modo que o filho se afaste dele e crie situações de pânico, depressão e problemas psicológicos em relação ao genitor alienado.
Reflexos da SAP no comportamento da criança
A instalação da SAP representa um atenuado vício psíquico, transparente no comportamento do filho através da instabilidade emocional, iniciada com a ansiedade, nervosismo e depressão, podendo facilmente levar a atitudes agressivas, transtorno de identidade e incapacidade de adaptação a ambiente normal.
Uma vez consumada a alienação e a desistência do alienado de estar com os filhos, tem lugar a síndrome da alienação parental, sendo certo que as sequelas de tal processo patológico comprometerão, definitivamente, o normal desenvolvimento da criança.[11]
Como a criança é levada a odiar o outro genitor, acaba perdendo um vínculo muito forte com uma pessoa na qual é importante para a sua vida, com consequências para si e também para o pai/mãe vítima.
De acordo com François Podevyn[12]:
“O vínculo entre a criança e o genitor alienado será irremediavelmente destruído. Com efeito, não se pode reconstruir o vínculo entre a criança e o genitor alienado, se houver um hiato de alguns anos. A criança é levada a odiar e a rejeitar um genitor que a ama e do qual necessita.”
Os efeitos nas crianças vítimas da Síndrome de Alienação Parental podem ser uma depressão crônica, incapacidade de adaptação em ambiente psicossocial normal, transtornos de identidade e de imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e às vezes suicídio. Estudos têm mostrado que, quando adultas, as vítimas da Alienação tem inclinação ao álcool e às drogas e apresentam outros sintomas de profundo mal estar.[13]
O sentimento incontrolável de culpa se deve ao fato de que a criança, quando adulta, constata que foi cúmplice inconsciente de uma grande injustiça ao genitor alienado.[14] O filho alienado tende a reproduzir a mesma patologia psicológica que o genitor alienador
Mesmo cessada a síndrome, seus efeitos continuam e muitas vezes são consolidados em parte ou no todo, portanto, há necessidade de um trabalho multidisciplinar, envolvendo psicólogos, médicos, assistente social e, conforme a mais nova corrente que protege os direitos da criança e do adolescente, a presença de um antropólogo, sem desprezar o apoio familiar do genitor alienado.
Observação ímpar é necessária para as atitudes do genitor alienado e de seus familiares quando da recuperação da guarda do filho, acometido pela SAP, no sentido em que deverá ser evitada a reversão da alienação.
Análise dos meios punitivos aplicáveis ao alienador
Com a sanção, em 2010, da Lei 12.318[15], o termo se popularizou e aumentaram os casos na Justiça que envolvem pais ou mães que privam seus filhos do contato com o outro genitor. A lei prevê punições para quem comete a alienação parental que vão desde acompanhamento psicológico e multas até a perda da guarda da criança.
Identificar a Alienação Parental não é simples, sendo de difícil constatação. Será imprescindível a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial, como subsídio à decisão judicial, processo que deverá ser célere para proteger a integridade do filho, o contrário poderá ser instrumento do genitor alienador para o êxito do seu intento.
A Alienação Parental e principalmente a SAP, ainda não são bem recepcionadas pelo mundo jurídico, é uma discussão nova, embora presente e exacerbada nestes últimos anos de aceleradas mudanças nas relações e tipos de família.
A demonstração judicial para que o juiz coíba, impedindo essa prática, não poderá ser postergada, a demora poderá enfatizar o velho brocado: “ganhou, mas não levou”. Isto porque poderá já ter produzido efeitos irreversíveis psicossociais na criança alienada.
A equipe multidisciplinar tem o prazo de 90 dias[16] para apresentar um laudo em relação à ocorrência de alienação. Se constatada a prática, o processo passa a ter tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência as medidas provisórias visando a preservação da integridade psicológica da criança, inclusive para assegurar a sua convivência com o genitor e efetivar a reaproximação de ambos.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são contemplados mecanismos de punição, tais como o estabelecimento de multa, entre outros, não se mostrando “necessária a inclusão de sanção de natureza penal, cujos efeitos poderão ser prejudiciais à criança ou ao adolescente, detentores dos direitos que se pretendem assegurar com o projeto”[17]
Ainda, de acordo com a Lei 12.318, em seu artigo 6º, são previstos os meios de punição, os quais vão desde uma simples advertência ao genitor até a ampliação do regime de convivência em favor do genitor alienado, estipulação de multa ao alienador, determinação de acompanhamento psicológico, alteração da guarda e suspensão da autoridade parental.[18]
Embora a criminalização da alienação parental já tenha sido vetada uma vez, um deputado federal, acreditando que as medidas já previstas não são suficientes, apresentou um Projeto de Lei (Projeto Lei nº 4488/16) que sugere o acréscimo de algumas disposições sobre o tema. Dentre elas está a punição do alienador mediante pena de detenção (prisão) de três meses a três anos.
Igualmente, o Projeto de Lei prevê situações que podem ser consideradas agravantes – para que a pena seja aumentada –, bem como disciplina que não só o alienador, mas também aqueles que participarem direta ou indiretamente deverão sofrer as mesmas sanções. No entanto, devemos frisar que tais alterações ainda estão sob análise na Câmara dos Deputados, havendo divergência de opiniões.[19]
O tema ainda aborda grandes discussões, considerando a necessidade de se avaliar efetivamente os efeitos de uma condenação criminal, diante de um conflito familiar instaurado.
A abordagem do tema requer muita atenção e cuidado, a fim de que sejam evitados danos ainda maiores aos envolvidos e, principalmente às crianças e adolescentes vítimas dessas situações.
Conclusão
Através do presente estudo, verifica-se que todos sofrem com essa síndrome, o genitor alienador, o genitor alienante e a(s) criança(s). E é esta última que deve ser tratada com mais cuidado nessa situação, pois as sequelas que a síndrome deixa na criança podem segui-la durante toda a vida, influenciando em seu desenvolvimento.
Para que a criança seja uma boa mãe/pai de família é necessário que ela tenha tido uma boa estrutura familiar. A Alienação Parental carece de uma definição única, pois sua existência, etiologia e características, em particular como uma síndrome, tem sido objeto de debate ainda não encerrado.
Diante de toda campanha feita pelo alienante em relação ao genitor alienado, é impossível que os filhos saiam sem nenhuma sequela ou trauma psicológico dessa situação. As vítimas passam a apresentar comportamentos manipuladores, mentirosos, exprimindo falsas emoções e também passam a odiar o alienado. Quando adultas, essas pessoas podem apresentar problemas como depressão, comportamento hostil, comportamento agressivo e indícios suicidas
Verificando tamanho mal que a Alienação Parental pode causar às suas vítimas, a Lei estabeleceu medidas coercitivas aos alienadores, desde a advertência até a alteração da guarda e a suspensão do poder familiar, cabendo ao julgador decidir quais serão aplicadas aos casos concretos.
O trabalho em apreço, não visa esgotar a temática, no entanto, tem como perspectiva propagar conhecimentos sobre o tema em questão, alertando a sociedade da importância de se preservar as crianças e os adolescentes de conflitos emocionais desgastantes, além de buscar advertir o genitor guardião a não descarregar nos filhos o ódio pelo ex-cônjuge, ensinando que o fim do casamento não significa que o genitor não-guardião tenha de ser penalizado com a perda do poder familiar.
Referências
BALTAZAR, José Antônio. Estrutura e dinâmica das relações familiares e sua influência no desenvolvimento infanto – juvenil: o que a escola sabe disso?/ 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) –UNOESTE, São Paulo. Disponível em: . Acesso em: 18 de Março de 2018.
BRASIL. Novo Código Civil Brasileiro. Legislação Federal. Disponível em: Acesso em: 25 de Fevereiro de 2018
DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso?. Disponível em www.mbdias.com.br. Acesso em 21 de Março de 2018
GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP)? Tradução de Rita Rafaeli. Disponível em: <http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 21 de Março de 2018
GOIS, Marilia Mesquita. Alïenação Patental. Disponível em https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5841/Alienacao-parental. Acesso em 12 de Março de 2018.
LOWENSTEIN, LF. O que pode ser feito para diminuir a implacável hostilidade que leva à Síndrome de Alienação Parental?. Disponível em: . Acesso em 17 Mar de 2018.
MADALENO, Ana Carolina Carpes. MADALENO, Rolf. Síndrome da Alienação Parental: importância da detecção. 2ª Ed. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2014.
PASSERINI, Jéssica; SOZO Magali Helene. A influência da família no desenvolvimento emocional de crianças sob situação de risco: um olhar da terapia ocupacional. Goiás, 2008. Disponível em: . Acesso em: 15 de Março de 2018.
PRATTA, E.M.M; SANTOS, M.A. Família e adolescência: a influência do contexto familiar no desenvolvimento psicológico de seus membros Psicol. Estud. v.12, n.2, Maringá, maio/ago. 2007.
PODEVYN, François. Síndrome de alienação parental. Trad. para Português: APASE Brasil – (08/08/01) Disponível em: http://www.apase.com.br. Acesso em: 02 de Fev de 2018.
ROSA, Felipe Niemezewski. A síndrome de alienação parental nos casos de separações judiciais no direito civil brasileiro. Monografia. Curso de Direito. PUCRS, Porto Alegre, 2008. Disponível em , acesso em:17 Fev de 2018.
WINNICOTT, Donald W. A família e o desenvolvimento individual. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
[1] GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP)? Tradução de Rita Rafaeli. Disponível em: <http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 21 de Março de 2018
[2] DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso?. Disponível em www.mbdias.com.br. Acesso em 21 de Março de 2018.
[3] DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso?. Disponível em www.mbdias.com.br. Acesso em 21 de Março de 2018
[4] PASSERINI, Jéssica; SOZO Magali Helene. A influência da família no desenvolvimento emocional de crianças sob situação de risco: um olhar da terapia ocupacional. Goiás, 2008. Disponível em: . Acesso em: 15 de Março de 2018.
[5] PRATTA, E.M.M; SANTOS, M.A. Família e adolescência: a influência do contexto familiar no desenvolvimento psicológico de seus membros Psicol. Estud. v.12, n.2, Maringá, maio/ago. 2007.
[6] WINNICOTT, Donald W. A família e o desenvolvimento individual. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
[7] BALTAZAR, José Antônio. Estrutura e dinâmica das relações familiares e sua influência no desenvolvimento infanto – juvenil: o que a escola sabe disso?/ 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente Prudente: UNOESTE, São Paulo. Disponível em: . Acesso em: 18 de Março de 2018.
[8] GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP)? Tradução de Rita Rafaeli. Disponível em: <http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 21 de Março de 2018
[9] BRASIL. Novo Código Civil Brasileiro. Legislação Federal. Disponível em: Acesso em: 25 de Fevereiro de 2018
[10] GOIS, Marilia Mesquita. Alïenação Patental. Disponível em https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5841/Alienacao-parental. Acesso em 12 de Março de 2018.
[11] ROSA, Felipe Niemezewski. A síndrome de alienação parental nos casos de separações judiciais no direito civil brasileiro. Monografia. Curso de Direito. PUCRS, Porto Alegre, 2008. Disponível em , acesso em:17 Fev de 2018.
[12] PODEVYN, François. Síndrome de alienação parental. Trad. para Português: APASE Brasil – (08/08/01) Disponível em: http://www.apase.com.br. Acesso em: 02 de Fev de 2018.
[13] PODEVYN, François. Síndrome de alienação parental. Trad. para Português: APASE Brasil – (08/08/01) Disponível em: . Acesso em: 16 Mar de 2018
[14] LOWENSTEIN, LF. O que pode ser feito para diminuir a implacável hostilidade que leva à Síndrome de Alienação Parental?. Disponível em: . Acesso em 17 Mar de 2018.
[15] Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
[16] § 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada.
[17] MADALENO, Ana Carolina Carpes. MADALENO, Rolf. Síndrome da Alienação Parental: importância da detecção. 2ª Ed. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2014.
[18] Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I – declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;
II – ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;
III – estipular multa ao alienador;
IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;
V – determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;
VI – determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;
VII – declarar a suspensão da autoridade parental.
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar.
[19] PL 4488/2016. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077676