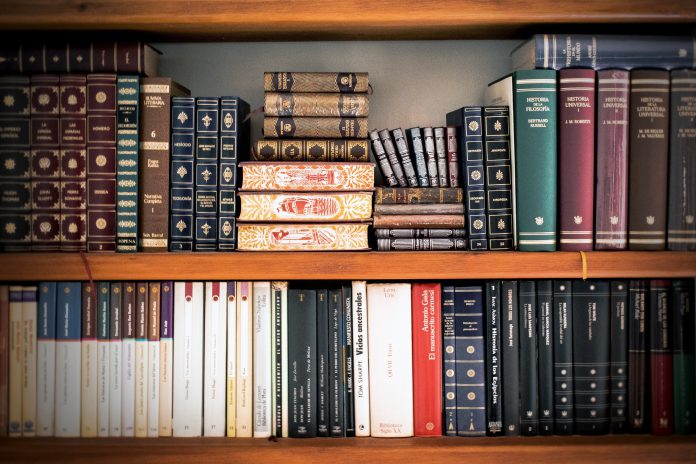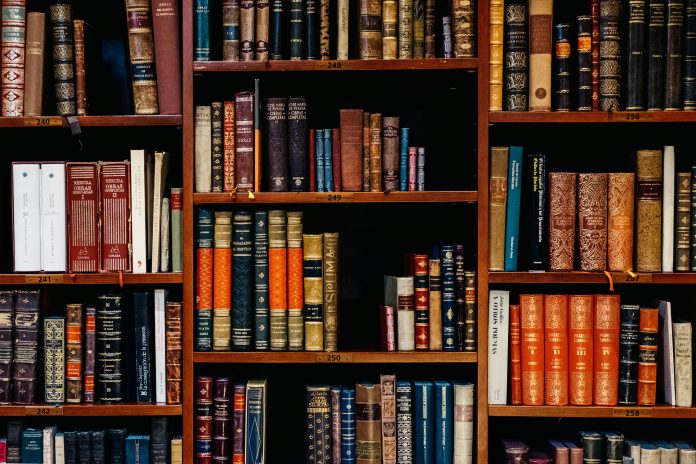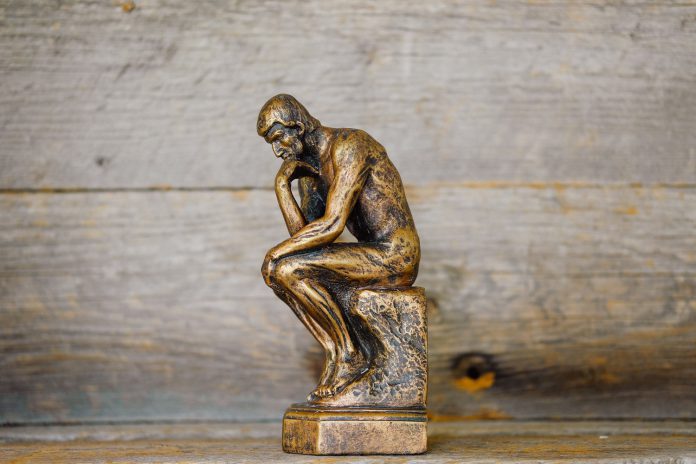RESUMO
O presente artigo tem por objetivo expor a respeito das condições da ação previstas no CPC/73 trazendo o conceito do direito de ação; as principais teorias do direito de ação previstas na doutrina; quais são as condições da ação elencadas, bem como verificar se com a entrada em vigor do CPC/2015 as condições da ação permanecem no novo ordenamento jurídico.
ABSTRACT
The purpose of this article is to explain the conditions of the action foreseen in the CPC/73, bringing the concept of the right action; the main theories of the right of action foreseen in the doctrine; what are the conditions of the action listed, as well as verify that with the entry into force of CPC/15 the conditions of the action remain in the new legal order.
Metodologia: pesquisa bibliográfica, doutrinas, artigos jurídicos, legislação brasileira, julgados.
Sumário: I) Introdução – Conceito do Direito de Ação; II) Teorias da Ação; III) Condições da ação no Código de Processo Civil de 73: Legitimidade – Interesse Processual e Possibilidade Jurídica do Pedido; IV) Condições da ação no CPC/2015 V) Conclusão
I – INTRODUÇÃO – CONCEITO DO DIREITO DE AÇÃO
O Estado, salvo exceções previstas em lei – como exemplo, o esbulho possessório previsto no artigo 1210, § 1º, do Código Civil – proíbe a autotutela, pois invoca para si a solução dos litígios existentes entre as partes envolvidas. As partes têm a oportunidade de resolver suas questões sem a intervenção estatal, se desejarem, porém, diante da impossibilidade poderão se socorrer do Poder Judiciário como uma das formas de resolução. Vale lembrar, que a justiça é inerte e somente agirá após provocação do interessado, conforme preceitua o artigo 2º do CPC/15 que diz: O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.[1]
Então, uma vez que o litígio não foi solucionado amigavelmente entre as partes pela autocomposição como a conciliação, mediação, arbitragem no qual são incentivados pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, poderão se valer do direito de ação.
Ainda, no artigo 5º, inciso XXXIV, letra a, da CRFB/88 dispõe que: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, bem como, no artigo 3º, do CPC/15 ratificou essa garantia constitucional.
“O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. ”[1]
Importante, consignar, o conceito do direito de ação. Segundo o professor Vicente Grego Filho[2] “O direito de ação é o direito subjetivo público de pleitear ao Poder Judiciário uma decisão sobre uma pretensão. ”
Para a professora Ada Pelegrini Grinover[3] “Ação, portanto, é o direito ao exercício da atividade jurisdicional (ou o poder de exigir esse exercício). Mediante o exercício da ação provoca-se a jurisdição, que por sua vez se exerce através daquele complexo de atos que é o processo. ”
Para finalizar o conceito da ação com o professor Humberto Theodoro Jr[4] “Daí por que, modernamente, prevalece a conceituação da ação como um direito público subjetivo exercitável pela parte para exigir do Estado a obrigação da prestação jurisdicional, pouco importando seja esta de amparo ou desamparo à pretensão de quem o exerce. É por isso abstrato. E, ainda, é autônomo, porque pode ser exercitado sem sequer relacionar-se com a existência de um direito subjetivo material, em casos como o da ação declaratória negativa. É finalmente, instrumental, porque se refere sempre a decisão a uma pretensão ligada a direito material (positiva ou negativa). Em suma: a autonomia do direito de ação consiste em ser ele outro direito, distinto do direito material disputado entre os litigantes; e sua abstração se dá pelo fato de poder existir independente da própria existência do direito material controvertido.”
II – TEORIAS DA AÇÃO
Várias teorias foram formuladas acerca da natureza da ação, entretanto, vamos elencar neste tópico as principais teorias registradas pela doutrina: Teoria Civilista ou Clássica ou Imanentista; Teoria da Ação como direito autônomo que se divide em: Teoria do Direito Concreto à Tutela Jurídica e Teoria do Direito Abstrato de Agir; Teoria Eclética; Teoria da Asserção.
1) A Teoria Civilista ou Teoria Clássica ou Teoria Imanentista defendia que o direito de ação e o direito material estavam intimamente ligados, ou seja, o direito de ação era visto como o próprio direito material depois de violado.
Como afirmou o ilustre professor Moacyr Amaral dos Santos: “O que caracteriza essa teoria, não obstante as variantes imprimidas por seus adeptos, é que se prende indissoluvelmente ao direito que por ela se tutela. Direito ou qualidade deste, direito em movimento como consequência de sua violação, como diz Savigny, direito em seu exercício, no dizer de Vinnius, direito em pé de guerra, reagindo contra sua ameaça ou violação, segundo Unger, direito elevado à segunda potência, conforme Mattirolo, uma posição do direito, como disse Filomusi Guelfi, propriedade, virtude, qualidade, elemento, função, anexo do direito, a ação não é outra coisa senão o próprio direito subjetivo material. Daí três consequências inevitáveis: não há ação sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a natureza do direito. ” [5]
Posteriormente, na Alemanha foi instaurada a polêmica entre Windscheid e Muther que diferenciou o direito de ação com o direito material se contrapondo a teoria clássica.
Adolpho Whach, na Alemanha, em 1885, defendeu o direito de ação como direito autônomo do direito civil surgindo a Teoria do direito concreto à tutela jurídica: “segundo Whach, a ação, direito autônomo com base no direito subjetivo material ou num interesse, se dirige contra o Estado e contra o adversário, visando à tutela jurisdicional. Direito subjetivo público contra o Estado, como obrigado à prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, a tutela jurisdicional deverá conter-se numa sentença favorável, o que quer dizer que o direito de ação depende da concorrência de requisitos e direito material, as chamadas condições da ação, e de direito formal, os chamados pressupostos processuais, sem os quais não se concebe uma tal sentença e não haverá ação. ”[6]
Chiovenda, seguidor de Watch, filiado a teoria concreta, defende a ação como um direito potestativo autônomo, com algumas divergências “…para o mestre italiano, a ação não se dirige contra o Estado, mas contra o adversário: é o direito de provocar a atividade jurisdicional contra o adversário, ou mais precisamente, em relação ao adversário. ” [7]
Como bem registra o professor Vicente Greco em seus ensinamentos: “ Chiovenda demostrou, em seu trabalho sobre a declaração negativa, que alguém poderia pleitear ao Judiciário a declaração de que não existe uma relação jurídica de direito material entre os dois sujeitos, de modo que o direito de pleitear (direito de ação) é autônomo e independente do direito material ou relação jurídica material eventualmente existente entre as partes. ”[8]
Daniel Neves[9] esclarece que: “Apesar do avanço quando comparada com a teoria imanentista, a teoria concreta defende que o direito de ação só existe se o direito material existir, condicionando a existência do primeiro à existência do segundo. Reconhece-se a autonomia do direito de ação, mas não a sua independência, considerando que o direito de ação dependeria do direito material.”
Já a Teoria do Direito Abstrato de Agir iniciou com Degenkolb na Alemanha, bem como na Hungria com Plósz no qual “Segundo esta linha de pensamento, o direito de ação independe da existência efetiva do direito material invocado: não deixa de haver ação quando uma sentença justa nega a pretensão do autor, ou quando uma sentença injusta a acolhe sem que exista na realidade o direito subjetivo material. A demanda ajuizada pode ser até mesmo temerária, sendo suficiente, para caracterizar o direito de ação, que o autor mencione um interesse seu, protegido em abstrato pelo direito. É com referência a esse direito que o Estado está obrigado a exercer a função jurisdicional, proferindo uma decisão, que tanto poderá ser favorável como desfavorável. Sendo a ação dirigida ao Estado, é este o sujeito passivo de tal direito.” [10]
A Teoria Eclética tem como precursor Enrico Tulio Liebman e foi adotada pelo CPC/1973 que preceitua “a existência do direito de ação não depende da existência do direito material, mas do preenchimento de certos requisitos formais chamados de “condições da ação”. Para esta teoria, as condições da ação não se confundem com o mérito, ainda que sejam aferidas à luz da relação jurídica de direito material discutida no processo, sendo analisadas preliminarmente e, quando ausentes, geram uma sentença terminativa de carência de ação (art. 267, VI, do CPC) sem a formação de coisa julgada material. Estando presentes no caso concreto, o juiz profere sentença de mérito, que tanto poderá acolher como rejeitar o pedido do autor. Tratando-se de matéria de ordem pública não há preclusão, entendendo os defensores da teoria eclética que a qualquer momento do processo e com qualquer grau de cognição o juiz deve extinguir o processo sem resolução de mérito por carência de ação se entender ausente uma das condições da ação.”[11]
Por derradeiro na Teoria da Asserção ou Teoria Della Prospettazione as condições da ação são aferidas in statu assertionis, ou seja, com a afirmação do autor em sua petição inicial apresentada.
Vale registrar que “…caso o juiz precise no caso concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 269, I, do CPC), com a geração de coisa julgada material” [12]
Na jurisprudência há vários julgados com referência a Teoria da Asserção, inclusive o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado esta teoria[13].
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – LEIS N. 8.625/93 E N. 7.347/83 – DANO AMBIENTAL – CERAMISTAS – EXTRAÇÃO DE BARRO – ALVARÁ – LICENCIAMENTO – PROJETO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO NO IBAMA – INTERESSE DO MP NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO – POSSIBILIDADE. 1 – É o Ministério Público parte legítima para propor ação civil pública na defesa do patrimônio público, aí entendido os patrimônios histórico, paisagístico, cultural, urbanístico, ambiental etc., conceito amplo de interesse social que legitima a atuação do parquet. 2 – A referida legitimidade do Ministério Público para ajuizar tais ações é prevista in satus assertionis, ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante na inicial (teoria da asserção). 3 – Ainda que exista acordo realizado no âmbito administrativo (IBAMA) com as empresas demandadas, resta o interesse de agir do Ministério Público na busca da comprovação da exata extensão dos danos e na reparação. Instâncias administrativa e judicial que não se confundem, de modo a não gerar obstáculo algum para o exercício da jurisdição. 4 – Não viola o art. 535 do CPC, acórdão que adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que conclua contrariamente ao interesse do recorrente. Recurso especial provido em parte, para reconhecer a legitimidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o interesse de agir na ação civil pública. Determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que prossiga no julgamento, enfrentando o mérito da questão como entender de direito. (REsp 265.300/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 2.10.2006) grifo nosso
Segue, outrossim, decisão do TJRJ:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DIREITO A MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. CABIMENTO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva que deve ser rejeitada diante da aplicação da teoria asserção. Ademais, a autora detém legitimidade, já que a sua esfera jurídica está sendo atingida por ato praticado pelas partes. Legitimidade passiva da segunda apelante, considerando que a mesma integra o mesmo conglomerado (UNIMED). 2. No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar se a conduta da ré, que cancelou unilateralmente o plano de saúde coletivo, configura falha na prestação do serviço. 3. Em que pese ser autorizada a rescisão unilateral, a Resolução nº 19 de 25/03/1999 do CONSU, em seu art. 17 preceitua que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 4. A não disponibilização da opção de migrar para plano individual ao beneficiário de plano de saúde coletivo no caso de cancelamento configura falha na prestação do serviço. 5. Em que pese ter sido realizada a notificação, a mesma não observou o prazo de 60 dias, evidenciando-se, portanto, a falha no dever de informação. 6. Dano moral manifesto. Condenação em R$ 8.000,00 que não se mostra excessiva. Valor que não se configura como excessivo e incapaz de gerar enriquecimento sem causa do apelado. Precedentes desta Câmara, que demonstram que o dano moral foi fixado de forma parcimoniosa. 7. REsp invocado, não é precedente vinculante, o que afasta a aplicação do artigo 927 do CPC. 8. Manutenção da sentença que se impõe. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJRJ. Acórdão. Processo nº 0016512-50.2019.8.19.0208; Relator (a): Cherubin Helcias Schwartz Júnior. Data do julgamento: 09/03/2021. Data de publicação: 11/03/2021) fonte: site AASP – jurisprudência. Grifo nosso
III) CONDIÇÕES DA AÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 73: LEGITIMIDADE – INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
Como foi exposto anteriormente o Código de Processo Civil de 73 adotou a Teoria Eclética proposta por Liebman no qual defendia que para o exercício do direito de ação era necessário o preenchimento de três condições: legitimidade, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido.
A legitimidade diz respeito as partes (legitimidade ativa e passiva) sendo dividida em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária.
Legitimidade ordinária é a regra. Ocorre quando o próprio titular do direito propõe a ação em juízo, conforme disciplina o artigo 6º do CPC/73: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Vários são os exemplos mencionados na doutrina, aliás os do Professor Vicente Greco[14]: “…Assim, quem pode propor a ação de cobrança de um crédito é o credor, quem pode propor a ação do despejo é o locador, quem pode pleitear a reparação do dano é aquele que o sofreu.” “…o réu da ação de cobrança deve ser o devedor; da ação de despejo, o locatário; da ação de reparação de dano, o seu causador.” (grifo nosso)
Entretanto, a legitimidade extraordinária ocorre, excepcionalmente, nos casos expressamente autorizados. Vale mencionar, dentre outros, o artigo 5º, inciso XXI da CRFB/88, que autoriza a legitimidade extraordinária da associação: “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente”. Nas palavras do Ilustre professor Nelson Nery[15] “Embora o texto constitucional fale em representação, a hipótese é de legitimação das associações para a tutela de direitos individuais de seus associados, configurando verdadeira substituição processual.”
Ainda, no artigo 3º do CPC/73 determina “Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”. A doutrina informa que quando o código prevê que para o réu contestar há necessidade de ter legitimidade gera um equívoco. Excelente posição do professor Costa Machado[16] “O direito de defesa, que se expressa precipuamente pelo direito de oferecer contestação (art.297), não se subordina a nenhuma das condições da ação, mas apenas à circunstância de o réu ter sido citado (art. 213).”
Prosseguindo com o artigo 3º do CPC/73 que prevê além da legitimidade, o interesse processual como mais uma condição da ação. O interesse é analisado na doutrina pelo binômio da necessidade e adequação. De uma maneira simples B devedor de uma quantia em dinheiro para A no qual não paga no prazo estipulado, recebe de A uma notificação extrajudicial para que resolvam essa questão amigavelmente, sob pena de ingressar em juízo e ser aplicada todas as consequências ao devedor diante dos prejuízos causados ao credor, como os juros, custas e despesas processuais, honorários de sucumbência. Diante disso, B efetua o pagamento integral conforme proposto pelo credor. Então, neste caso as partes chegaram em um consenso e resolveram de alguma forma o litígio perdendo-se o interesse processual pelo binômio da necessidade. Ademais, se B não efetuasse o pagamento integral da dívida e A fosse portador de um título executivo não poderia propor um mandado de segurança e sim com uma ação de execução, tendo em vista ser o meio adequado pelo binômio do interesse processual.
Por fim, a última condição da ação é a possibilidade jurídica do pedido em que o pedido não pode ser proibido pelo ordenamento jurídico. Alguns exemplos mais citados pelos doutrinadores: cobrar dívida de jogo previsto no artigo 814 do Código Civil de 2002; o pedido do divórcio era juridicamente impossível até a Emenda Constitucional 9/77 e a Lei 6515/77; bem como a proibição de investigação de paternidade de filho adulterino na constância do casamento do genitor. [17]
Contudo, Liebman revisou suas ideias a respeito das condições da ação como nos esclarece o professor Vicente Greco [18] “ Aliás, Liebman, na última edição do Manuale di diritto processuale civile, não mais enumera a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, ampliando, pois o conceito de interesse processual, especialmente na forma de interesse adequação, considerando como de falta de interesse aquelas hipóteses em que a outra parte da doutrina classifica como de falta de possibilidade jurídica do pedido.”
Portanto, faltando um dos requisitos da ação ocorre a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista que o litígio não foi solucionado pelo poder judiciário e poderá novamente ser proposta a ação após o preenchimento dos requisitos que ensejaram a sua extinção.
- IV) CONDIÇÕES DA AÇÃO NO CPC/2015
A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada como uma das condições da ação no CPC/15, tendo em vista que era prevista expressamente no artigo 267, VI, CPC/73[19], in verbis, extingue-se o processo, sem resolução do mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual, bem como pelo artigo 295, § único, inciso III, CPC/73 que preconizava: considera-se inepta a petição inicial quando: o pedido for juridicamente impossível, no qual nos artigos correspondentes 485, inciso VI e artigo 330 do CPC/15, respectivamente, no qual a previsão expressa não foi reiterada no novo ordenamento.
Pelo atual Código de Processo Civil a possibilidade jurídica do pedido passou a ser parte da análise de mérito, pois uma vez configurada haverá a extinção do processo com julgamento do mérito diferentemente de como ocorria no CPC/73.
Para não restar dúvidas na Exposição de Motivos do CPC/15[20] diz: “Com o objetivo de se dar maior rendimento a cada processo, individualmente considerado, e, atendendo a críticas tradicionais da doutrina, deixou, a possibilidade jurídica do pedido, de ser condição da ação. A sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do novo Código de Processo Civil é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia. ”
Com destaque o julgado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.757.123-SP, como relatora a Ministra Nancy Andrighi[21]: EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE EXAME DOS ELEMENTOS
QUE COMPÕEM O PEDIDO E DA POSSIBILIDADE DE DECOMPOSIÇÃO DO PEDIDO. ASPECTOS DE MÉRITO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONDIÇÃO DA AÇÃO AO TEMPO DO CPC/73. SUPERAÇÃO LEGAL. ASPECTO DO MÉRITO APÓS O CPC/15. RECORRIBILIDADE IMEDIATA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA AALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015, II, CPC/15.
Entretanto, o professor Daniel Amorim[22] observa que: “Por outro lado, nas hipóteses em que a impossibilidade jurídica não deriva do pedido, mas das partes ou da causa de pedir, entendo mais adequado que, mesmo diante da aprovação do dispositivo ora comentado, o juiz continue a extinguir o processo sem a resolução de mérito, agora com fundamento na ausência de interesse de agir, em sua modalidade adequação. Numa cobrança de dívida de jogo, por exemplo, não parece correto o julgamento de improcedência, o que significaria que o direito de crédito alegado pelo autor não existe, o que não condiz com a realidade. Afinal, a vedação no sistema jurídico para a cobrança judicial dessa espécie de dívida não quer dizer que ela não exista. ”
Com a entrada em vigor do CPC/15 doutrinadores divergem se a legitimidade e interesse processual permanecem previstas como condições de ação ou não, pois apesar de constá-las em alguns artigos o termo condições da ação foi retirado da nova lei processual.
O professor Fredie Didier defende que no novo CPC a legitimidade e interesse processual integra os pressupostos processuais. Assim, para ele[23]: “A legitimidade e o interesse passarão, então, a constar da exposição sistemática dos pressupostos processuais de validade: o interesse, como pressuposto de validade objetivo intrínseco; a legitimidade, como pressuposto de validade subjetivo relativo às partes. ”
Contudo, a corrente majoritária como Alexandre Câmara[24] alega que permanecem as condições da ação no CPC/15: “A doutrina brasileira – e isto sequer precisa ser demonstrado, dada a notoriedade do ponto – sempre tratou a ação como um dos institutos fundamentais do direito processual, autônomo e distinto do processo. Consequência disso é a necessidade de distinguirem-se as “condições da ação”, que a esta (e a seu exercício) dizem respeito e os pressupostos processuais, requisitos de existência e validade do processo (e só deste).”
Outrossim para justificar que a legitimidade e interesse permanecem como condições da ação a fundamentação pela doutrina se dá na previsão do artigo 17, CPC/15: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” que corresponde ao artigo 3º do CPC/73, bem como pelo artigo 485, inciso VI, CPC/15 no qual “o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual.”
Explana o professor Rennan Thamay[25] para fundamentar a permanência das condições da ação – legitimidade e interesse processual: “Isso deriva da observação sistêmica do CPC/2015, visto que, segundo o art. 485, o juiz não resolverá o mérito quando: a) verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV); b) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (inciso VI). Merece destaque o fato de que os pressupostos processuais estão tratados no inciso IV enquanto, de outro lado, as condições da ação estão trabalhadas no inciso VI. Fica evidente, assim, que se trata de temas, institutos e instrumentos diversos que, com destaque próprio, são tratados de forma estruturalmente pontual, pois os pressupostos estão para o processo assim como as condições da ação (legitimidade e interesse) estão para a ação. São, realmente, instrumentos prévios de controle do direito de ação e do processo. ”
Por fim, o artigo 18, CPC/15 que tem por correspondência o artigo 3º CPC/73 não sofreu alterações, salvo a inclusão do § único que dispõe, in verbis, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
- V) CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto não há dúvidas entre os doutrinadores e jurisprudência que a possibilidade jurídica do pedido não é mais prevista como condição da ação no CPC/15, com razão, tendo em vista que seu precursor Enrico Tulio Liebman deixou de inclui-la como condição da ação mesmo antes da entrada em vigor do CPC/73, então, neste sentido, a nova lei processual atualizou entendimento que há tempo estava consagrado.
Contudo, prevalece na doutrina que a legitimidade e o interesse processual permanecem como condições da ação pelo CPC/15 por todos os fundamentos anteriormente mencionados.
Já em relação a Teoria da Ação majoritariamente prevalece que permanece a Teoria Eclética no CPC/15, apesar da aplicação da Teoria da Asserção em várias decisões judiciais.
Então, somente com o decurso do tempo, conforme estudo doutrinário e jurisprudencial as dúvidas e divergências poderão ser dirimidas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Angher, Anne Joyce, Vademecum, ed. Rideel, 28ª edição, 2019
Barroso, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 11, ed. Saraiva, 2005, 5ª ed.
Câmara, Alexandre Freitas, Será o fim da categoria “Condição da Ação”? Uma resposta a Fredie Didier Junior, disponível no site leonardodacunha.com.br – acesso em 02/02/2020, às 23:40
Cappelletti, Mauro e outro, Acesso à Justiça, Tradução Ellen Gracie Northleet, 1988, Ed. Pallotti, pág. 12
Didier, Fredie Jr, As condições da ação e o projeto de Novo CPC, disponível no site: frediedidier.com.br/artigos/condiçoesdaacao
Greco, Vicente filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 1º vol., 14ª ed., 1999, Saraiva
Grinover, Ada Pellegrini e outros, Teoria Geral do Processo, 13ª ed., 1997, Malheiros
Machado, Antônio Cláudio da Costa, Código de Processo Civil Interpretado, 12ª ed., 2013, Manole
Nery, Nelson Junior e outro, Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., 1997, Revista dos Tribunais
Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª ed., 2013, Método
Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo CPC Código de Processo Civil, 2015, ed. Método
Roque, André e outros, Novo CPC Anotado e Comparado, ed. Foco, 2015
Santos, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1º vol., 19ª ed., 1997, Saraiva
Thamay, Rennan Faria Krüger, Condições da Ação no Novo CPC, disponível no site: cidp.pt/revistas/rjlb/2016
Theodoro, Humberto Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 52ª ed., 2011, Forense
MINI CURRÍCULO:
Graduação em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes – janeiro 2000.
Pós graduanda em Direito Médico e da Saúde – Legale.
Advogada inscrita na OAB/SP desde abril 2000 – Atuação em Família e Sucessões – Judicial e Extrajudicial – Cível – Consultoria Jurídica.
Membra da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP – desde 2001.
Advogada habilitada na feitura e consultoria em Diretivas Antecipadas de Vontade – Testamento Vital.
Advogada inscrita no Convênio da Defensoria Pública – OAB/SP – Plantonista – Juizado Especial Cível e Criminal
Conciliadora e Mediadora Judicial no Cejusc.
E-mail:adrianamarucho@aasp.org.br
[1] Cappelletti, Mauro e outro, Acesso à Justiça, Tradução Ellen Gracie Northleet, 1988, Ed. Pallotti, pág. 12
[2] Greco, Vicente filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 1º vol., 14ª ed., 1999, Saraiva, pág.75
[3] Grinover, Ada Pellegrini e outros, Teoria Geral do Processo, 13ª ed., 1997, Malheiros, pág.249
[4] Theodoro, Humberto Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 52ª ed., 2011, Forense, pág. 69/70
[5] Santos, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1º vol., ed. Saraiva, 1997, 19º edição, pág.148
[6] Ibidem, pág. 149
[7] Santos, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1º vol., ed. Saraiva, 1997, 19º edição, pág. 149
[8] Greco, Vicente Filho, Direito Processual Civil, 1º volume, ed. Saraiva, 1999, 14º ed., pág. 75
[9] Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, volume único, ed. Método, 2013, 5ª edição, pág. 88
[10] Grinover, Ada Pelegrini e outros, ed. Malheiros, 1997, 13º ed., pág.252
[11] Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, volume único, ed. Método, 2013, 5ª edição, pág. 90. Obs.: Art. 485, VI, CPC/15 correspondente ao art. 267, VI, CPC/73 – Roque, André e outros, Novo CPC Anotado e Comparado, ed. Foco, 2015, pág. 84
[12] Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, volume único, ed. Método, 2013, 5ª edição, pág. 92. Obs.: Art. 487, I, CPC/15 correspondente ao art. 269, I, CPC/73 – – Roque, André e outros, Novo CPC Anotado e Comparado, ed. Foco, 2015, pág. 85
[13] Ag.Reg no Recurso Especial nº 439.515 – DF, relator Ministro Humberto Martins – disponível: juris.aasp.org.br/jurisprudencia
[14] Greco, Vicente Filho, Direito Processual Civil, 1º volume, ed. Saraiva, 1999, 14º ed., pág. 77
[15] Nery, Nelson Junior e Nery, Rosa Maria Andrade, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 1997, 3ª ed., pág. 75
[16] Machado, Antônio Cláudio da Costa, Código de Processo Civil Interpretado, ed. Manole, 2013, 12ª ed., pág. 5 – Obs.: art. 335, CPC/15 correspondente ao art. 297, CPC/73 e art. 238, CPC/15 correspondente ao art. 213, CPC/73– Roque, André e outros, Novo CPC Anotado e Comparado, ed. Foco, 2015, pág. 234 e pág. 221, respectivamente
[17] Barroso, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 11, ed. Saraiva, 2005, 5ª ed., pág. 32
[18] Greco, Vicente Filho, Direito Processual Civil, 1º volume, ed. Saraiva, 1999, 14º ed., pág. 87
[19] Roque, André e outros, Novo CPC Anotado e Comparado, ed. Foco, 2015, pág. 229 e 234
[20] Angher, Anne Joyce, Vademecum, ed. Rideel, 2019, 28 ª ed., pág. 255
[21] Site: cível.mppr.mp.br, acesso em 02/02/2020 às 11:05
[22] Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo CPC Código de Processo Civil, ed. Método, 2015, pág. 50
[23] Didier, Fredie Jr, As condições da ação e o projeto de Novo CPC, disponível no site: frediedidier.com.br/artigos/condiçoesdaacao,
[24] Câmara, Alexandre Freitas, Será o fim da categoria “Condição da Ação”? Uma resposta a Fredie Didier Junior, disponível no site leonardodacunha.com.br – acesso em 02/02/2020, às 23:40
[25] Thamay, Rennan Faria Krüger, Condições da Ação no Novo CPC, disponível no site: cidp.pt/revistas/rjlb/2016
[1] Angher, Anne Joyce, Vademecum, ed. Rideel, 28ª edição, 2019