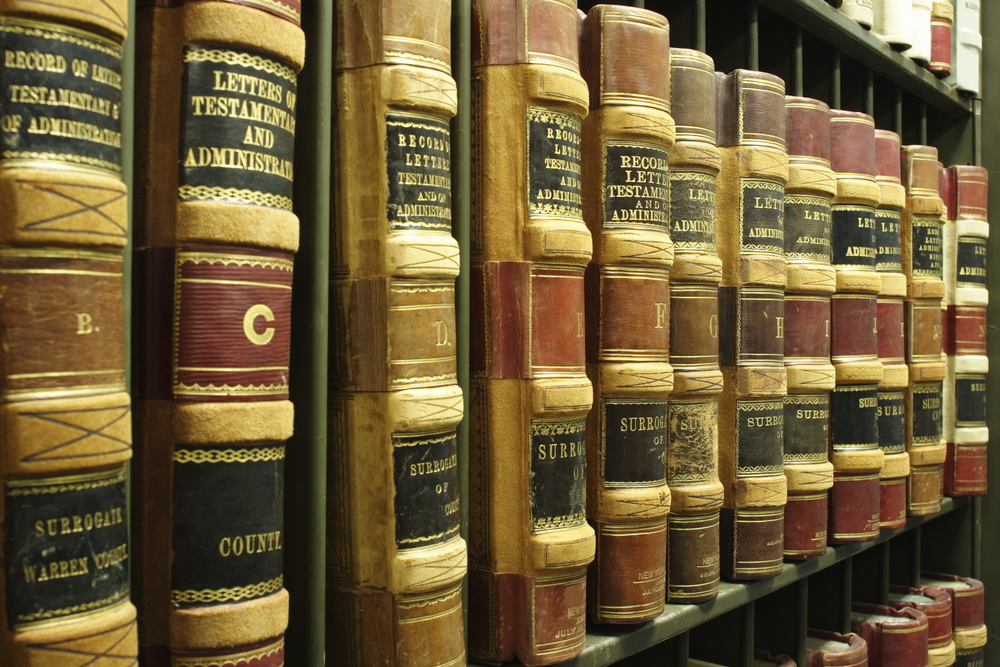SUMÁRIO: 1. Introdução 2. O Covid-19 inviabiliza os atos presenciais no Forum 3. Uma discussão necessária: a legalidade das audiências virtuais 4. Normativos legais que disciplinam e autorizam a realização das audiências 5. Responsabilidade pelos meios tecnológicos para garantir sua realização 6. Oitiva das testemunhas: problemas possíveis 7. Recusa do advogado em participar da audiência 8. Princípio da Cooperação previsto expressamente no CPC 9. Dificuldades à serem superadas para a consagração das audiências virtuais 10. Roteiro para participar da audiência virtual pelo “MICROSOFT TEAMS” em SP 11. O futuro das audiências virtuais, pós Pandemia.
========================================================================
1. Introdução
Com a crise sanitária provocada pelo Covid-19, que já provocou mais de 50.000 óbitos e mais de um milhão de infectados já contabilizados no Brasil, tivemos reflexos diretos no âmbito da atividade jurisdicional, e desde março de 2.020, quando do reconhecimento da Pandemia pela OMS, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça, adotou algumas providências que impctaram diretamente as atividades do Poder Judiciário.
Inicialmente foram suspensos todos os prazos judiciais, e posteriormente, no mês de maio, ocorreu a liberação da tramitação dos processos digitais, sendo que os processos físicos ainda estão suspensos até 30 de junho de 2.020. Foram liberadas através da Resolução 314, a realiza de audiências de conciliação ou de instrução, através de videoconferência, cabendo a cada Tribunal disciplinar a realização das mesmas nos limites de suas respectivas jurisdições.
Vivemos atualmente uma nova realidade, uma vez que toda novidade implantada repentinamente, acaba causando uma certa inquietação nos agentes envolvidos, envolvendo a Magistratura, o Ministério público, os Advogados, os funcionários em geral, bem como os próprios jurisdicionados.
Nestas considerações abordaremos os principais aspectos envolvidos, notadamente quanto a legalidade de tais audiências, das nulidades que podem ser geradas, das dificuldades para coleta da prova oral, bem como outras nuances decorrentes da implantação dessa nova modalidade, inclusive quanto ao seu futuro após a Pandemia, que preocupa especialmente a comunidade jurídica e a sociedade brasileira em geral.
2. O Covid-19 inviabiliza os atos presenciais no Forum
Um dos reflexos direto da Pandemia, é a recomendação para o distanciamento social, com a suspensão de reuniões que possam ocasionar contatos diretos entre as pessoas, para evitar que o vírus artinja um número maior de pessoas.
Com base nessa nova e triste realidade, foram suspensas as audiências realizadas nos próprios do Poder Judiciário, em todas as esferas e Instâncias, o que praticamente inviabilizou num primeiro momento as atividades jurisdicionais, salvo medidas urgentes que exigiam a pronta intervenção em caráter provisório.
O que vivos então, foi uma inquietação generalizada entre os advogados, juízes e promotores, pois a comunidade jurídica em geral não estava preparada para o enfrentamento de uma crise sanitária e humanitária de proporções incalculáveis, e de futuro tão incerto como essa que estamos vivenciando.
O grande dilema que logo surgiu, foi em relação às audiências, muitas já designadas para instrução dos processos, e que foram suspensas inicialmente sem previsão para futura realização, prejudicando de forma inconteste os direitos buscados pelas pessoas envolvidas nos processos ajuizados, situação que passou a exigir uma pronta alternativa para suprir as dificuldades então surgidas, um verdadeiro dilema, ou seja, as audiências ficariam totalmente prejudicadas, ou se buscaria uma alternativa para suprir as dificuldades trazidas pelo distanciamento social?
Inicialmente, tivemos muitas resistências, próprias das mudanças que ocorrem na vida em sociedade. Assim foi quando veio a obrigatoriedade do uso de segurança, na proibição de se fumar em locais fechados, no uso obrigatório da cadeira de bebê nos veículos, lembram?
O mesmo acontece agora com as audiências virtuais. Estamos frente a novos paradigmas, com resistências inclusive no plano cultural, e ante a carência de ferramentas tecnológicas por parte dos envolvidos, notadamente os jurisdicionados. Enfim, toda a inovação causa em princípio uma certa inquietação, que por certo será vencida em pouco tempo, com diálogo e bom senso que deverão ao final prevalecer notadamente no meio jurídico.
3. Uma discussão necessária: A legalidade das audiências virtuais
Uma discussão que tem ganho relevância na comunidade jurídica, é a legalidade das audiências virtuais, por videoconferência, que passaram a prevalecer após a decretação do estado de emergência, em razão do reconhecimento da PANDEMIA, que tem ceifado milhares de vidas humanas no Brasil e pelo mundo afora.
4. Normativos legais que disciplinam e autorizam a realização das audiências
Temos um conjunto normativo que veremos a seguir, que ao nosso ver, asseguram a legalidade das chamadas audiências virtuais, e que justificam a adoção da referida modalidade, pelo menos temporariamente enquanto perdurarem os efeitos da PANDEMIA, e que destacamos abaixo
4.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A base legal encontra-se na Constituição Federal, que contempla princípios constitucionais que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica, para promoção dos pleitos jurisdicionais através do processo judicial, tais como:
- princípio do devido processo legal: 5.º, LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”;
- princípios do contraditório e da ampla defesa: 5.º, LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;
- inadmissibilidade de provas ilícitas: 5.º, LVI – “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”;
- princípio do juiz natural: 5.º, LIII – “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e art. 5.º XXXVII – “não haverá juízo ou tribunal de exceção”;
- princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional: 5.º, XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;
- princípio da razoável duração do processo: 5.º, LXXVIII – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;
- Ininterrupção da atividade jurisdicional: 93, XII – “a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.
4.2. DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL
O Código de Processo Civil – Lei 13.105 – em vigor desde 2016, representa em avanço na preservação dos direitos constitucionais assegurados na lei maior, recepcionando de forma efetiva e até mais ampliada, tais princípios e garantias na tramitação do processo civil. Destacam-se:
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil , observando-se as disposições deste Código.
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III – à decisão prevista no art. 701 .
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.
4.3. Lei 11.419/2006 – DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAl
Em dezembro de 2006, foi dado o primeiro passo, pelo Congresso Nacional, ao aprovar a Lei 11.419, no sentido da utilização de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, viabilizando a implantação da nova modalidade aos processos civil, penal e trabalhista, bem como nos Juizados Especiais, em todos os graus de jurisdição.
Disciplinou também a utilização do uso de certificados judiciais para assinatura dos documentos do processo, bem como validação de assinaturas digitais pelos cadastros feitos perante o Poder Judiciário.
Embora tenham se passado 14 anos, pouco foi feito para implementação dessa lei, na sua integridade em todos os níveis do Poder Judiciário, o que muito teria contribuído para efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo.
No Estado de São Paulo, por exemplo, o processo eletrônico teve início em 2012, avançando paulatinamente pelas diferentes Unidades da Federação, encontrando-se ainda, em algumas localidades mais afastadas do território nacional, em sua fase embrionária, carecendo de recursos e meios tecnológicos para sua implementação de forma integral.
Um dos aspectos que foi descuidado na sua implantação, foi a regulamentação para a prática das audiências judiciais por meio de videoconferência, tanto para as audiência de tentativa de conciliação, quanto para as audiências de instrução. Tivessem os agentes públicos e a comunidade jurídica se mobilizado para implantar de forma efetiva a prática dos atos judiciais por meio eletrônico, não teríamos o açodamento ocorrido no início de 2020, pela chegada do indesejado COVID-19, quando tivemos de cerrar fileiras para viabilizar as audiências virtuais, face ao isolamento social determinado pelas autoridades.
Eis os principais dispositivos da referida lei 11.419/2006:
Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
- 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
- 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
I – meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
II – transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;
III – assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
4.4. Resolução 314/2020 – CNJ
Em conformidade com os dispositivos constitucionais, e notamente com amparo no art. 196, do Código de Processo Civil, coube ao CNJ e aos respectivos Tribunais na segunda Instância e Instâncias Superiores, disciplinar no âmbito da cada esfera, a partir de 04 de maio de 2020, quando findou o período de suspensão dos prazos no âmbito do Poder Judiciário, regras procedimentais para garantia do acesso à justiça, direito consagrado aos jurisdicionados, com a preservação do devido processo legal e da ampla defesa, disciplinando no art. 3º, e parágrafos, regras mínimas para implantação das audiências virtuais, a saber:
Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
- 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l).
- 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.
- 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.
Assim, quando um ato processual não puder ser praticado por meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada, justificadamente, por qualquer dos envolvidos no ato, o juiz, por decisão fundamentada, poderá ou não determinar o adiamento do ato.
Todavia, quanto a determinados atos processuais, como “apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova”, partindo da presunção de que a pandemia gera prejuízo para a sua regular prática, determina a Resolução 314/2020 que, para a suspensão do respectivo prazo, bastará a mera alegação da parte ou do advogado, na sua fluência, de que está impossibilitado de praticar o ato (art. 3º, § 3º), sem que o juiz possa, ainda que motivadamente, indeferir o pedido nesses casos expressamente previstos.
Esse foi o entendimento do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao julgar, na 15ª Sessão extraordinária, realizada no dia 25/05/2020, o Pedido de Providências nº 0003594-51.2020.2.00.0000 proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal (OAB-DF).
4.5. PROVIMENTO CSM Nº 2557/2020, de 12/05/2020
No Tribunal de Justiça de São Paulo, o seu Conselho Superior da Magistratura, disciplinou a aplicação da Resolução 314/2020, na sua jurisdição, editando o Provimento CSM nº 2557, nos termos seguintes:
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais (artigo 16, XVII, do RITJSP),
CONSIDERANDO que a atividade jurisdicional é essencial e ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da Constituição Federal, devendo assegurar-se sua continuidade durante o Sistema Remoto de Trabalho, sempre que possível, por meios eletrônicos ou virtuais, o que também se aplica às audiências;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, §2º, da Resolução CNJ no 314/2020, e do art. 2º, §1º, do Provimento CSM no 2554/2020, compete às partes apontar as impossibilidades técnicas ou práticas que eventualmente impeçam a realização dos atos processuais por meio eletrônico ou virtual, cabendo ao juiz, na sequência, decidir fundamentadamente acerca da matéria;
CONSIDERANDO que a regra do art. 6º, §3º, da Resolução CNJ no 314/2020, não condiciona a realização das audiências por videoconferência em primeiro grau de jurisdição, durante o período do Sistema Remoto de Trabalho, ao prévio consentimento das partes;
RESOLVE:
Art. 1º. O §4º do art. 2º do Provimento CSM no 2554/2020 passa a contar com a seguinte redação:
“Art. 2º. ………………………………………………………………………..
- 4º. Poderão ser realizadas audiências por videoconferência, observada, nesse caso, a possibilidade de intimação e de participação das partes e testemunhas no ato, por meio do link de acesso da gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser disponibilizado pelo juízo, observadas as demais disposições dos Comunicados CG nº 284/2020 e nº 323/2020.”
Entendemos assim, que à luz do que prevê a Constituição Federal, o CPC, a Lei 11.419/2006, e as Resoluções emanadas do CNJ e dos respectivos Conselhos Superiores da Magistratura, tais disposições, respeitada a hierarquia legal prevista entre referidos instrumentos legais, e em face dos efeitos restritivos pela PANDEMIA que assola o pais, e ainda, com a decretação do estado de emergência aprovado pelo Poder Legislativo Federal, que prevalece em caráter excepcional, e temporariamente, a autorização legal para a realização das audiências virtuais que estamos vivenciando.
Obviamente, que tais disposições, notadamente as de natureza administrativa, deverão ser melhor aprimoradas, mediante ampla discussão entre os agentes envolvidos (magistratura, Ministério Público e Advocacia), e posterior aprovação pelo poder competente, o Poder Legislativo.
5. Responsabilidade pelos meios tecnológicos para garantir sua realização
Uma das preocupações palpitantes no seio da advocacia, é a ocorrência de nulidade de atos processuais praticados nas audiências virtuais, e o momento em que tais nulidades devem ser alegadas, para não tragam prejuízos aos jurisdicionados.
Por certo, não é porque estamos numa situação de emergência, que o regramento processual possa ser desrespeitado, notadamente quando atentam contra o devido processo legal, o efetivo contraditório, e a impossibilidade de produção das provas pertinentes à solução do litígio, e ainda, atentem contra a forma procedimental estabelecida no Código de Processo Civil.
Obviamente que as alegações de eventuais nulidades, devem ocorrer após a ocorrência destas, e não por simples presunção ou pressentimento, destacando-se nessas possíveis nulidades, a arguição da incomunicabilidade das testemunhas e a mitigação dos princípios constitucionais aplicados no âmbito do processo.
A alegação de eventuais nulidades, deve ocorrer, quando possível, de pronto pelo advogado, fazendo constar no termo de audiência a irregularidade constatada. No entanto, se a nulidade for constatada posteriormente, através do exame detalhada das imagens e vídeo gravados por ocasião da audiência, entendemos que a partir desse momento, devem os advogados e o Ministério Público, este quando chamado à atuar no processo (art. 178, CPC), fazê-lo expressamente nos autos, sob pena de preclusão, notadamente quando se tratar de nulidade relativa.
Ressalte-se, por fim, que os atos praticados no decorrer de uma audiência virtual, são gravados e ficam disponíveis às partes, atendendo ao princípio da publicidade garantido na legislação.
6. Oitiva das testemunhas: problemas possíveis
Sem dúvida nenhuma, o maior problema apontado pela comunidade jurídica, notadamente a advocacia, é a oitava das testemunhas a que merece maior preocupação, devido às formalidades estabelecidas no estatuto processual, uma vez que na audiência virtual, as testemunhas estarão, em regra, nas suas residências, ou excepcionalmente, no escritório do respectivo advogado, e portanto fora do ambiente do Poder Judiciário.
Por essa razão, poderão surgir problemas passiveis de gerar nulidades, quando de suas oitivas, tais como:
- Identificação das testemunhas (art. 457, CPC), e tomada de compromisso (art. 458): a identificação da testemunha deve ser acompanhada da advertência pelo Juiz, que o depoimento está sendo gravado, devendo o depoente ter postura ética condizente com a importância do ato, além de que pode incorrer em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade (parágrafo único);
- Oferecimento de contradita e a prova da ocorrência do impedimento: a contradita é facultada ao advogado da parte, na forma do art. 457, § 1º, que estabelece: “É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.”
- A dúvida é como viabilizar essa contradita, uma vez que o advogado terá que prová-la através de testemunhas, que poderão estar em suas residências, desconhecendo a forma de acessar a Plataforma onde está ocorrendo a audiência virtual.
- A incomunicabilidade das testemunhas: Aferir se a incomunicabilidade foi respeitada ou não, é tarefa tormentosa, pois poderá a testemunha de louvar de “colinhas”, apontamentos colocados à distância, de ponto eletrônico ou mesmo de orientação por pessoas que estejam fora do alcance da câmera, cochichando e orientando o que deve ser falado pela testemunha. Por certo, o juiz condutor da audiência e os advogados devem ter atenção redobrada para constatar eventuais irregularidades e denunciá-las, no ato quando visíveis, ou após o exame do áudio e do vídeo da filmagem da audiência, para requerimento da nulidade do ato.
- Assinatura pelas testemunhas dos seus depoimentos: segundo o art. 460, do CPC, “O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.” Já o parágrafo 1º prescreve: “Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores.”
Por sua vez, o parágrafo 3º faz menção ao autos eletrônicos, que devem seguir a regulamentação do CPC, que especifica: “Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais.”
Ocorre que o CPC não regulamenta as audiências virtuais, e a Lei 11.469/2006, que trata do processo eletrônico, estabelece no art. 1º, § 2º, III, letras “a” e “b”, a identificação inequívoca do signatário, através: “a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica” ou “b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
Poderemos neste caso tomar o depoimento apenas das testemunhas portadoras de Certificado Digital, ou das que tiverem feito o cadastro prévio no Portal do Poder Judiciário. Desrespeitar essa disposição, no meu entendimento, afronta ao artigo 1º e seus parágrafos e incisos da Lei 11.469, o que poderá ensejar a alegação de nulidade por afronta ao expresso texto legal.
- Testemunha sem condições técnicas para participar da audiência: é notório que grande parte da população, notadamente os jurisdicionados que são protegidos pela gratuidade da justiça, muitas vezes não possuem condições adequadas para participação de uma audiência virtual, tais como equipamento, banco de dados de internet, e mesmo domínio da ferramenta tecnológica disponibilizada pelo Tribunal. Nesse caso, parece-nos inviável a realização da audiência virtual, sob risco de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa
- Impossibilidade de locomoção das testemunhas: por fim, temos a hipótese da testemunha não poder se locomover para o escritório do advogado da parte ou para a residência da própria parte. Neste caso, se ela não tiver meios de participar da audiência, haverá flagrante prejuízo para a parte produzir prova necessária para sustentar o direito perseguido.
Alinhamos assim várias situações para reflexão, que podem se constituir em transtorno para alcançarmos os resultados almejados quando da realização das audiências telepresenciais, e cujas respostas serão construídas no decorrer do tempo.
7. Recusa do advogado em participar da audiência
Assim como as testemunhas tem dificuldades para participar das audiências, muitos advogados também compartilham dessas mesmas dificuldades, pois nem todos possuem meios confiáveis, tais como equipamento, acesso à internet que garanta a consistência na transmissão de dados, espaço físico em seus escritórios para receber as partes e testemunhas, quando necessário.
Ao contrário dos Juízes e Promotores que são aquinhoados com equipamentos de qualidade, providos pelo Poder Público, os advogados lutam constantemente para promover as necessidades básicas para prover seu local de trabalho, notadamente os profissionais em início de carreira, quando as dificuldades são mais notadas.
Neste caso, atento ao princípio da boa-fé, preconizada no artigo 5º do CPC, cabe ao advogado declinar da realização da audiência virtual, por falta de condições técnicas, o que deve ser atendido pelo Juiz condutor do processo, atento ao princípio mencionado.
Obviamente, se o juiz não atender à negativa do advogado em participar da audiência, o que deverá ser feito em decisão fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal, c.c. art. 489, § 1º, CPC) poderá este se utilizar do recurso processual próprio, conforme consta do rol do art. 994, do CPC, dependendo da natureza da decisão adotada.
8. Princípio da Cooperação previsto expressamente no CPC
Para realização das audiências por teleconferência, o respeito ao principio da Cooperação, previsto expressamente no art. 6º do Código de Processo Civil, é de primordial importância, que assim estabelece: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Ao fazer referência a todos os sujeitos do processo, claro está que tal obrigação engloba as atuações dos Juizes, dos integrantes do Ministério Público, dos Advogados, das Partes e demais participantes, que devem atuar afirmativamente, atentos ao princípio da boa-fé, para a consumação dos atos processuais, incluindo os praticados para a preparação e a realização das audiências virtuais.
9. Dificuldades à serem superadas para a consagração das audiências virtuais
- Precisamos de uma regulamentação legislativa específica e pormenorizada, discutida previamente por todos os agentes do processo, para definir um procedimento homogêneo para todo o Poder judiciário, na condução dos processos eletrônicos e particularmente, para a realização das audiências virtuais.
- Definição de uma Plataforma própria do Poder Judiciário, de simples manuseio, em língua portuguesa, para garantir o acesso mais amplo aos jurisdicionados, lembrando que o 192, do CPC, expressamente prevê, “Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa”.
- Observa-se que em algumas plataformas utilizadas pelo Poder Judiciário, a linguagem de orientação ao acesso é em língua inglesa, o que inviabiliza o entendimento de muitos usuários que não tenho conhecimento da língua estrangeira, sendo esse um fato grave, precisa ser contornado, através da criação de uma plataforma própria desenvolvida especificamente para o Judiciário, em consonância com o aludido 192, do CPC.
- Criação de espaços coletivos próprios (escolas, sindicatos, clubes, dentre outros0 para realização das audiências, pois muitas vezes os jurisdicionados não tem condições de garantir os meios mínimos para participar dos eventos virtuais, por falta de equipamento, sem acesso à internet, falta de domínio da tecnologia, dentre outras.
10. Roteiro para participar da audiência virtual pelo “MICROSOFT TEAMS” em SP
Apresentamos a seguir um roteiro simplificado do procedimento para o acesso às audiências virtuais, no âmbito da Justiça Estadual do Estado de São Paulo:
- A participação à audiência virtual pode ser realizada de diversas formas, não necessitando da instalação da ferramenta para uso pelo computador ou laptop.
- Também é possível participar da audiência virtual a partir de um celular, utilizando o aplicativo “Microsoft Teams”. Juntamente com o e-mail do agendamento da audiência virtual é disponibilizado um link para acessar à sala virtual de audiência. Basta clicar sobre o link “Ingressar em Reunião do Microsoft Teams”.
- Caso a participação na audiência virtual for ser realizada a partir de um celular, com acesso à internet, o link para acesso à audiência virtual poderá ser visualizado conforme imagens que aparecem nos respectivos aparelhos (pode variar de acordo com o modelo do aparelho):
- É possível que você, ao acessar a audiência virtual no dia e horário agendados, permaneça no lobby, aguardando o seu momento de ingresso. Assim que chegar o seu momento de participar da audiência, um servidor do Tribunal de Justiça irá autorizar a sua entrada.
- Tenha em mãos o seu documento de identificação pessoal com foto. Ele será necessário durante a sua participação na audiência virtual.
- Na hipótese de ser solicitado que você aguarde, durante a audiência, o servidor do Tribunal de Justiça irá remover você da reunião. Neste caso, aguarde até que o servidor solicite o seu reingresso.
- Somente quando isso acontecer, clique em “Reingressar”. Desde que haja autorização do juiz, caso a sua participação na audiência seja realizada apenas através de áudio (sem exibição da sua imagem), fique atento aos botões que indicam o modo de ingresso e de reingresso à audiência virtual. Utilize a opção que desabilita o vídeo, no momento do ingresso.
- Utilize a opção “Apenas voz” no momento do reingresso. Caso haja alguma indisponibilidade de conexão durante a audiência virtual, permaneça aguardando o restabelecimento da conexão ou outra orientação do funcionário do Tribunal.
11. O futuro das audiências virtuais, pós Pandemia
Um assunto que começa aflorar nas discussões no meio jurídico, é sobre o futuro das audiências virtuais, quando cessarem os efeitos do Covid-19, e possibilite a retomada das atividades presenciais no Poder Judiciário, ora suspensas por força de Resolução do CNJ.
Com a experiência que vamos adquirir e vivenciar neste período, que medeia entre mais 4 a 6 meses, segundo estimativas dos especialistas em infectologia, acredito que na sequência, vamos conviver com um sistema híbrido das audiências virtuais, ou seja, serão perpetuadas para a audiências de Conciliação e Mediação, e no cumprimento de Cartas Precatórias ou mesmo Cartas Rogatórias.
As audiências de Mediação e Conciliação, são de procedimento simplificado, e envolve um número reduzido de pessoas, onde não se discute o conflito em si, nem se faz produção de provas, mas sim, se busca a solução do litígio por meio de acordo que atenda os interesses das partes.
Importante ressaltar ainda, que referidas audiências normalmente tem sido realizadas, já de algum tempo, por mediadores ou conciliadores, muitas vezes pelos CEJUSCs, sem a presença dos magistrados, que posteriormente analisam os termos de acordos e fazem a devida homologação.
Com relação às cartas precatórias e rogatórias, poderão ser cumpridas mais rapidamente, com a oitiva dos interessados, nas comarcas ou nos paises deprecados, onde estejam residindo, através do próprio juízo deprecante.
Neste caso, entendemos perfeitamente viável essa modalidade de audiência, pois o Juiz que colherá os depoimentos conhece detalhadamente dos fatos do processo, e a oitiva poderá ser mais eficaz para instrução da ação e consequentemente, possibilitará um melhor resultado processual.
Mas sem dúvida, o maior ganho será na diminuição da morosidade do processo, pois é sabido que muito tempo é perdido quando se faz necessário a oitiva de testemunhas em Comarca distinta da que tramita o feito, com a demora por vezes de 6 a 12 meses para cumprimento da carta pelo Juízo deprecado.
Em outras audiências onde ocorrerá a oitiva de uma ou duas testemunhas, ou se colherá o depoimento de peritos e assistentes técnicos, também entendemos viável a continuidade das audiências por videoconferência.
Nos demais casos, em que a instrução processual demandará a tomada de depoimentos de várias testemunhas, acreditamos que a forma presencial será a mais indicada, para maior eficácia na resolução dos conflitos e assegurar plena segurança jurídica.
Por fim, urge um aperfeiçoamento na forma procedimental, através de legislação eficaz, bem como o aparelhamento do Poder Judiciário, dando-lhe condições de eficiência em recursos humanos e tecnológicos primordial para o futuro das audiências virtuais.
BIOGRAFIA
CLOVIS BRASIL PEREIRA: Advogado, especialista em processo civil, mestre em direito, professor universitário em cursos de direito, na graduação e pós graduação, colaborador de revistas e sites jurídicos com publicação de artigos, autor do livro “O Cotidiano e o Direito”, editor responsável do site jurídico www.prolegis.com.br.