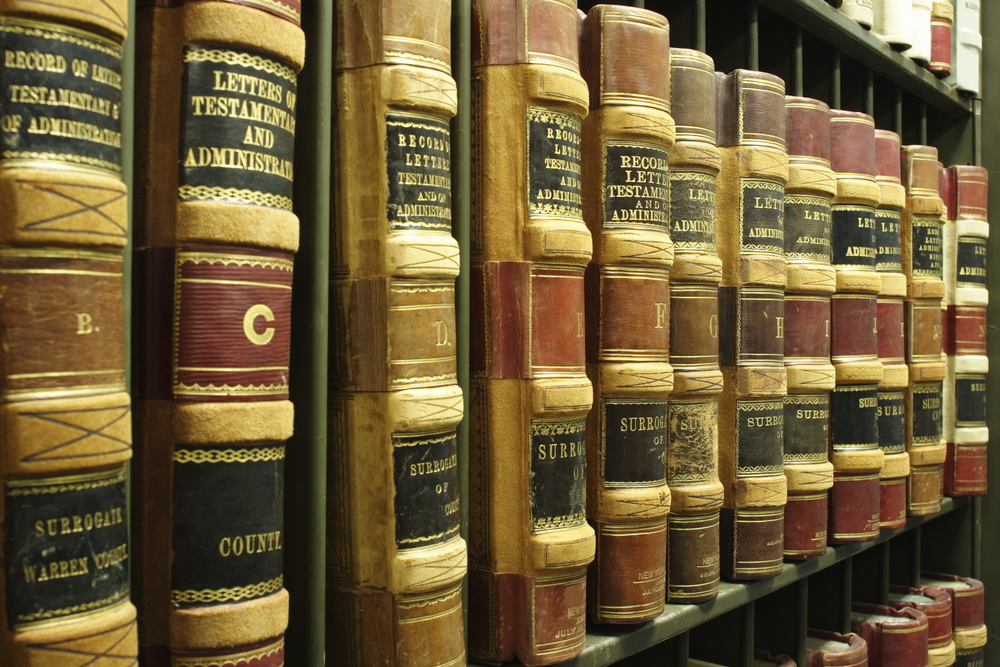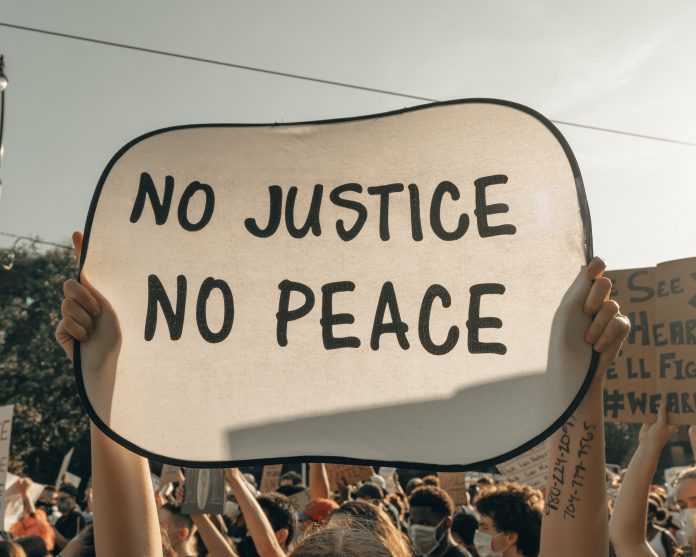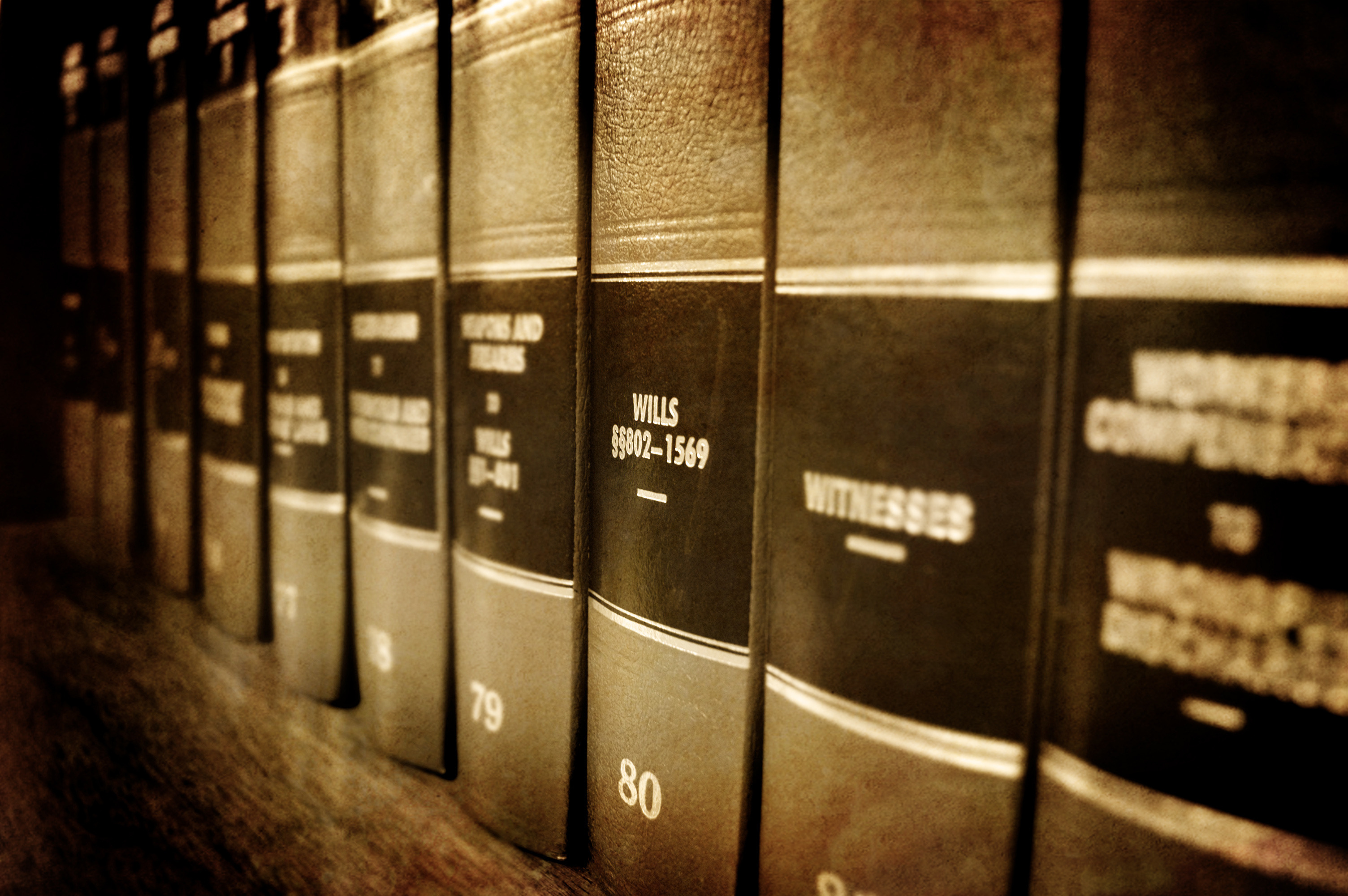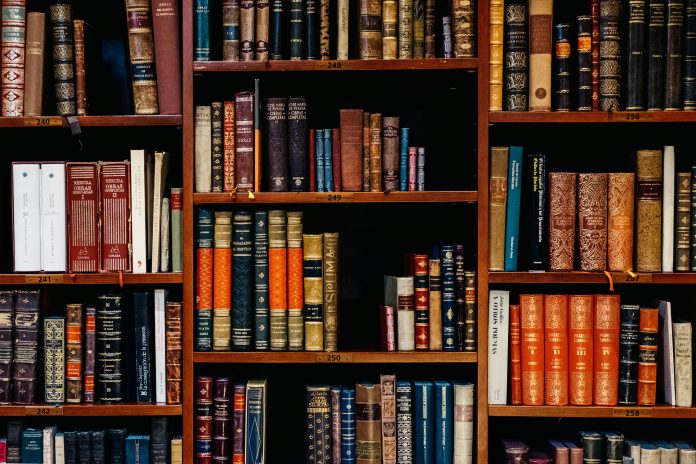Luciana Maria de Freitas
Resumo
O presente artigo tem como finalidade de esclarecer a diferença entre o crime de racismo tem a sua previsão legal na Lei 7.716/89, já o crime de injúria racial ou qualificada, está definida pelo art. 140, § 3° do Código Penal. O crime de racismo está previsto no art. 5°, XLII da Constituição Federal.
Palavras-chaves: Racismo. Injúria Racial. Imprescritível.
Introdução
A Constituição de 1988 determina, em seu art. 5°, XLII, que o racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, portanto o agente neste caso não tem direito a uma fiança, bem como irá responder pelo crime independente pelo tempo em que tenha ocorrido. Ao dizer que o racismo é inafiançável significa que o acusado não poderá responder ao processo em liberdade mediante o pagamento de fiança. Já ele sendo imprescritível que dizer que pode passar o tempo que for da data do crime que mesmo assim quando o acusado for pego o Estado tomará as devidas medidas para o julgamento do mesmo.
Reza o artigo 5º, XLII, da CF/88:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
Com o advento da Lei 7.716/89, deu uma nova redação à Lei Afonso Arinos, definindo desde então quais atos seriam punidos em decorrência de crimes de preconceito de raça ou cor, e não mais como mera contravenção penal como era na norma anterior.
A Lei nº. 9.459/1997 inclui ainda os termos etnia, religião. E somente no ano de 2003 que surgiu a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) inseriu-se a referência à pessoa idosa ou portadora de deficiência. Em junho de 2019 o STF enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. (ADO 26/DF).
Conceito de Racismo
Racismo é uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo social, por causa de sua raça, etnia, cor, religião ou origem. “O tratamento desigual, injusto e, muitas vezes, violento dado a um grupo de pessoas ocorre em razão da falsa crença de que existem raças superiores às demais. ” (grifo nosso).
Por este motivo, o legislador deu um tratamento rigoroso ao crime de racismo, sendo ele imprescritível e inafiançável.
O crime de racismo está previsto em lei especial, a Lei 7.716/89, veio para punir certas condutas discriminatórias dirigidas a um determinado grupo ou coletividade, tais ações como: recusar ou impedir acesso a estabelecimentos comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente, impedir acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou às escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa pública ou privada, impedir o acesso ou uso de transportes públicos são consideradas racismo.
Conforme previsto no art. .20 da Lei de Racismo:
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
Pois bem, o crime de racismo, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, compete exclusivamente ao Ministério Público a legitimidade para processar o ofensor. Porque a ofensa atingiu a coletividade e não apenas um indivíduo.
Por exemplo: proibir a entrada de pessoas negras em determinado estabelecimento.
O racismo está atrelado às questões da dignidade da pessoa humana, da igualdade substancial, da proibição de comportamento degradante e, principalmente, da não segregação.
Segundo Adilson Moreira, em sua obra: O que é racismo recreativo?
O conceito de racismo recreativo designa uma política cultural que utiliza o humor para expressar hostilidade em relação a minorias raciais. O humor racista opera como um mecanismo cultural que propaga o racismo, mas que ao mesmo tempo permite que pessoas brancas possam manter uma imagem positiva de si mesmas. Elas conseguem então propagar a ideia de que o racismo não tem relevância social.
O racismo recreativo existe dentro de uma nação altamente hierárquica e profundamente racista que formulou uma narrativa cultural de cordialidade racial. Ele reproduz estigmas raciais que legitimam uma estrutura social discriminatória, ao mesmo tempo em que encobre o papel essencial da raça na construção das disparidades entre negros e brancos.
Conceito de Injúria
É a ofensa à honra subjetiva de alguém (decoro ou dignidade) manifestada pelo desrespeito ou desprezo por parte do agente. Honra subjetiva é o sentimento que cada pessoa tem sobre seus próprios atributos morais, físicos e intelectuais.
Injúria qualificada
A Lei 9.459/1997 acrescentou-se uma qualificadora ao artigo 140 do Código Penal, estabelecendo o §3°, consistente na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, e somente no ano de 2003 que surgiu a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) inseriu-se a referência à pessoa idosa ou portadora de deficiência. A lei prevê uma pena mais grave, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena – reclusão de um a três anos e multa.
Para caracterizar o crime de injúria racial é necessário que o agente tenha a intenção de ofender e diminuir à vítima com xingamentos que estão relacionados à raça, cor, etnia, religião ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Trata-se de crime contra honra. Os crimes contra a honra são aqueles nos qual o bem jurídico tutelado é a honra do ofendido, seja em sua dimensão subjetiva ou objetiva:
Honra subjetiva é o sentimento que cada pessoa tem sobre seus próprios atributos morais, físicos e intelectuais.
Por exemplo: ofender verbalmente uma pessoa por causa da cor da pele, chamando a pessoa de “macaco”.
Aqui se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
A injúria racial é afiançável e prescritível (posição majoritária). Atenção ao Posicionamento do STF.
Caso da Maju Coutinho
O fato ocorreu em 2015, quando a jornalista Maria Julia Coutinho, foi alvo de vários comentários racistas na página oficial do “Jornal Nacional” no Facebook, com xingamentos e fazendo piadas com a cor da pele. E somente em 09 de março de 2020, dois homens foram condenados pelos crimes de racismo e injúria racial praticados contra a jornalista.
Para o juiz, ficou clara a intenção do grupo em buscar notoriedade com os ataques. “O ataque racista, desse modo, não estaria restrito a um gueto ou ao submundo da internet no qual transitavam os acusados. Ao atacar figura pública emblemática, os réus visavam – e de alguma forma obtiveram – ampla repercussão de suas mensagens segregacionistas. ” O magistrado ressaltou, ainda, que restaram provados os crimes de racismo e injúria racial. “O racismo, no caso, deu-se em sua forma qualificada, eis que as frases de ódio racial e de cor foram publicadas na página virtual do Jornal Nacional da Rede Globo, ou seja, em ambiente de amplo acesso ao público. Está caracterizado também o crime de injúria racial. ”
Imprescritibilidade do Crime de Injúria Racial
Vejamos:
- Entendimento Doutrinário:
A doutrina sempre defendeu a tese de que o crime de Injúria Racial não se confundia com o crime de racismo, tratando-se de institutos diferentes, com bens jurídicos diferentes etc. Dessa forma, o crime de injúria racial é prescritível e afiançável.
Porém esse entendimento doutrinário não prevalece, uma vez que o STF e STJ entendem que a Injúria Racial é crime imprescritível.
- Entendimento Jurisprudencial:
- Superior Tribunal de Justiça – Em 2015, o STJ entendeu de modo totalmente diverso da doutrina, afirmando que o crime de injúria racial é imprescritível e inafiançável. (AgRg no AREsp 686.965/DF, 6ªT.STJ, DJe 31/08/2015)
- Supremo Tribunal Federal – No mês de junho de 2018, no julgamento do Recurso Extraordinário N. 983.531, o STF ratificou a decisão do STJ (2015), passando a equiparar o crime de racismo previsto na Lei 7.716/89 ao crime de injúria racial, previsto no Código Penal. Desta forma, o crime de injúria racial é imprescritível e inafiançável.
Considerações Finais
O presente artigo buscou diferenciar o crime de racismo e injúria qualificada, sob a luz do nosso Ordenamento Jurídico.
O racismo existe desde a escravidão, e a população negra foi marcada por lutas e conquistas, com o passar do tempo surgiram leis de combate à discriminação, bem como o direito individual e coletivo. Embora que, na pratica tem muito a melhorar para o cumprimento dessas leis. A Lei Afonso Arinos foi à primeira norma contra o racismo no Brasil, depois veio a Lei do Racismo.
Nos dias de hoje o racismo e injuria racial tem crescido muito. E com as redes sociais as Fake News, vem ganhando força, para que a pessoa pratique tal conduta preconceituosa. Contribuindo assim, para os aumentos de denuncias e punições. É o famoso racismo on-line.
O caso da apresentadora Maju Coutinho é um exemplo de que crimes como esses não passam impunes.
Por tanto, é preciso que a sociedade enxergue a gravidade de tais condutas e a importância das punições mais rigorosas. Só assim, é possível acreditar em um mundo melhor. Onde as pessoas de fato serão julgadas pelas suas atitudes e não pela cor da pele.
O racismo é crime e qualquer tipo de preconceito baseado na idéia da existência de superioridade de raça, manifestações de ódio, aversão e discriminação que difundem segregação, coação, agressão, intimidação. Difamação ou exposição de pessoa ou grupo que a lei prevê. Passível de punição como violação dos Direitos Humanos.
Quando se fala em combater o racismo e a aplicação da lei, o que se quer é o reconhecimento dos negros como cidadãos comuns e que a sociedade não julgue pelo simples fato da cor, bem como aqueles que praticarem o crime de racismo e injuria sejam punidos na forma da lei.
Vale ressaltar, que é fundamental o combate aos comportamentos segregacionistas, através das políticas públicas de conscientização da existência do preconceito, sendo a educação a maior ferramenta para dialogar com o assunto como: racismo, homofobia, entre outras discriminações.
De acordo com o STF, os crimes previstos na Lei 7.716/89, são aplicados também aos casos de homofobia e transfobia (ADO 26/DF), bem como os crimes de racismo são imprescritíveis. No caso da injuria racial, o STF equiparou ao crime de racismo, tornando assim imprescritível também. (RE 983.531/DF).
Já na injuria racial são agressões verbais direcionadas a uma pessoa, com a intenção de abalar o psicológico da pessoa que está sendo agredida. Utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
Diante dessa realidade dos ataques racistas nas redes sociais, torna-se bem claro que a injúria racial seja inafiançável. Até porque em grande parte, os agressores pagam à fiança e não ficam presos, e com isso fica aquela sensação de impunidade. O racismo segrega a injúria racial ofende. Ambos são crimes.
REFERENCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 jun. 2020.
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 20 jun. 2020.
BRASIL. Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm. Acesso em: 20 jun. 2020.
http://www.direito.mppr.mp.br/2018/06/20604,37/STF-admite-a-injuria-racial-como-crime-imprescritivel.html
https://www.cartacapital.com.br/justica/adilson-moreira-o-humor-racista-e-um-tipo-de-discurso-de-odio/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/09/tj-de-sp-condena-dois-homens-por-racismo-e-injuria-racial-contra-a-jornalista-maju-coutinho.ghtml
BIOGRAFIA DA AUTORA
LUCIANA MARIA DE FREITAS: Bacharela em Direito pela Universidade Camilo Castelo Branco. Pós-Graduada em Direito Penal e Processo Penal no Complexo Educacional Damásio de Jesus.