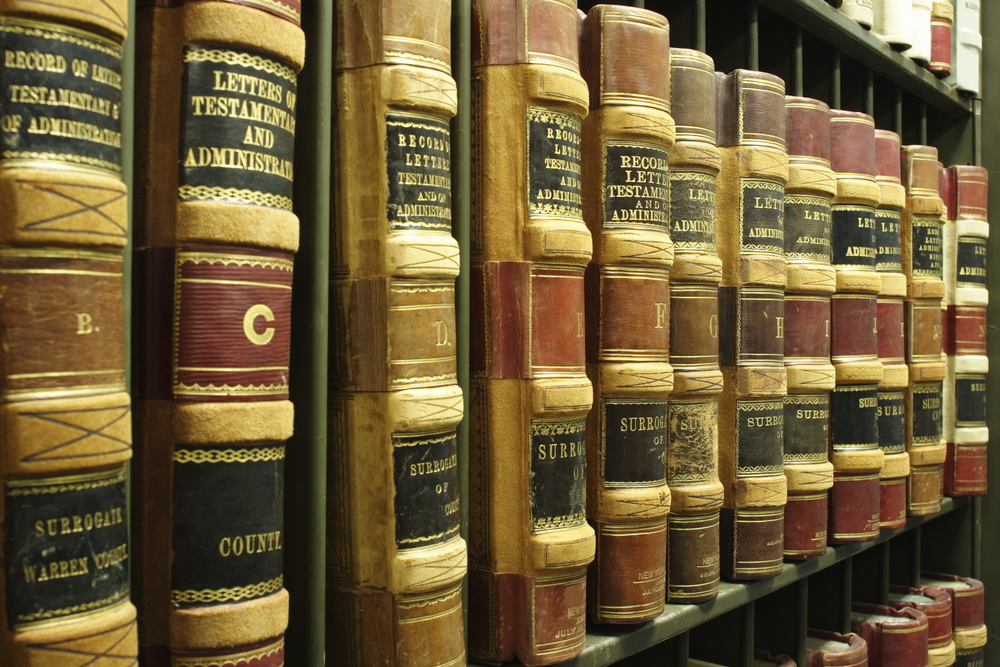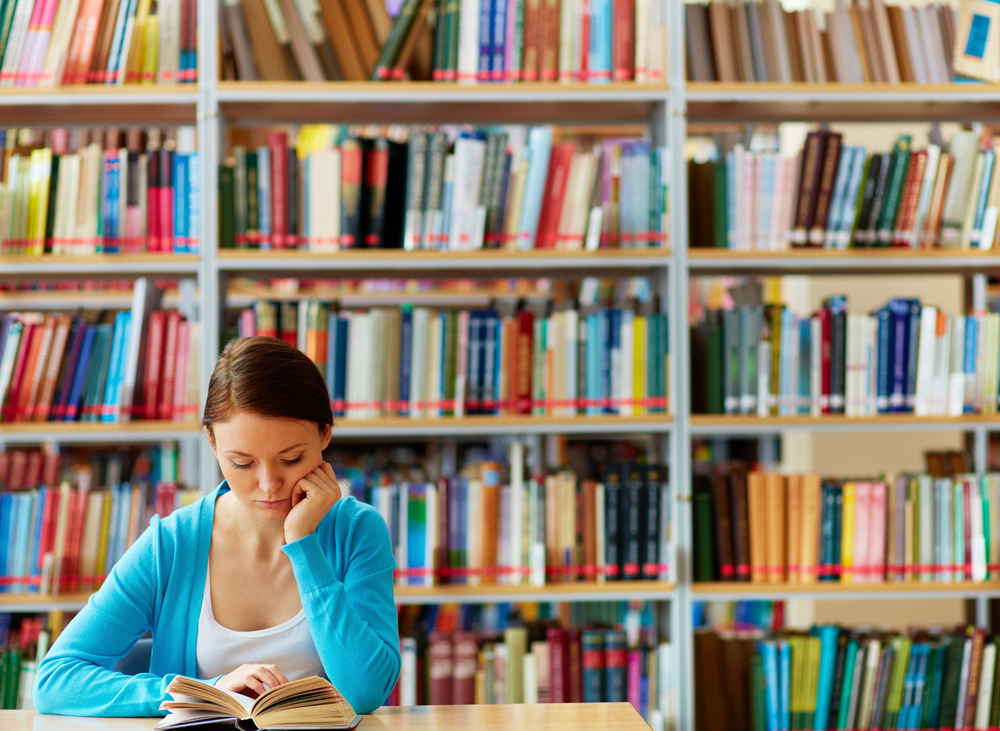*Clovis Brasil Pereira
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. O que pode ser feito frente à Pandemia do Covid-19 3. Medidas cabíveis para vencer os efeitos da Pandemia 4. Teorias possíveis para discussão na revisão ou resolução dos contratos 5. Teoria da Imprevisão 6. Teoria da Onerosidade Excessiva 7. Teoria da quebra da base objetiva 8. Conclusão.
1. Introdução
O inadimplemento dos contratos e suas conseqüências, tem sido um tema tormentoso que tem trazido preocupações às s pessoas em geral,em razão da crise sanitária que chegou ao Brasil, depois de se alastrar pelo mundo.
A preocupação maior emergiu do reconhecimento o estado de emergência pelo Poder Executivo, com aval do Congresso Nacional, desde 20 de março de 2020, e que praticamente paralisou a atividade econômica no pais, em todos os setores, seja público ou privado, notadamente em razão da recomendação das autoridades sanitárias e científicas, capitaneadas pela Organização Mundial da Saúde, de isolamento ou distanciamento social, como forma de se evitar o alastramento do Covid-19 simultaneamente pelo território nacional, inviabilizando o atendimento de emergência indispensável, e que faria com que todo o sistema de saúde entrasse em colapso, por falta de estrutura material e humana para o pleno atendimento das pessoas infectadas.
Essas restrições, e o medo que se abateu sobre a população brasileira, pelo repentino avanço do Covid-19, acabou atingindo o comércio de forma global, trazendo consequências brutais para a economia, uma vez que estamos em vias de enfrentar uma recessão econômica sem precedentes, com reflexos diretos na economia nacional e no relacionamento com a economia mundial, afetando diretamente os negócios jurídicos estabelecidos anteriormente à 20 de março de 2020, com reflexos no tempo presente, cujo estado de emergência tem previsão de duração até 31 de dezembro de 2020, e no futuro, no chamado período pós pandemia.
Surge então o clamor por medidas que possam ser tomadas no âmbito das relações jurídicas, diante do cenário cinzento pelo qual estamos passando
2. O que pode ser feito frente à Pandemia do Covid-19
Diante da triste realidade que estamos enfrentando, estamos nos propondo fazer um apanhado de medidas que podem ser tomadas na esfera jurídica, com o fim precípuo de amenizar os efeitos nefastos provocados pelo Covid-19, na relações contratuais em geral, que envolvem os contratos de natureza civil, tendo como exemplos, os contratos de Empréstimos, de Financiamento de veículos e de imóveis, de empréstimo pessoal, nos contratos de Locação residencial e comercial, de Prestação de serviços em geral, só para citar alguns exemplos.
É sabido que os reflexos da paralisação da economia, atinge também os Contrato de Trabalho e as relações empregador-empregado, com preocupante reflexo nas relações sociais, face a diminuição da oferta de emprego, e consequentemente o aumento de desempregados, que anteriormente a declaração da Pandemia, já atingia 12 milhões de trabalhadores.
3. Medidas cabíveis para vencer os efeitos da Pandemia
O Covid-19 pegou os brasileiros de surpresa, pois ninguém podia imaginar em 2018, 2019 e mesmo até fevereiro de 2020, quando da elaboração de contratos que obrigaram as pessoas em geral, que viveríamos uma crise econômica, um verdadeiro caos nas relações jurídicas, a partir de março do corrente ano. Essa nova realidade estabelecida, desestabilizou todos os planejamentos de custos, receita, e investimentos planejados pelos investidores em geral, desde o pequeno, o médio ou grande empresário.
Esse desequilíbrio, que acabou levando desde o micro empresário ao empresário de grande porte, ao inadimplemento das obrigações contratuais, pela impossibilidade do cumprimento daquilo que foi anteriormente contratado, é que está a merecer um tratamento especial, para evitar o total desequilíbrio nas relações econômicas, trabalhistas e o danoso reflexo social derivado da Pandemia.
A solução para propiciar o reequilíbrio nas relações jurídicas nos contratos, podemos encontrar no Código Civil Brasil, através de vários dispositivos, a começar pelo caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade, definindo que a possibilidade de cumprir a prestação é um elemento essencial da obrigação.
A diploma legal, estabelece que uma relação obrigacional é formada por sujeito, objeto, prestação e possibilidade (artigo 104, II, do Código Civil).
Por sua vez, o mesmo Código Civil prevê no art. 393 que:
“Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
O art. 393, na verdade, não diferencia o caso fortuito da força maior, conforme se deprende da leitura do indigitado artigo, exigindo em ambos os casos, alguns requisitos para sua confifuração e reconhecimento, tais como:
-
-
- Elemento externo.
- Inevitabilidade
- Impossibilidade de cumprir.
Segundo Arnoldo Medeiros da Fonseca, deve-se levar em consideração, no exame do caso concreto, se há “impossibilidade absoluta ou objetiva, seja permanente ou temporária, total ou parcial, natural ou jurídica”.
Segundo a previsão do artigo 393, do Código Civil, o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior. Indaga-se então: a prestação deixará de existir, ou permanece, não recair nos efeitos da mora?
No caso da responsabilidade contratual, o artigo 393 do Código Civil não deve ser interpretado de forma idêntica para a responsabilidade extracontratual e contratual, uma vez que esta função social (artigo 421 do Código Civil e artigo 5º do Decreto-Lei nº 4.657/42) e paridade, ainda que relativa, entre os contratantes, já que se encontram em situações equivalentes.
Arnoldo Medeiros da Fonseca, no Direito Contratual, onde há vínculo prévio, apresenta algumas propostas, tais como:
-
-
- Se a impossibilidade é total e permanente, dá-se a extinção do vínculo obrigacional, sem mora.
- Se apenas é total e temporária, mantém-se o vínculo e se retira a mora.
- Se for parcial, poderá o credor exigir parte da prestação.
Na ótica do referido doutrinador, numa situação assemelhada ao regime de emergência provocado pelo Covid-19, em que a atividade econômica ficou estagnada, sendo tal paralisação considerada como de caso fortuito ou força maior, apresentam-se duas propostas para solução:
a) Na primeira, na perspectiva do vínculo, retira-se o direito potestativo do credor em rompê-lo unilateralmente em razão da falta de prestação do devedor, que se tornou impossível, porque não há mora. Mantém-se essa potestatividade apenas àquele que está diante da impossibilidade, para não agravar ainda mais sua situação econômica, se assim o desejar.
b) Na segunda, na perspectiva da prestação do devedor, analisando-se o caso concreto, se:
I. a impossibilidade for total, postergam-se as prestações vencidas para outro momento; ou
II. se parcial, reduz-se a prestação cumprindo-a em parte. A análise é caso a caso, repita-se.
Na hipótese de ser reconhecida a impossibilidade total ou parcial da prestação, o que obviamente poderá ser declarada em procedimento judicial, com amplo contraditório, não haverá mora pelo devedor e, por isso, não recairão as respectivas consequências, quais sejam:
-
-
- multa (artigo 408 do Código Civil);
- juros ou correção (artigo 389 do Código Civil);
- cláusula resolutiva (artigo 474 do Código Civil);
- busca e apreensão (artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69);
- leilão extrajudicial (artigo 27 da Lei nº 9.514/97);
- despejo (artigo 59 da Lei nº 8.245/91), dentre outras.
O devedor continuará obrigado ao pagamento das prestações que não adimpliu, suspendendo-se a exigibilidade temporariamente.
Exemplificando, num contrato de locação com finalidade comercial, se ficar comprovada a impossibilidade do pagamento do valor locatício, pela proibição da venda de determinados produtos (no caso de SP, as padarias e lanchonetes foram proibidas de servir lanches e refeições no balcão), reduzindo drasticamente a receita, poderá o locatário obter a suspensão do pagamento do aluguel se a impossibilidade for total, ou obter sua redução, se for parcial.
Nas duas hipóteses, não haverá mora, e portanto, não haverá resolução contratual ou despejo.
4. Teorias possíveis para discussão na revisão ou resolução dos contratos
Destacam-se três teorias que podem ser discutidas nos litígios que busquem dar equilíbrio às relações contratuais, com apoio no Código Civil ou Código do Consumidor, seja através da revisão das cláusulas contratuais, ou a simples resolução do contrtato, que passamos a examinar de forma sucinta.
5. Teoria da Imprevisão
No exame do desequilíbrio da relação contratual, podemos ainda, à luz do que dispõe o Código Civil Brasileiro, admitir a revisão contratual, pela teoria da Imprevisão, segundo seu art. 317 do Código Civil de 2002, que assevera:
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.
Na lição do Prof. Elpídio Donizetti, em co-autoria com o Prof. Fellipe Quintella, in Curso de Direito Civil, são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão:
- que se trate de contrato comutativode execução diferida ou continuada;
- que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação;
- que essa alteração fosse inesperada e imprevisívelquando da celebração do contrato;
- por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações.
6. Teoria da Onerosidade Excessiva
Essa teoria está firmada com base no art. 478 do Código brasileiro de 2002, que prevê
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”
Na sequência, o art. 479, assevera, em obediência ao princípio da conservação do negócio jurídico, que:
“A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.”
Temos assim na legislação civil, que a Teoria da Onerosidade Excessiva, admite a resolução do contrato (que significa a sua extinção sem cumprimento), a pedido da parte prejudicada, ou a sua revisão, se a parte beneficiada se dispor a oferecer o restabelecimento do equilíbrio contratual.
Conforme restou explicado na obra do Prof. Elpidio, já referida, em caso de aplicação da teoria da onerosidade excessiva, além dos pressupostos para a aplicação da teoria da imprevisão, exige-se, ainda, que se demonstre:
- uma situação de grande vantagem para um contratante;
- em contrapartida, uma situação de onerosidade excessiva para o outro”.
7. Teoria da quebra da base objetiva
Essa teoria tem aplicação especificamente nos contratos que tratam de relação de consumo, com a aplicação do Código do Consumidor, e para sua aplicação, basta que haja um fato superveniente que onere o contrato, seja ele previsível ou imprevisível, podendo o consumidor pedir a revisão judicial do contrato.
É importante ressaltar, que a legislação consumeirista, com suporte nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio do contrato (art. 4º, III), da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), que decorre da necessidade de aplicação concreta do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF), garante ai consumidor, pela sua vulnerabilidade reconhecida expressa no CDC, o direito de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como assegura o direito à revisão das cláusulas em função de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
Para buscar tal revisão, invocando a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, importa saber se o fato alterou de maneira objetiva as bases nas quais as partes contrataram, de maneira a modificar o ambiente econômico inicialmente existente.
Tais fatos supervenientes, segundo a previsão do Código de Defesa do Consumidor, não precisam ser extraordinários, imprevisíveis ou mesmo anormais, cabendo ao juiz aferir tais fatos de maneira objetiva, sendo prudente observar tal fato superveniente, não decorreu por culpa do próprio consumidor, sob pena do mesmo estar se beneficiando da própria torpeza.
É ilustrativa a lição de Nelson Nery Júnior e Tosa Maria de Andrade Nery, in Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados, que defende que o Código de Defesa do Consumidor, tem como meta e objetivo a manutenção do contrato, assim expressando:
“CDC. Manutenção do contrato. Nas relações de consumo, reguladas pelo CDC, a conseqüência que o sistema dá quando verificada a onerosidade excessiva não é o da resolução do contrato de consumo, mas o da revisão e modificação da cláusula ensejadora da referida onerosidade, mantendo-se o contrato (princípio da conservação contratual).”
Segundo os festejados autores, a modificação será feita mediante sentença determinativa, na qual juiz não substitui, mas integra o negócio jurídico em situação assemelhada à da jurisdição voluntária, na forma do art. 1.103, do CPC, então vigente.
Dessa forma, é importante ressaltar que para a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, é suficiente a prova de que o fato alterou de maneira objetiva as bases nas quais as partes contrataram, de maneira a modificar o ambiente econômico inicialmente existente, e por essa razão, entende-se como aplicável tal teoria, nos contratos de relação de consumo em geral.
8. Conclusão
Concluindo, temos em apertada síntese, que havendo alteração imprevisível das circunstâncias do momento da contratação durante o curso de contrato de execução continuada ou diferida, que cause desequilíbrio entre as prestações, pode a parte prejudicada pleitear a revisão do contrato, por aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 do CC/02), ou na teoria da quebra da base objetiva, para os contratos que tratem de relação do consumido, à luz do que dispõe o CDC.
Se o desequilíbrio for tal monta que torne o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, e ao mesmo tempo, excessivamente vantajoso para a outra parte, pode a parte prejudicada, pleitear a resolução do contrato, por aplicação da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC/02), restando neste caso extinto o contrato sem seu cumprimento.
No entanto, se a parte beneficiada se dispuser a restabelecer o equilíbrio entre as prestações, poderá o juiz, à luz do princípio da conservação do negócio jurídico e com fundamento no art. 479 do Código, e no artigo 6º do CDC, declarar a revisão do contrato, em vez de resolvê-lo, o que em determinadas circunstância, e diante da paralisia da atividade econômica, poderá ser prejudicial para ambos os contratantes.
Acreditamos, que a melhor solução para proporcionar o reequilíbrio nas relações contratuais, neste momento de grave crise econômica, e de futuro incerto para a economia nacional e mundial, é a tentativa de solução amigável dos conflitos nascidos em decorrência do inadimplemento das obrigações, que devem ser buscadas preferencialmente pela mediação, conciliação ou mesmo arbitragem, evitando a judicialização em massa, e que demandariam custos excessivos, o desgaste nas relações entre os contratantes, e de futuro incerto, em fase da notória morosidade da solução dos conflitos, pelo Poder Judiciário.