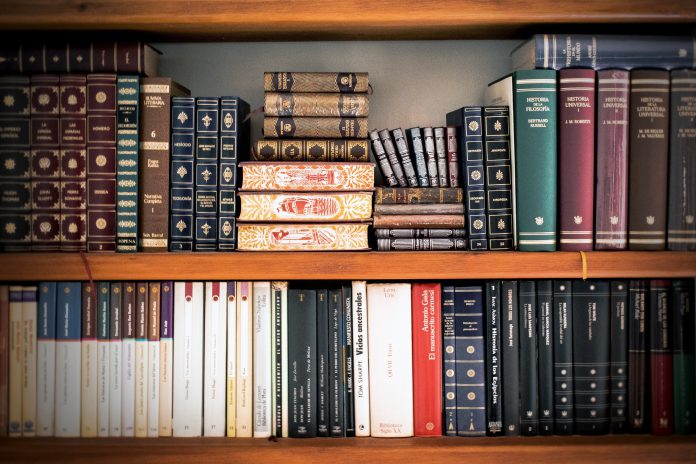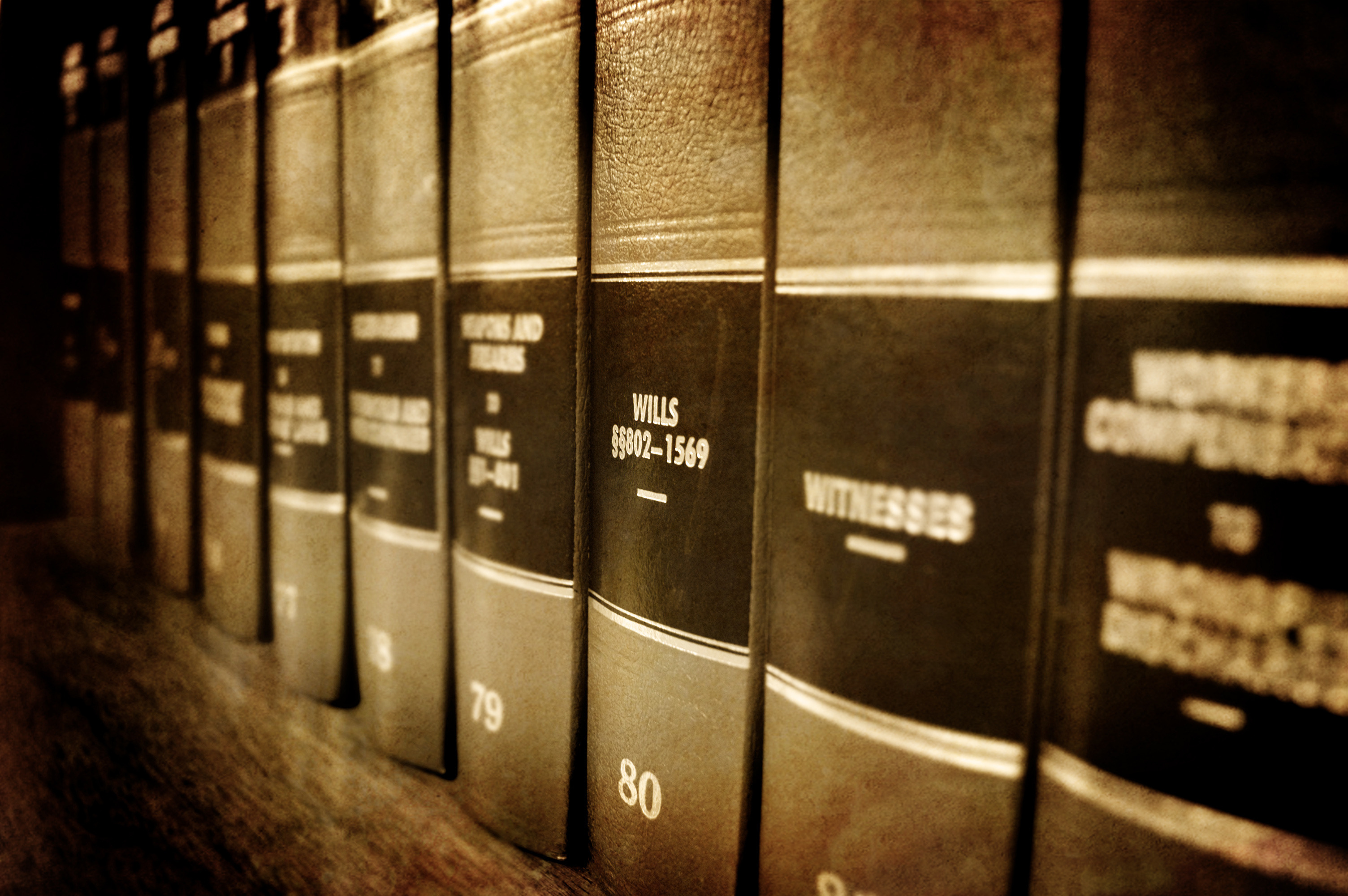Em 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Combate à Aids, que durante os anos 1980 e 1990 se tornou uma das doenças mais assustadoras em todo o planeta – ameaça da qual o mundo ainda não se livrou. O Tribunal da Cidadania – cuja fachada estará iluminada no próximo mês em apoio à campanha Dezembro Vermelho, de incentivo à prevenção da Aids – teve papel essencial para garantir os direitos das vítimas dessa enfermidade.
Em 1981 – enquanto Pelé era eleito o “Atleta do Século”, o atentado do Riocentro abalava a abertura política e as rádios não paravam de tocar Emoções, o novo sucesso de Roberto Carlos –, casos de uma estranha doença começaram a ser diagnosticados, principalmente entre a população homossexual de grandes cidades norte-americanas.
Dois anos depois, o cientista Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris, isolou pela primeira vez o vírus HIV, o causador da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Sida – ou, em inglês, Aids). A doença – que, logo se viu, afetava também os heterossexuais – espalhou-se rapidamente pelo planeta, recebendo o título de Mal do Século.
Aids ainda é uma realidade grave em todo o mundo
O infectologista e pesquisador Bruno Mariano, do Rio de Janeiro, afirma que hoje há cerca de 40 milhões de pessoas infectadas no mundo. Segundo o médico, o HIV afeta o sistema imunológico e permite o avanço de doenças oportunistas, como tuberculose, meningite criptocócica e sarcoma de Kaposi. Como a Covid-19, a Aids é uma zoonose, ou seja, uma doença originada em animais, provavelmente em macacos da África nas décadas anteriores a 1980.
O vírus está presente em secreções corporais (sangue ou sêmen, por exemplo) e pode ser transmitido por seringas, sexo sem uso de preservativo e de várias outras formas – até mesmo da gestante para o filho, durante a gravidez. Se a pessoa tiver qualquer suspeita de contágio, deve fazer o exame imediatamente. “As novas medicações podem deter a progressão da doença, e hoje a taxa de sobrevivência é muito alta”, completa o médico.
Ana Clara Herval, advogada da ONG Amigos da Vida, voltada para a promoção dos direitos de portadores de HIV, destaca que o Poder Judiciário – em especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – tem tido importante papel para garanti-los. “Ainda é muito comum, infelizmente, que o portador de HIV/Aids encontre amparo apenas em sede recursal e em instâncias superiores”, afirma.
FGTS, BCP e outros benefícios
Um exemplo foi a decisão tomada pela Primeira Turma da corte no Recurso Especial (REsp) 249.026, de relatoria do ministro José Delgado (hoje aposentado), que permitiu a uma mãe sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para custear o tratamento de seu filho com Aids. A Caixa Econômica Federal alegou que a Lei 8.036/1990 autorizava o saque em casos de câncer, mas não mencionava a Aids. O relator afirmou que a lei deveria ser interpretada considerando a intenção do legislador de amparar o trabalhador em caso de enfermidade grave – “principalmente quando se cuida de tratamento de doença mortal, até mais do que o câncer”.
O julgamento ocorreu em 2000. Hoje, segundo o infectologista Bruno Mariano, a Aids “ainda é uma doença incurável, mas já controlável, garantindo qualidade de vida para os pacientes”.
No REsp 560.723, julgado em 2003, a Segunda Turma igualmente garantiu que uma mãe sacasse o FGTS para pagar o tratamento da filha, portadora do HIV. A relatora, ministra Eliana Calmon (hoje aposentada), mencionou precedentes que autorizavam o saque tanto do FGTS quanto do PIS nessas situações. E acrescentou que, àquela altura, a própria legislação já amparava o pedido da mãe, pois a Lei 8.036/1990 havia sido alterada em 2001 para permitir o saque do FTGS “quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV” (inciso XIII).
Em 2002, no REsp 360.202, a Quinta Turma assegurou o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para uma pessoa com Aids. O relator do recurso, ministro aposentado Gilson Dipp, observou que o laudo médico considerava a pessoa incapacitada para o trabalho, embora a declarasse apta para uma vida independente. Segundo ele, o simples fato de o doente não necessitar da ajuda de outros para se alimentar ou se vestir não podia ser impedimento para o benefício.
“Esse julgamento foi um marco, por ser um dos primeiros a apontar o HIV como fator essencial para o pagamento de benefícios sociais”, avalia Ana Clara Herval.
A tramitação prioritária de processos para pacientes com HIV foi garantida pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.026.899, relatado em 2008 pela ministra Nancy Andrighi. O paciente, que ajuizou ação contra a Caixa de Previdência do Banco do Brasil, pediu que o processo tivesse o mesmo tratamento prioritário que a lei assegurava aos idosos. O tribunal de origem entendeu que não seria possível estender o benefício a partir de interpretação analógica.
A relatora no STJ, porém, sem a necessidade de recorrer à analogia, considerou que negar o direito de tramitação prioritária ao processo em que figura como parte uma pessoa com HIV significaria suprimir o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição. Um ano depois, a lei mudou para estender o benefício às pessoas com doença grave.
Uma doença incapacitante
A Aids é considerada uma doença que incapacita. Nos Embargos de Divergência no REsp 670.744, o relator, ministro Arnaldo Esteves Lima (aposentado), decidiu uma controvérsia que envolvia julgados da Sexta e da Quinta Turmas – na época, competentes para analisar questões sobre previdência e servidores públicos – em relação à reforma de militar portador do vírus HIV.
A Sexta Turma entendeu que, independentemente de ter ou não desenvolvido a Aids, o militar com o vírus teria direito à reforma com proventos no grau hierárquico superior. Para a Quinta Turma, a reforma dependeria do estágio da doença; se o militar não fosse considerado inválido para qualquer tipo de trabalho, os proventos deveriam corresponder ao grau hierárquico ocupado na ativa.
Esteves Lima apontou que a Lei 7.670/1988 classificou a Aids como doença de incapacitação permanente, motivo para a aposentadoria dos servidores, conforme o artigo 186 da Lei 8.112/1990. Segundo o magistrado, a legislação não permitia distinção em relação ao estágio de desenvolvimento da Aids; além disso, havia o risco de que pessoas com esse mal desenvolvessem doenças oportunistas e fossem vítimas de preconceito. Com esse entendimento, prevaleceu a interpretação da Sexta Turma.
Medo e privacidade
Desde o começo da síndrome, o preconceito e o medo afetaram pessoas contaminadas. Devido ao fato de ter sido identificada inicialmente na comunidade homossexual – lembra o médico Bruno Mariano –, a Aids chegou a ser chamada de “câncer gay”. “Mas logo se descobriu que hemofílicos, usuários de drogas injetáveis e outros também estavam no grupo de risco. Hoje, considera-se que qualquer pessoa pode ser afetada”, acrescenta.
A privacidade dos exames para a detecção do HIV tem sido um tema muito debatido na Justiça, como apontado pela advogada Ana Clara Herval.
Segundo ela, um bom exemplo dessa discussão é o REsp 1.195.995. Um cidadão entrou com pedido de indenização contra um hospital porque este, ao realizar vários exames, acabou fazendo também, por engano, o teste de HIV, que não havia sido solicitado. O resultado, positivo, foi comunicado reservadamente ao médico.
No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Massami Uyeda (aposentado) considerou que a causa do abalo psicológico era o vírus, não a conduta do hospital. Para o magistrado, o alegado direito de a pessoa não saber que é portadora do HIV contraria o interesse coletivo, por favorecer a disseminação da doença.
Na opinião de Ana Clara Herval, a informação é essencial para frear a expansão da Aids. “É direito do portador expor sua sorologia apenas para quem ele se sinta confortável. Mas, quanto ao conhecimento da sua sorologia, estamos diante de um interesse público, superior ao interesse pessoal”, opina a advogada.
No caso relatado por Massami Uyeda, o resultado do exame, embora não solicitado, estava correto. Por outro lado, o STJ tem diversas decisões concedendo reparação a pessoas diagnosticadas incorretamente. No REsp 1.291.576, um hospital foi condenado a indenizar a paciente após emitir três resultados soropositivos errados em seguida. “Nenhuma pessoa fica indiferente ou simplesmente aborrecida ao receber três vezes um resultado de exame que constata a contaminação pelo vírus HIV”, comentou a relatora, ministra Nancy Andrighi.
O REsp 1.071.969, relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, tratou do caso de um doador de sangue erroneamente diagnosticado como portador de HIV e hepatite B. Para o magistrado, houve falha do hemocentro por não esclarecer o doador sobre a possibilidade de um falso positivo. Para ele, não foi cumprido o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige comunicação clara e adequada sobre serviços.
Em outro processo relatado também pelo ministro Salomão, o REsp 1.426.349, foi determinada a indenização para uma mãe que não amamentou o filho recém-nascido por oito dias devido a um falso positivo. A coleta de sangue para o exame confirmatório só ocorreu três dias depois do resultado do primeiro, e o resultado negativo do novo exame saiu apenas sete dias depois. “Não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha o hospital aguardado quatro dias (contado o do parto) para providenciar a coleta de nova amostra de sangue da lactante”, afirmou o relator.
Responsabilidade pública
A responsabilidade do poder público é outro ponto importante na discussão sobre o HIV. “O acesso a tratamentos e medicamentos pelas pessoas que vivem com HIV/Aids é uma questão de política pública, agravada pela ineficiência do Legislativo e do Executivo”, salienta Ana Clara Herval. Para Bruno Mariano, um dos fatores para a rápida expansão da Aids foi a inação das autoridades. “Nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, a doença foi tratada inicialmente como um problema apenas da comunidade gay, e o público não foi informado adequadamente”, lembra ele.
A falta de controle do sangue – uma obrigação das autoridades – levou à contaminação de grande número de pessoas que necessitavam de transfusões, especialmente os hemofílicos. No REsp 1.299.900, foi decidido que um paciente contaminado por HIV e hepatite C durante a transfusão deveria ser indenizado pela União e pelo Estado do Rio de Janeiro.
“Reconhece-se a conduta danosa da administração pública ao não tomar as medidas cabíveis para o controle da pandemia. No início da década de 1980, já era notícia no mundo científico que a Aids poderia ser transmitida pelas transfusões de sangue. O desconhecimento acerca do vírus transmissor (HIV) não exonera o poder público de adotar medidas para mitigar os efeitos de uma pandemia ou epidemia”, declarou o relator, ministro Humberto Martins. REsp 249026REsp 560273REsp 360202REsp 1026899EREsp 670744REsp 1195995REsp 1291576REsp 1071969REsp 1426349REsp 1299900
FONTE: STJ, 28 de novembro de 2021.