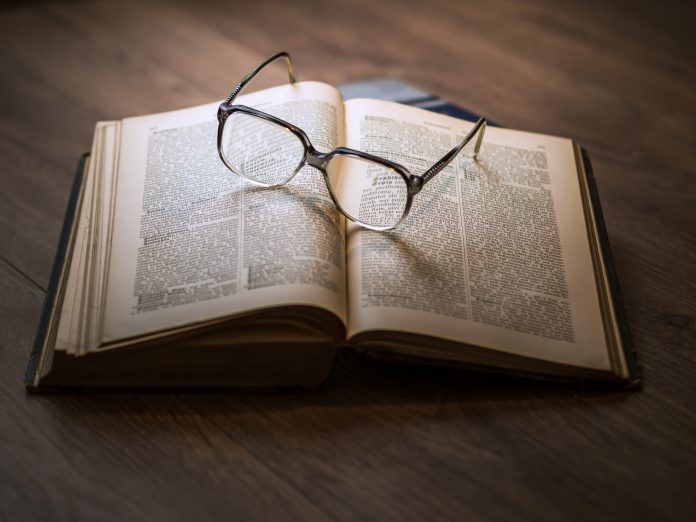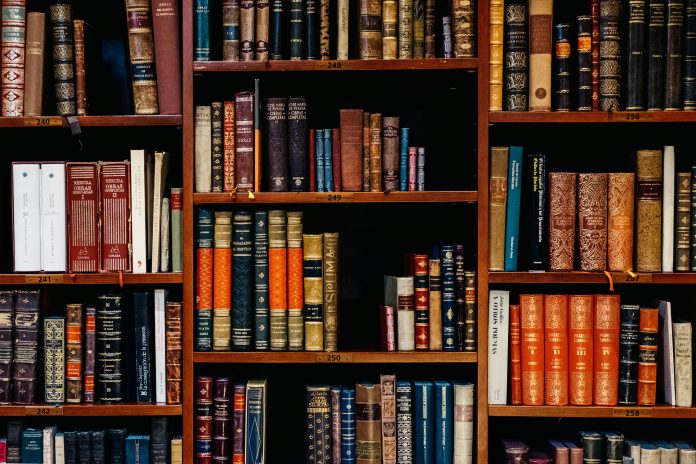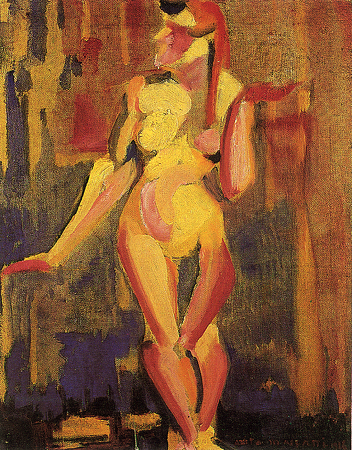A constitucionalização do Direito Civil funciona como garantia de eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Enfim, o principal objetivo é identifica através de estudo exploratório, as características do Direito Civil contemporâneo e, que justificam sua constitucionalização do Direito Civil, bem como a irradiante eficácia dos direitos fundamentais e sua influência na ciência jurídica, permitindo analisar os direitos fundamentais que restringem a manifestação de vontade de particulares.
Enfim, a constitucionalização do ordenamento jurídico consolida a supremacia das Constituições e a força normativa dos princípios e valores nestes contidos, é um fenômeno que vem sendo observado desde as mudanças sociais que ocorreram no século XX, perfazendo a transição do Estado Liberal para o Estado Social[1].
Cabe destacar que o Estado Liberal[2] surgira exatamente para pôr fim ao Estado Absolutista preconizando a dissociação entre o Estado e a economia e a liberdade política. E, no Estado Social deu-se a disseminação dos ideais e valores de justiça social, igualdade e equidade com o fito de garantir os direitos sociais dos cidadãos.
Somado a isso, os ideias de democracia, o que redunda no Estado Democrático de Direito[3] que pode ser definido como o governo do povo, limitado pelo direito e, com o propósito de concretização dos interesses da coletividade.
Em filosofia política, a teorização do Estado tem como pilares os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, que, por diferentes linhas de pensamento, apontavam que o Estado é necessário para manter a ordem social e mediar os conflitos entre indivíduos.
No Estado Democrático de Direito, as leis são criadas por representantes da população e, por conseguinte, da vontade geral. Seu princípio básico é sintetizado por Abraham Lincoln na máxima: “governo do povo, pelo povo e para o povo”.
Assim, o Estado Democrático de Direito vai além da democracia representativa de escolha periódica dos governantes, ele requer a participação popular efetiva e constante nas decisões políticas, de modo a conduzi-las a fim promoverem justiça social. Portanto, os valores de liberdade política e de igualdade política, nesse regime, devem caminhar juntos.
A Constituição Federal Brasileira de 1988, construída com base em um amplo debate público envolvendo a participação de muitos segmentos sociais, em seu Artigo 1º, diz:
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Essa Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, ampliou de maneira inédita os direitos sociais e políticos dos brasileiros. Todavia, sua efetivação ao longo de sua vigência ainda se apresenta incompleta em muitos aspectos. Ampliá-la requer maior participação nos mecanismos de decisão política para que direitos assegurados em lei tornem-se conquistas concretas.
Segundo a Oriana Piske e Antonio Benites Saracho, in litteris: “O Estado Liberal representou o término do Estado absolutista -, no qual o soberano muitas vezes, abusava do poder-, passando para a busca da liberdade individual burguesa. As desigualdades socioeconômico-culturais, cada vez mais intensas levaram ao surgimento do Estado Social em razão da miséria gerada pelo extremado liberalismo-burguês. O liberalismo, não garantiu a liberdade e a igualdade de todos os homens, com sua característica marcante do individualismo exacerbado, na busca do lucro exagerado e inescrupuloso dos donos das fábricas e das minas em detrimento do trabalho dos operários e das crianças, não se revelou instrumento de Justiça social”. (In: BARBOSA, Oriana de A. Barbosa e SARACHO, Antonio B. Estado Democrático de Direito – Superação do Estado Liberal e do Estado Social. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2018/estado-democratico-de-direito-superacao-do-estado-liberal-e-do-estado-social-juiza-oriana-piske Acesso em 04.03.2022).
Já por outro lado, no modelo do Estado Social há uma hipertrofia do que é público e uma atrofia do privado. O Estado, nessa modulação, cresce, acentuadamente, para atender às infinitas demandas sociais, para ocupar o espaço que o paradigma liberal havia deixado como esfera de não-intervenção. Desta forma, o público passa a ser identificado como estatal.
O paradigma social passa a entrar em crise por não conseguir atender a toda sorte de demandas sociais, caminhando para o endividamento público, gerando grave crise de déficit de cidadania e de democracia. O paradigma social propôs a cidadania. Contudo, gerou tudo menos cidadania.
No paradigma do Estado Democrático de Direito, a temática cidadania apresenta inestimável protagonismo e é representada como um processo, como direito de efetiva participação do cidadão na conformação das decisões públicas.
Sublinhe-se que, para ser considerado Estado Democrático de Direito, é fundamental que o mesmo tenha uma estrutura política concebida sob a tripartição dos poderes e consagre os direitos e as garantias constitucionais. Quando o princípio da separação de poderes constitui-se na máxima garantia de preservação da Constituição democrática, liberal, pluralista e humanista.
As grandes mudanças que surgiram após a revolução industrial do Século XIX, bem como a revolução tecnológica do século XX, foram decisivas na construção das bases de uma sociedade consumista, ascendendo cada vez mais os interesses coletivos e difusos no confronto com os interesses meramente individuais.
Reflexo desse quadro, os conflitos ganharam novas dimensões, requerendo equacionamentos eficazes, soluções mais efetivas, um processo mais ágil e um Judiciário[4] mais eficiente, dinâmico e participativo na tutela dos direitos fundamentais do homem.
Sendo curial é a lição deixada por Paulo Bonavides, ao afirmar que os direitos fundamentais[5] são a sintaxe da liberdade nas Constituições. Com eles, o constitucionalismo do Século XX logrou a sua posição mais consistente, mais nítida, mais característica.
Em razão disso, torna-se conveniente introduzir talvez, nesse espaço teórico, o conceito do juiz social, enquanto consectário derradeiro de uma teoria material da Constituição, e sobretudo da legitimidade do Estado Social e seus postulados de justiça, inspirados na universalidade, eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais.
Ensinou Paulo Bonavides que “a história dos direitos humanos – direitos fundamentais de três gerações[6] sucessivas e cumulativas, a saber, direitos individuais, direitos sociais e direitos difusos – é a história mesma da liberdade moderna, da separação e limitação de poderes, da criação de mecanismos que auxiliam o homem a concretizar valores cuja identidade jaz primeiro na sociedade e não nas esferas do poder estatal.”
Wolkmer (2001), quando, ao discorrer sobre os quatro ciclos abrangidos pelo paradigma jurídico moderno, esclarece: O Direito escrito e formalizado da moderna sociedade burguês-capitalista alcança o apogeu com sua sistematização científica, representada pela Dogmática Jurídica.
O paradigma da Dogmática Jurídica forja-se sobre proposições legais abstratas, impessoais e coercitivas, formuladas pelo monopólio de um poder Público centralizado (o Estado), interpretadas e aplicadas por órgãos (Judiciário) e por funcionários (os juízes)
O ilustre doutrinador (2001), constata a decadência desse paradigma: nos anos 60/70 do século XX: “Embora a dogmática jurídica estatal se revele, teoricamente, resguardada pelo invólucro da cientificidade, competência, segurança, na prática intensifica-se a gradual perda de sua funcionalidade e de sua eficácia”.
Celso Fernandes Campilongo (1994), ao asseverar que: “Exagerando na distinção: o Estado liberal formula uma teoria da norma jurídica; o Estado social constrói uma teoria do ordenamento jurídico; e o Estado pós-social enfrenta o desafio da construção de uma teoria do pluralismo jurídico”.
Em “Objetividade e neutralidade: os limites do possível”, Luís Alberto Barroso(2004) discorre sobre a matéria: Desde que o iluminismo consagrou o primado da razão, com o abandono de dogmas e de preconceitos, o mundo construído pela ciência aspira à objetividade.
As conclusões divulgadas por um membro da comunidade científica devem poder ser verificadas e comprovadas pelos demais. A racionalidade do conhecimento procura despojá-lo das crenças e emoções subjetivas, puramente voluntaristas, para torná-lo impessoal na medida do possível.
A medida do possível variará imensamente e em poucas áreas enfrentará dificuldades como no direito. É que a ciência jurídica, ao contrário das ciências exatas, não lida com fenômenos que se ordenem independentemente da atividade do cientista.
E assim, tanto no momento de elaboração quanto no de interpretação da norma hão de se projetar a visão subjetiva, as crenças e os valores do intérprete[7].
Em meio a esse contexto, foi promulgada no país, a Constituição Federal de 1988 que tem o objetivo de instituir o Estado Democrático de Direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social.
Tais princípios fundamentais constitucionais têm o condão de constituir uma sociedade mais justa e reduzir as diferenças sociais, sendo o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo primeiro da Carta Magna, sendo um dos principais sustentáculos de todo o ordenamento jurídico brasileiro.
Essa conjuntura influenciou todos os ramos de Direito e, consagrou o texto constitucional como primacial paradigma a ser seguido para promover a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos, sendo que o Direito Civil igualmente passou a ser interpretado e aplicado à luz dos valores constitucionais vigentes.
Deve-se para melhor esclarecimento sobre o tema prover a leitura de doutrinadores como Paulo Lôbo, Gustavo Tepedino, J.M. Leoni Lopes de Oliveira, Paulo Bonavides, Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Flávio Tartuce, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco e, principalmente, observar atentamente o fenômeno partindo da apreciação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas e, sua possível restrição que sua aplicação produz na manifestação de vontade de particular. e
Eis que a máxima “hominum causa omne ius constitutum est”, oriunda do direito romano, ainda continua válido. E, significa que todo o direito é constituído à causa do homem, o que simboliza que a pessoa é o centro das atenções jurídicas, ou seja, o ser humano é o destinatário final e principal de toda norma. Afinal, o direito é pensado e aplicado para todos os homens.
Enfim, as pessoas são criadoras e destinatárias das normas jurídicas. Portanto, são o componente fundamental do Direito que, por sua vez, tem o propósito de reconhecer a dignidade humana prestando a mais completa e incondicional tutela jurídica.
Em verdade, o conceito de dignidade humana é deveras complexo sendo desenvolvido ao longo da trajetória histórica e conforme a diversidade de valores e culturas presentes na sociedade humana. O excelente doutrinador Ingo Sarlet conceitua a dignidade humana à partir de perspectiva jurídica. In litteris:
“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humana que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas parte de uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. (In: SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.62).
Segundo André de Carvalho Ramos, a dignidade humana é qualidade inerente ao ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, o assegurando condições materiais mínimas de sobrevivência.
Trata-se, portanto, de um atributo que o indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, etc. Nos diplomas internacionais e nacionais, a dignidade humana é inscrita como princípio geral ou fundamental. Assim, o Estado deve proteger a dignidade humana.
Fundamentação: Artigos 1º, inciso III, 170, 226, § 7º, 227, 230, da Constituição Federal; artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos; Artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos; “In: RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018).
Ao longo do século XX, a dignidade da pessoa humana se tornou um princípio presente em diversos documentos constitucionais e tratados internacionais, começando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e se espalhando pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) (1976) e pelas constituições de Itália (1947, art. 3º), Alemanha (1949, art. 1º), Portugal (1976, art. 1º), Espanha (1978, art. 10), Grécia (1975, art. 7º), Peru (1979, art. 1º), Chile (1980), Paraguai (1992, art. 1º), Bélgica (após a revisão de 1994, art. 23) e Venezuela (1999, art. 3º), dentre diversos outros pactos, tratados, declarações e constituições. O conteúdo dos textos é bastante semelhante. Em geral, eles dizem que as pessoas têm a mesma dignidade, que esse é o parâmetro principal da ação estatal e/ou que o objetivo principal do Estado é promover a dignidade humana, como se vê na Constituição Brasileira de 1988.
versão moderna da dignidade se desenvolveu a partir de três marcos fundamentais: (a) o marco religioso, resultado da tradição judaico-cristã; (b) o marco filosófico, a tradição ligada ao Iluminismo; e (c) o marco histórico, uma resposta aos atos da Segunda Guerra Mundial (BARROSO, 2013, p. 14-15). Da primeira tradição vem a ideia de que os seres humanos ocupam um lugar especial na realidade porque foram feitos à imagem e semelhança de um ser superior.
Já o segundo marco fornece a principal justificativa não religiosa da dignidade da pessoa humana, sintetizada pelo filósofo iluminista Immanuel Kant ainda no século XVIII. Segundo ele (KANT, 1980, p. 74-78), o ser humano possui dignidade porque é capaz de dar fins a si mesmo, em vez de se submeter às suas inclinações.
Por isso, ele deve ser visto como um fim em si mesmo, não como meio para a realização de projetos alheios. Essa capacidade de dar normas a si mesmo é a autonomia, em contraposição à heteronomia.
Mas, para que não se reduza às suas inclinações, é preciso agir de acordo com a razão, de acordo com o dever, isto é, segundo o imperativo categórico, de maneira que a máxima de sua vontade possa ser tomada como lei universal (KANT, 1980, p. 74-77).
Segundo Kant, a dignidade é a característica do que não tem preço, isto é, do que não pode ser trocado por nada equivalente. E o fundamento da dignidade é a autonomia, a capacidade de dar leis a si mesmo, em outras palavras, a moralidade entendida como a capacidade de agir de acordo com a lei moral:
Ora a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins.
Portanto a moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. A destreza e a diligência no trabalho têm um preço venal; a argúcia de espírito, a imaginação viva e as fantasias têm um preço de sentimento; pelo contrário, a lealdade nas promessas, o bem-querer fundado em princípios (e não no instinto) têm um valor íntimo.
A natureza bem como a arte nada contêm que à sua falta se possa pôr em seu lugar, pois que o seu valor não reside nos efeitos que delas derivam, na vantagem e utilidade que criam, mas sim nas intenções, isto é, nas máximas da vontade sempre prestes a manifestar-se desta maneira por ações, ainda que o êxito as não favorecesse. […] Esta apreciação dá, pois, a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-na infinitamente acima de todo o preço. (KANT, 1980, p. 78, grifos nossos).
Para Macklin (2003, p. 1419-1420), a dignidade é um conceito “inútil” para a bioética e pode ser substituído sem qualquer perda de conteúdo pelo conceito de autonomia pessoal, que tem a vantagem de ser mais preciso.
A defesa da dignidade seria “mero slogan” e uma “repetição vaga de noções já existentes”. De acordo com ela, o uso corriqueiro do termo “dignidade” como fundamento para se evitar determinadas práticas médicas permanece apenas por influência da religião, especialmente da Igreja Católica.
Segundo Macklin (2003, p. 1419-1420), nesses casos, o que se consegue com o apelo à dignidade seria conseguido de maneira mais simples apelando-se ao respeito pela autonomia das pessoas, um conceito mais claro do que a dignidade porque não apela a uma propriedade intrínseca sobre a qual não se oferecem explicações adicionais.
Segundo a definição kantiana de dignidade (adotada por Barroso e outros, como se verá abaixo), a autonomia é mesmo o elemento central da dignidade. Contudo, muitos doutrinadores (inclusive Barroso) acrescentam à ideia de autonomia a ideia de valor intrínseco, que é o objeto da crítica de Macklin, pois é a parte mais obscura da noção de dignidade.
A diferença está em que alguns pesquisadores consideram que é possível ter dignidade sem ter autonomia, desde que se considere que a entidade em questão possua valor intrínseco (p. ex., o caso do feto, do cadáver e do paciente em estado terminal), enquanto outros, como Macklin, consideram que só faz sentido falar em dignidade quando há autonomia ou a expectativa dela (como no caso de alguém dormindo ou de uma criança).
Para essa segunda vertente, dado que o segundo conceito é mais claro do que o primeiro, é melhor se restringir ao conceito de autonomia – atitude predominante entre os pesquisadores acadêmicos na área de bioética.
A literatura jurídica contemporânea se alinha a esse mesmo entendimento, ao considerar, de forma pacífica, o princípio da dignidade da pessoa humana como o “valor máximo” ou o “supremo alicerce” do ordenamento jurídico brasileiro (Tepedino, 2001, p. 48; Moraes, 2003, p. 83; Silva, 1998) e da ordem jurídica internacional (Piovesan, 2005).
O problema em utilizar o termo de maneira absoluta é que, ainda que a disposição a sacrificar qualquer coisa em favor da mínima chance de salvar alguém seja adequada no âmbito privado, essa não é a atitude mais adequada para lidar com recursos públicos escassos.
Nesses casos, a relação custo-efetividade e a equidade devem também ser levadas em consideração, sob pena de desperdiçar recursos públicos ou privilegiar alguns cidadãos em detrimento de outros – ofendendo, portanto, a própria igualdade de consideração, a motivação por detrás do respeito à dignidade humana.
Em vista de tais imprecisões conceituais e abusos, Barroso (2013) propõe três elementos para garantir a unidade e a objetividade da dignidade humana: (a) o valor intrínseco, (b) a autonomia e (c) o valor comunitário.
O valor intrínseco, oposto a um valor adquirido, possui caráter ontológico, pois está presente na natureza do ser humano, do ser enquanto ser, independentemente de suas determinações particulares. Essa perspectiva toma o indivíduo como um fim em si mesmo e, em última análise, abstrai o ser humano de seus atributos pessoais (aplica-se tanto a recém-nascidos quanto a pessoas senis ou com determinado grau de deficiência mental). A dignidade é um atributo que nasceria com a pessoa e que não poderia ser perdido, alienado ou renunciado.
O segundo elemento que compõe a dignidade, segundo Barroso (2013), é a já mencionada noção kantiana de autonomia (ou autonomia pessoal), o fato de que as pessoas são capazes de dar normas para si mesmas. Esse elemento dá dignidade às pessoas na medida em que elas são capazes de agir livremente, o que significa buscar realizar seus projetos de vida da forma que melhor desejarem, de acordo com sua visão do que é o bem e o correto, sendo capazes de resistir às tentações, coisa que os animais não humanos supostamente não são capazes de fazer.
O terceiro elemento da dignidade apresentado por Barroso (2013) é o valor comunitário, o papel da comunidade e do Estado no estabelecimento de crenças e metas coletivas[8].
Nesse sentido, a dignidade seria uma restrição à autonomia individual, uma limitação a direitos e liberdades individuais em prol da dignidade de outros e de valores socialmente compartilhados. De acordo com Barroso, essas intervenções do Estado e da comunidade são legítimas apenas quando há um direito fundamental de outras pessoas sendo atingido ou há dano potencial para a própria pessoa, pressupondo que haja consenso social sobre a matéria.
É possível verificar que a Constituição Federal brasileira de 1988 não instituiu o princípio da dignidade da pessoa humana, posto que esta já vinha de construção histórica, porém, veio a consagrar sua relevância ao lhe reconhecer como valor supremo do alicerce de toda ordem jurídica democrática. É um princípio unificador dos direitos fundamentais.
Um importante aspecto do Direito Civil Contemporâneo é o fim da vetusta dicotomia existente entre direito público e direito privado. É sabido que cabe ao direito público regular os interesses gerais da coletividade através do Estado que, em regra, ocupa posição de supremacia. Enquanto o Direito Privado cabe regular os interesses privados, incidindo sobre as relações do cidadão comum, em condições de igualdade entre as partes.
Enfim, na doutrina Norberto Bobbio, colhemos que sendo o direito um ordenamento de relações sociais, a grande dicotomia público/privado duplica-se, primeiramente, na distinção de dois tipos de relações sociais: “entre iguais e desiguais. O Estado, ou qualquer outra sociedade organizada onde existe uma esfera pública, não importa se total ou parcial, é caracterizado por relações de subordinação entre governantes e governados, ou melhor, entre detentores do poder de comando e destinatário do dever de obediência, que são relações entre desiguais; a sociedade natural tal como descrita pelos jusnaturalistas, ou a sociedade de mercado na idealização dos economistas clássicos, na medida em que são elevadas a modelo de uma esfera privada contraposta à esfera pública, são caracterizadas por relações entre iguais ou de coordenação”. (In: BOBBIO, N. A grande dicotomia público/privado. In: Estado, governo sociedade para uma teoria geral política. Tradução por Marco Aurélio Nogueira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz &Terra, 1995, p. 13-14).
Quando havia o Estado Liberal marcou-se período de crassa liberdade e grande acúmulo de riquezas, e nesse modelo, aqueles em melhores condições financeiras começaram a explorar os menos favorecidos, dando início a fase de grandes desequilíbrios econômicos e grandes injustiças sociais. E, ensinou Paulo Lôbo, houve duas etapas evolutivas do movimento liberal e do Estado Liberal, a saber: a primeira, referente a conquista da liberdade e, a segunda, a da exploração da liberdade.
E, nesse contexto gerou-se expressiva insatisfação pelo mundo inteiro, especialmente, no mundo ocidental, levando o modelo de Estado Liberal ao declínio e, dando início ao Estado Social, no qual o governo passou a intervir nas relações privadas com o fim de reduzir as desigualdades sociais e, então, promover a justiça social.
A noção contemporânea de justiça social é ancorada em princípios morais e em política fundamentada nos valores de igualdade e solidariedade, começou a se desenvolver a partir do século XIX.
E, tal ideia estava ligada à buscava de equilíbrio social, de forma que todas as pessoas que compõem a sociedade tenham os mesmos direitos. A sociedade justa é aquela comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, acesso à justiça e, etc.
Com a globalização, a partir do fim do século XX, um conjunto de problemas sociais ganharam destaque. O processo de integração econômica e cultural de diferentes nações agravou ainda mais as desigualdades sociais.
Portanto, a globalização é reflexo da Terceira Revolução Industrial que está firmada no desenvolvimento da ascensão da tecnologia da informação vêm reduzindo o número de trabalhadores nas empresas, aumentando o desemprego estrutural e a precarização das condições de trabalho. E, tal realidade vem produzindo uma série de problemas sociais, tais como a violência urbana, a pobreza, a vulnerabilidade e a invisibilidade dos necessitados.
A justiça social consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças sociais. Um dos doutrinadores que melhor e definiu os elementos para alcançar esse princípio foi John Rawls e estabeleceu três pontos cruciais para galgar um princípio de equidade: 1. garantia das liberdades fundamentais para todos; 2. igualdade de oportunidades; 3. manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos.
A ideia de justiça social[9] como um dos principais objetivos para promover o crescimento de uma nação para além das questões econômicas. E, nesse lógica, compreende-se que a justiça social é mecanismo que busca fornecer o que cada cidadão tem por direito, assegurando as liberdades políticas e os direitos básicos, por isso, é curial oferecer transparência no âmbito público e privado e gerar maiores oportunidades sociais.
É de extrema relevância que o Código Civil não se confunde com o Direito Civil, em si, sendo que este último é bem mais abrangente. E, segundo Paulo Lôbo (2015), o Código Civil não é propriamente um código e, sim das principais relações de direito privado. É certo que o Direito Civil é o alicerce do Direito Privado, e rege todas as relações jurídicas dos indivíduos desde seu nascimento até sua morte.
A organicidade dos códigos pode ser comparada ao funcionamento do corpo humano, no qual existem órgão responsáveis por fazer o todo funcionar, daí ser primordial que os órgãos funcionem em harmonia entre si.
A codificação é uma tendência que objetiva a facilitar a compreensão total do assunto abordado, organizando e unificando a matéria. Em verdade, a codificação teve papel destacado no desmoronamento do velho regime, que se ancorava na autoridade e no status social. O Direito da época exigia normas certas, claras e precisas para a segurança dos negócios e para definição das conquistas liberais, conseguidas com a Revolução, em especial, a defesa da propriedade individual, o que resultou na codificação civil moderna.
E, ainda segundo Paulo Lôbo, a codificação teve por pressupostos o sujeito de direitos adquiridos abstraído de suas reais condições de poder, enquanto o constitucionalismo liberal partiu justamente da vontade em limitar os reais detentores do poder político.
Neste cenário, as codificações liberais atuam como transformação revolucionária contra a tradição, sendo que outras civilizações fora da Europa adotaram os códigos modernos europeus para se transformarem em nações mais modernas e progressistas.
A codificação no país foi processo longo que teve início com a Independência em 1822 e, se encerrou tempos depois da Proclamação da República.
Durante longo período, o Brasil não estava absolutamente independente de Portugal, posto que havia legislação que vigeu durante o império que eram as Ordenações Filipinas que eram influenciadas pelo direito romano, direito canônico e os costumes de povos germânicos que invadiram a península ibérica.
Apenas com a Constituição Imperial de 1824, o Brasil passou a ter legislação própria e, já previa a criação de um Código Civil e um Código Criminal. Esse último fora editado em 180 e o Código Processual Criminal, em 1850. Porém, o Código Civil somente fora editado quase um século depois.
Em 1858, Augusto Teixeira de Freitas[10] realizou a Consolidação das Leis Civis que fora tentativa de agrupar as leis civis num complexo que seria responsável por preencher a lacuna do Código Civil.
Foi, inicialmente, contratado pelo governo imperial para elaborar o projeto de Código Civil cujo esboço terminou não sendo aprovado. E, até o final do império, em 1889, o Brasil não possui um Código Civil.
Entretanto, o “Esbôço” do eminente doutrinador foi, lamentavelmente, rejeitado pelo Governo e, em 1872, rescindiu-se o contrato firmado com o jurista.
Mesmo diante deste episódio, em 1876, ele publicou o “Prontuário das Leis Civis”; em 1877, editou um “Aditamento à Consolidação das Leis Civis”; em 1882, o “Formulário dos Contratos e Testamentos” e as “Regras de Direito Civil”. Em 1883, o Brasil termina sendo agraciado com a obra “Vocabulário Jurídico”.
Pronto o “Esboço de Freitas”, a Comissão Revisora composta por Paulino José Soares de Sousa, Nabuco, Ribas, Brás Henriques, Marcelino de Brito, Áreas,
Alberto Soares e Figueira de Mello, teve início incansável debate. Como era comum naquela época (meados do século XIX), a polêmica era acerba, resvalando pelo campo pessoal. A incontinência verbal e o duelar com as palavras eram de tal forma intensa, que já não mais era atacado o trabalho, mas o seu autor.
A cada crítica, Teixeira de Freitas, que não media esforços em defender suas opiniões até às últimas consequências, tinha de elaborar trabalho escrito, defendendo o ponto de vista do Esboço. Esse trabalho fatigou seu corpo e oberou o espírito.
Inconcluso, o Esboço de Freitas continha 4.908 artigos. Em quatro meses de trabalho, tendo o próprio Teixeira de Freitas como integrante, a Comissão analisou apenas os quinze primeiros artigos. Os debates eram tão estéreis que Teixeira de Freitas tanto que se queixou a Nabuco de Araújo, dizendo que, a prosseguir naquela marcha, nem em cem anos o trabalho seria concluído, e sequer o Esboço seria convertido em Código Civil.
Malogrado o Esboço enquanto projeto de Código Civil, a Argentina não perdeu tempo. Em 1869, o país vizinho recebeu seu Código Civil, elaborado pelo jurista
Vélez Sársfield que não negou que a sua codificação foi decalcada do Esboço de Teixeira de Freitas. Na verdade, a obra de Teixeira de Freitas era tão completa que o jurista argentino Vélez Sársfield praticamente traduziu o Esboço de Freitas para o espanhol e apresentou essa tradução como Projeto de Código Civil
Argentino, o qual foi aprovado e vigora na Argentina até hoje. Como se houvesse uma solidariedade sul-americana, e a partir do Código Civil Argentino, o Esboço de Freitas foi seguido por outras nações Latino-Americanas como o Paraguai e, em parte, o Uruguai.
Essa posição adotada pelo codificador Argentino foi, contudo, alvo de duras críticas baseadas nas concepções de Montesquieu, que afirmava que as condições físicas em que vivem um povo influenciam sobremaneira a formação do seu direito de modo que seria raro que o direito de uma nação servisse a outra.
Em 1969, Clóvis Beviláqua foi contratado, justamente com outros juristas para elaborar o Código Civil brasileiro[11], após longo período de tramitação e emendas, o Código fora finalmente aprovado em 1915 e, finalmente, promulgado em 1916.
O Código Civil de 1916 sofreu inúmeras alterações, sendo que a primeira delas se deu em 1919. Em decorrência do lugar ocupado pela mulher no mercado de trabalho e da efetividade dos ideais de igualdade, em 1962 retirou-se a mulher do artigo que classificava os relativamente incapazes, e em 1977 a Lei nº 6.515 incluiu o inciso IV no art. 267, para permitir o divórcio como uma das modalidades da dissolução conjugal.
Com o passar do tempo e a aplicação sistemática de seus regulamentos, tornou-se mais fácil o manejo do Código Civil, e melhor a compreensão de seus princípios.
Todavia, o século XX não assistiu à elaboração de grandes codificações, dado que as obras legislativas deram preferência a regulamentos especiais.
Por outro lado, pode-se afirmar que as duas experiências de elaboração de compilações civis, a de Teixeira de Freitas e a de Clóvis Beviláqua, estiveram sempre no horizonte jurídico nacional como experiências bem-sucedidas, a orientar a formação de novas comissões para a elaboração de estudos acerca da atualização do Código de 1916 ou de um novo diploma substancial civil.
Assim, em 1975, o projeto do Novo Código Civil da comissão chefiada por Miguel Reale foi apresentado à Câmara dos Deputados e, aprovado em 2001, entrou em vigor com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Por outro lado, pode-se dizer que, no caso brasileiro, o Código Civil em parte conseguiu expressar relações já existentes no seio da organização patriarcal brasileira, ao contemplar o pátrio poder, as diferenças entre filhos legítimos e ilegítimos, biológicos e adotados, a figura do marido como chefe da relação conjugal e mais uma significativa quantidade regras e procedimentos de conteúdo moral cristão, bem ao gosto das classes a quem o código se destinava.
Quanto aos contratos, tanto o Código Napoleão quanto o Beviláqua partiram da ideia de que qualquer pessoa, desde que não impedida legalmente, era livre para pactuar, consagrando o princípio da autonomia da vontade e a noção de que os indivíduos têm liberdade plena e sem mediação para contratar.
E, nesse aspecto, o Código Beviláqua pareceu estar dissociado da sociedade brasileira, eminentemente rural, recém-saída de três séculos de escravidão, acostumada a privilegiar a oralidade no ato de pactuar diante dos índices elevados de analfabetismo.
Daí, por que os princípios igualitários que orientaram os artigos relativos aos contratos e ao direito das obrigações permaneceram longo tempo como noção vaga e abstrata.
O Código Civil de 1916 possuía características patrimonialistas e individualista que eram resultantes da autonomia da vontade e da liberdade de ação provenientes dos movimentos sociais da época.
Com a Constituição brasileira de 194, o Código de Beviláqua tornou-se ineficiente diante das demandas sociais, sendo necessário editar grande quantidade de leis esparsas a fim de suprir suas deficiências. Após, muitas tentativas frustradas, uma comissão liderada por Miguel Reale conseguiu elaborar projeto que foi enviado ao Congresso Nacional em 1975 e, aprovado em alterações somente mais de duas décadas depois. O Código Civil de 2002, conhecido como Código Reale, está em vigência até os presentes dias.
O Código Civil atual revogou expressamente o anterior, de 1916, em seu artigo 2.045, promovendo assim a extinção formal da Lei 3.071/1916.
Na época em que vigorava o antigo Código, a Constituição vigente se limitava a definir as competências dos entes federativos, sem qualquer regulação ou interferência no direito privado. Desta forma, o Código Civil não sofria qualquer restrição ao regular sua matéria.
Como toda norma, o antigo Código refletia o momento histórico, bem como os ideais políticos, sociais e econômicos do país. Lembremos que os ideais liberais estavam em seu auge e que a sociedade patriarcal portuguesa ainda era o modelo seguido por grande parte da sociedade.
Prova disso é a admissão da discriminação dos filhos adotivos diante dos biológicos, a constituição da família admitida somente pelo casamento, o qual era indissolúvel e o que os direitos sucessórios do cônjuge eram mitigados, em prol dos ascendentes do de cujus.
O Código Civil de 1916 era extremamente patrimonialista A Lei do Divórcio (Lei 6.515/77) é o marco da mudança do antigo Código
A Constituição Federal de 1988 revogou vários artigos do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 tinha o patrimônio como principal valor a ser resguardado o patrimônio, de forma que todas as normas giravam em torno dos bens adquiridos pelo indivíduo, como reflexo da necessidade de se proteger os direitos e garantias individuais.
Refletindo a mudança na sociedade brasileira, a primeira norma relevante foi a Lei do Divórcio (Lei 6.515/77). Com o fim da ditadura, a Constituição Federal de 88 assumiu os direitos, garantas e liberdades individuais como principais valores a serem assegurados em suas normas, em resposta ao antigo regime ditatorial.
Neste contexto, a Constituição se tornou também a lei maior no que tange ao direito privado. Como consequência, vários artigos do Código Civil de 1916 foram imediatamente revogados.
O Código Civil de 1916 estava ultrapassado há muito tempo quando do advento do Código Civil de 2002. Muitas de suas normas já eram mitigadas pela jurisprudência, principalmente após o advento da Constituição da República de 1988.
O Código Civil de 1916 foi resultado do direito liberal, em que se prestigiava o individualismo, o patrimonialismo, o positivismo.
Segundo Sylvio Capanema de Souza, o Código Civil de 1916 tinha três personagens principais: o marido, o contratante e o proprietário. Era a solidificação dos princípios liberais.
O Código Civil de 2002 inspirou-se em três grandes paradigmas: função social do direito, efetividade ou operacionalidade e equidade ou solidariedade. Preocupou-se com a realização da justiça concreta.
O Código Civil de 2002 rompeu com as características liberais e individualistas e se aproxima mais de uma vertente social pautada em três princípios marcantes, a saber: a eticidade, a operabilidade e a socialidade.
A eticidade consiste na busca de compatibilização dos valores técnicos conquistados na vigência do Código anterior com a participação de valores éticos no ordenamento jurídico, buscando prestigiar a moralidade. Traz à tona a proteção da pessoa enquanto ser de emanação ética. Daí, a devoção à boa-fé objetiva e subjetiva.
Já a operabilidade refere-se à concessão de maiores poderes hermenêuticos ao magistrado, verificando, no caso concreto, as efetivas necessidades a exigir a tutela jurisdicional transformando o Código num sistema mais durável e seguro. Nessa linha, o Código Civil privilegiou a normatização por meio de cláusulas gerais, que devem ser preenchidas no caso concreto.
Em face da característica unificadora dos Códigos, faz-se preciso a atualização periódica da legislação codificada para esta representar a realidade do momento histórico. E, isso não é diferente no Código Civil de 2002.
Assim, com fulcro no princípio de sociabilidade, é imperativo que seja o ordenamento jurídico seja sempre atualizado e condizente com os anseios da sociedade, e uma maneira mais fácil e ágil de se modificar as legislações codificadas é por meio de elaboração de leis esparsas, em geral, usadas para regular pontos isolados previstos no diploma legal. E, algumas leis esparsas são tão amplas que chegam mesmo esgotar a matéria por esta razão, podem ser consideradas como microssistemas, também conhecidos como estatutos.
Existem diversos microssistemas brasileiros tais como o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor e, entre outras leis. Por isso, acreditam alguns estudiosos, que experimentamos o processo de descodificação.
Afinal, o Código Civil brasileiro não é mais capaz de disciplinar todas as relações jurídicas entre os particulares, reclamando cada vez mais o auxílio dos microssistemas, mas ainda é considerado o centro do direito privado brasileiro.
Ressalte-se que as Constituições que vieram após a Segunda Guerra Mundial passaram a tratar de temas até então tratados somente pela legislação civil, com o fito de realizar autênticas transformações na sociedade.
No momento, os direitos fundamentais e sociais começaram a ganhar espaço nas Constituições de diversas nações. E, nesse espectro, os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana passaram a ser analisados sob novo prisma, sendo que foi a Constituição de 1988 foi a que mais pretendeu regular e controlar os poderes privados na busca da justiça material, através do estabelecimento de direitos fundamentais.
Este fenômeno foi chamado de constitucionalização do direito civil resultou na constitucionalização do núcleo essencial das relações privadas e surge de uma demanda da sociedade indispensável para consolidação para o Estado Democrático e Social de Direito para a promoção da justiça social e da solidariedade que passou a ser incompatível com o modelo liberal anterior distanciamento jurídico dos interesses privados e valorização dos indivíduos.
Segundo Gustavo Tepedino, a constitucionalização do Direito Civil tem mudado a concepção do Direito Civil e, a ideia de que o Código Civil representa a Constituição do Direito Privado encontra-se ultrapassada. Portanto, todo o ordenamento jurídico deve ser interpretado à luz da Constituição Federal que possui a supremacia sobre todas as demais normas.
O ser humano passou a ser considerado não mais em abstrato, mas na especificidade de seu meio social, resultando em mudanças no reconhecimento da concepção plural de família, incluindo o casamento, a união estável, as famílias monoparentais e, mais recentemente, a união homoafetiva.
Enfim, o princípio da igualdade reflete, hoje, fortemente nas relações de família, pautando a igualdade entre os cônjuges, companheiros, filhos e entidades familiares. O pátrio poder, no qual o homem (pai) detinha o poder de decisão exclusivo na família, foi ultrapassado e, o texto constitucional e o Código Civil de 2002 inaugurou o poder familiar.
Os titulares do poder familiar são os pais, sem distinção, cabendo a eles as responsabilidades inerentes à família com as responsabilidades de criar, educar, guardar, manter e representar os filhos.
Já o direito de propriedade, também matéria tipicamente privada, está previsto no artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal, integram o rol de direitos e garantias fundamentais e, no artigo 170, inciso II. Como direito fundamental e segundo o princípio da ordem econômica, traz consigo o dever intrínseco de cumprimento de sua função social.
A função social da propriedade surge com o condão de promover o bem comum, enfatizando o papel de cada indivíduo para o bem-estar coletivo e, ainda, o respeito aos direitos individuais de cada um. O que acarreta limitações ao exercício de domínio pelo proprietário.
Também o contrato pode ser definido como acordo de vontades que gera obrigações para ambos ou apenas para um dos contraentes. Segundo a boa doutrina, é a mais comum e relevante fonte de obrigação, devido as suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico.
Chega-se até afirmar que, atualmente, não existe propriamente autonomia privada na celebração de contratos nos moldes concebidos pelo legislador, vez que o Estado também impõe limitação à autonomia das vontades.
Deixaram os contratos de serem campos livres exclusivos de atuação da autuação da autonomia da vontade, devendo estes seguir inúmeras e rigorosas regras com o fim de garantir que cumpra sua função social. Deve o Estado intervir no contrato para restaurar o equilíbrio com as partes.
Lembremos que a eficácia dos direitos fundamentais, a necessidade de se proteger o indivíduo dos abusos de poder do Estado, posicionando a pessoa humana como centro de todo ordenamento jurídico.
Referências
ALVARENGA, Lucia Barros Freitas de. Direitos humanos, dignidade e erradicação da pobreza: Uma dimensão hermenêutica para a realização constitucional. Brasília: Brasília Jurídica, 1998.
BAPTISTA, Mariana Moreira Tangari. Dez Anos do Código Civil. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeII/10anoscodigocivil_volII_44.pdf Acesso em 04.0.2022.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria da Constituição. São Paulo: Ed. Resenha Universitária, 1979.
BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
BARROSO, Luís Alberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
BARROSO, Luís Roberto. Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and in the Transnational Discourse. Boston College International and Comparative Law Review, v. 35, n. 2, p. 331-393, 2012.
BASTOS, Celso Ribeiro. As modernas formas de interpretação constitucional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência política. São Paulo, ano 6, n. 24, p. 45-50, jul./set. 1998.
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
BUENO, Cássio Scarpinella, “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Editora Saraiva, 2007, p. 239-240.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Os desafios do judiciário: um enquadramento teórico. In: FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 30-51.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 1992.
DA SILVA, Maria Coeli Nobre. O juiz social: postura exigida numa sociedade de desigualdades. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/download/4567/3437/8259. Acesso em 04.03.2022.
FABIANO, Alexandre Guilherme. Estado democrático de Direito, jurisdição e devido processo legal. Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5691/Estado-democratico-de-Direito-jurisdicao-e-devido-processo-legal Acesso em 04.0.2022.
FRIAS, Lincoln. A ética do uso e da seleção de embriões. Florianópolis: Ed. UFSC, 2012.
FRIAS, Lincoln. O argumento do valor intrínseco da vida humana contra a morte de embriões humanos. Ethic@, v. 11, n. 3, 2013.
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Fabris, 1998.
MACKLIN, Ruth. Dignity is a useless concept. British Medical Journal, London, n. 327, 2003.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999.
MCMAHAN, Jeff. The ethics of killing: problems at the margins of life. Oxford: Oxford University Press, 2002.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais. 2ª. ed. Coimbra: Coimbra, Tomo IV, 1988.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana e a Constituição brasileira de 1988. Revista dos Tribunais São Paulo, n. 833, p. 41-53, mar. 2005.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
SARLET, Ingo Wolfgang. Comentário ao art. 1º, III. In: CANOTILHO, José Joaquim G. et al. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 121-128.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e direito privado. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 61, p. 90-125, jan.-mar. 2007.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 5ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público. Lisboa: Cosmos, 1996.
WOLKMER, Antônio Carlos. Crise da justiça e democratização do direito. v. 1.Joaçaba: UNOESC, 1999.
______ . Ideologia, Estado e direito. 3ª ed. V. 1. São Paulo: RT, 2000.
[1] O Estado social de direito é aquele que se ocupa dos direitos de segunda geração, que exigem atitudes efetivas do Estado. São os direitos culturais, econômicos e sociais. O Estado de bem-estar social (welfare state) é a postura social e econômica adotada pelo governo com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais através de políticas de distribuição de renda, medidas assistencialistas e fornecimento de serviços básicos. No Estado de bem-estar social, é dever do governo garantir aos indivíduos o que se chama, no Brasil, de direitos sociais: condições mínimas nas áreas de saúde, educação, habitação, seguridade social, entre outras. Ademais, em momentos de crise e de desemprego, o Estado deve intervir na economia de forma que se busque a manutenção da renda e do trabalho das pessoas prejudicadas com a situação do país. Isso foi feito, por exemplo, nos EUA, na década de 1930, em que os níveis de desemprego ultrapassaram a taxa de 25%. Outro ponto central do welfare state é a existência de leis trabalhistas, que estabelecem regras nas relações entre empregado e empregador, como salário-mínimo, jornada diária máxima, seguro-desemprego, etc.
[2] As principais características do Estado liberal são: Liberdade individual: Em um Estado liberal os indivíduos possuem liberdades que não podem sofrer interferências do governo. Assim, os indivíduos podem se envolver em qualquer atividade econômica, política ou social em qualquer nível, desde que não viole os direitos de outrem. Igualdade: Em um Estado liberal, a igualdade é obtida através do respeito ao individualismo de cada pessoa. Isso significa que todos devem ser tratados da mesma forma, independente do gênero, idade, religião ou raça, observando-se sempre suas diferenças a fim de proporcionar a todos as mesmas oportunidades. Tolerância: A tolerância é consequência da igualdade com que o governo trata os indivíduos no Estado liberal, no qual todos têm a oportunidade de serem ouvidos e respeitados, mesmo durante greves e manifestações. Liberdade da mídia: A mídia opera de forma imparcial e não está vinculada ao governo nos Estados liberais. Dessa forma, os meios de comunicação podem publicar informações de forma livre e não tendenciosa, especialmente sobre assuntos políticos. Livre mercado: Nos Estados liberais predomina a chamada “mão invisível do mercado” que consiste na ausência de intervenção do governo na economia. Assim, qualquer indivíduo pode exercer atividades econômicas e, dessa forma, o mercado se autorregula. O Estado liberal é o estado garantidor dos chamados direitos de primeira geração, que são de caráter individual e negativo, uma vez que exigem a abstenção do Estado. Esses direitos são considerados fundamentais e estão relacionados à liberdade, aos direitos civis e políticos.
[3] O Estado de Direito teve início depois da Revolução Francesa, que marcou o fim do absolutismo e a instauração de um sistema de governo parlamentarista. Durante o antigo regime – o absolutismo -, o governante detinha poder máximo e, dessa forma, não precisava respeitar nenhuma lei vigente. Contudo, com o fim desse regime e com o advento do parlamentarismo, passou a vigorar o que chamamos de Estado de Direito. Essa forma de Estado foi justificada pelo teórico John Locke em seu livro “Segundo Tratado sobre o Governo”. Para ele, o estado de natureza do ser humano não era um estado de ausência absoluta de leis como para Hobbes, mas, sem que houvesse um Estado para mediar os conflitos, o homem usaria a força para satisfazer seus interesses próprios. No momento que isso acontecesse, entraríamos em um estado de guerra que só teria fim com o estabelecimento de um contrato em que as pessoas renunciassem seus direitos de aplicar a leis para o Estado, para que este, por sua vez, distribuísse com equidade os direitos de cada um. O Estado Democrático de Direito é uma forma de Estado em que a soberania popular é fundamental. Além disso, é marcado pela separação dos poderes estatais, a fim de que o legislativo, executivo e judiciário não se desarmonizem e comprometam a soberania popular. Outro ponto importante que caracteriza essa forma de Estado é o respeito aos Direitos Humanos que são fundamentais e naturais a todos os cidadãos. Assim, é possível perceber a importância do que está escrito
no artigo 1º da Constituição Federal, que foi exposto no início do texto. Ou seja, o Estado Democrático de Direito permite que nos organizemos em uma sociedade minimamente justa e estável, com relações de poder que tragam mais benefícios que prejuízos.
[4] Como se tem procurado evidenciar, inclusive com o objetivo de assegurar o respeito aos valores fundamentais da pessoa humana, o Estado deve procurar ao máximo de juridicidade. Assim é que se acentua o caráter de ordem jurídica, na qual estão sintetizados os elementos componentes do Estado. Além disso, ganham evidência as ideias da personalidade jurídica do Estado e da existência, nele, de um poder jurídico, tudo isso procurando reduzir a margem de arbítrio e discricionariedade e assegurar a existência de limites jurídicos à ação do Estado. A Jurisdição, sob o prisma constitucional, é o Poder-dever do Estado-Juiz, através de magistrados legal e legitimamente investidos no cargo, de dizer o direito em um determinado território. Cássio Scarpinella Bueno complementa o conceito apresentado acima, em afirmar que “a jurisdição, diferentemente da compreensão que lhe emprestou a doutrina tradicional do direito processual civil, não se restringe, apenas, à declaração jurisdicional do direito. Jurisdição não é só reconhecer, no sentido de declarar quem tem e quem não tem um direito digno de tutela (proteção) perante o Estado, ao contrário do que a etimologia da palavra poderia dar entender. A jurisdição envolve também, pelo menos à luz do modelo constitucional do processo civil brasileiro, as medidas voltadas concretamente à tutela (à proteção) do direito tal qual reconhecido pelo Estado-juiz”.
[5] Cinco dimensões de direitos fundamentais. A primeira dimensão e o Estado Liberal; A segunda dimensão e o Estado-Providência; Terceira dimensão, valor da solidariedade; Quarta e quinta dimensão. quarta geração ou dimensão reputa direitos que concernem ao futuro da cidadania e da liberdade de todos os povos na globalização, referentes ao direito à democracia, ao direito à informação e ao direito ao pluralismo. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal[20], através do Ministro Ricardo Lewandoski, aventou que os direitos de quarta geração são decorrentes do avanço da tecnologia da informação e da bioengenharia, como a proteção contra as manipulações genéticas. De outra banda, há autores, como o próprio Paulo Bonavides, que defendem uma quinta geração ou dimensão de direitos fundamentais.
Esta seria a paz, que é um direito superior e garantidor da sobrevivência digna na terra.
[6] Os direitos de primeira geração constituem-se em direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. Os direitos de segunda geração são os denominados direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividade, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado Social depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e os estimula. Os direitos fundamentais de terceira geração são decorrentes da consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento. Tais direitos permitiram que em seguida fosse buscada uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a fraternidade, e provida de uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção específica de direitos individuais ou coletivos. Portanto, os direitos de terceira geração dizem respeito ao: direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e direito de comunicação. Os direitos fundamentais de quarta geração dizem respeito ao direito à democracia, ao direito à informação e ao direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta e humanista do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de conveniência.
[7] Na “Velha Hermenêutica” interpretava-se a lei à exaustão, por meio de operações lógicas. Na “Nova Hermenêutica”, concretiza-se o preceito constitucional, o que significa interpretar com criatividade[1] (BONAVIDES, 2000, p. 585). As regras tradicionais de interpretação, que operam pela “abstração do problema concreto a decidir” e, em seguida, “a subsunção em forma de conclusão silogística com o conteúdo da norma” (ALVARENGA, 1998, p. 90-91), perdem lugar no contexto da interpretação constitucional. No que pesa à hermenêutica constitucional, a contribuição de Konrad HESSE (1998, p. 61) foi levar o foco do procedimento de realização do Direito Constitucional para as particularidades concretas das condições de vida, aliadas ao contexto normativo. “Interpretação constitucional é concretização.” Nesse panorama da concretização, ou da “Nova Hermenêutica” (BONAVIDES, 2000, p. 544), não há lugar para os métodos tradicionais de interpretação, instituídos por Savigny (gramatical, sistemático, histórico, teleológico), em si mesmo considerados[3], haja vista a Constituição não oferecer critérios inequívocos, seguros, que proporcionem diretrizes suficientes: “onde nada de unívoco está querido, nenhuma vontade real pode ser averiguada” (HESSE, 1998). Sendo a norma indeterminada, ela não pode ser fundamento único para a interpretação (ALVARENGA, 1998).
[8] É preciso reconhecer, entretanto, que compreender o princípio da dignidade humana como respeito à autonomia apenas torna a noção menos controversa, não a torna imune a dúvidas. Ao menos duas delas merecem ser mencionadas. Um problema que aparece ao condicionar a dignidade humana à capacidade de ter autonomia está no fato de que nem todos os seres humanos a possuem, por exemplo, as crianças e os portadores de deficiências mentais graves. Isso implicaria que eles não são dignos, não merecem igualdade de consideração. Por isso, as questões do descarte de embriões e do aborto provocam grande controvérsia sobre o início da personalidade jurídica, pois nesses estágios do desenvolvimento ainda não é biologicamente possível haver as capacidades mentais necessárias para a autonomia (FRIAS, 2012; FRIAS, 2013). Contudo, uma dificuldade ainda maior está no caso dos indivíduos que nunca terão o desenvolvimento cognitivo suficiente para ter autonomia. Esse é um tema bastante controverso entre bioeticistas – McMahan (2002, p. 203-230) apresenta e analisa a literatura pertinente – e não é possível analisá-lo adequadamente aqui. Uma alternativa (não sem problemas) seria reconhecer que a justificativa para dar igualdade de consideração a seus interesses está, não na dignidade, mas sim na compaixão para com seu sofrimento e suas limitações.
[9] As questões básicas da justiça social são: Por que existem desigualdades? Elas são justas? Como lidar com essas desigualdades? Algumas pessoas entendem que para fazer justiça social basta redistribuir recursos materiais na sociedade. Outras pessoas pensam que é preciso garantir a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. E há, também, quem ache que a justiça social exige um certo tipo de reconhecimento das identidades, que não ocorre com a mera distribuição de recursos e oportunidades. É no debate entre essas vertentes que surgem as grandes discussões sobre justiça social. Assim, pensar em justiça social é, de maneira geral, aceitar que a sociedade não precisa ser como é e que desigualdades existem não porque o mundo é assim, ou porque é algo natural, mas porque foram e são feitas escolhas. E se é assim, então a sociedade pode ser diferente. A sociedade pode escolher formas para lidar com as desigualdades, as quais passam pela redistribuição, pelo reconhecimento ou pelas duas coisas juntas.
[10] Augusto Teixeira de Freitas (19 de agosto de 1816 — 12 de dezembro de 1883) foi um jurisconsulto brasileiro, reconhecido como o jurisconsulto do império. Sua obra constitui objeto de profundos estudos acadêmicos até os dias de hoje, no Brasil e no exterior. É denominado de Jurista Excelso do Brasil. Escreveu o Esboço do Código Civil para o Império do Brasil. Chamou de esboço, pois acreditava que faltava ainda muito para torná-lo um código. Misto de Ulpiano, Cujácio e Savigny, Teixeira de Freitas, adotando uma posição intermediária entre a teoria normativo-intelectualista e a teoria imperativa ou voluntarista, entendendo a lei como um dever-ser imperativo, não provindo propriamente da vontade do legislador, mas do que o bem comum exige, delineou tanto no Esboço quanto na Consolidação das leis civis o problema dos valores jurídicos fundamentais. Uma vez que os valores são o fundamento necessário do dever-ser contido nas normas, a lei só pode ordenar positivamente coisas justas e honestas.
[11] Código instituído pela Lei n° 3.071, de 1º de janeiro de 1916, também conhecido como Código Beviláqua. Entrou em vigor em janeiro de 1917 e permaneceu vigente no país até janeiro de 2002. Seus 2.046 artigos aparecem divididos em dois grandes blocos: Parte geral e Parte especial. A primeira parte é composta de três livros intitulados: Das pessoas, Dos bens e Dos fatos jurídicos; quatro livros compõem a Parte especial: Do direito de família, Do direito das coisas, Do direito das obrigações e Do direito das sucessões.