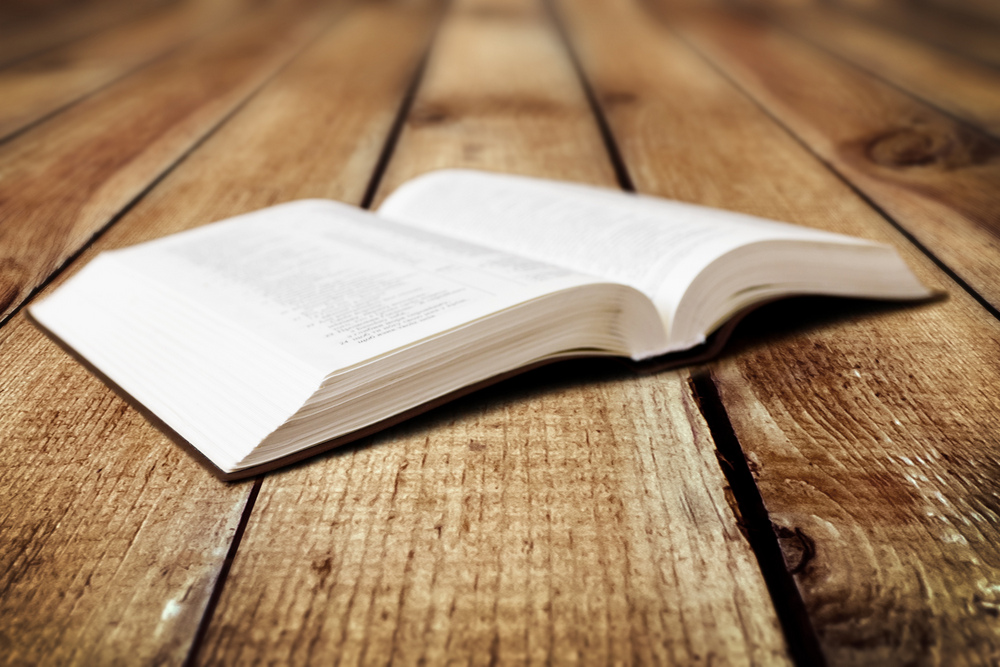ESPECIAL: STJ* – Mirar em algo e acertar em coisa diversa. A descoberta de provas ao acaso tem sido valiosa para as autoridades policiais desvendarem a ação criminosa. Um exemplo recente é a operação Lava Jato.
Seu objetivo inicial era desarticular quatro organizações criminosas lideradas por doleiros. O nome da operação vem do uso de uma rede de postos de combustíveis e de lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações investigadas.
No curso das investigações, o Ministério Público Federal recolheu elementos que apontavam para a existência de um esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras – segundo o MPF, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro a que o Brasil já assistiu.
O fenômeno chamado de serendipidade consiste em sair em busca de algo e encontrar outra coisa, que não se estava procurando, mas que pode ser ainda mais valiosa. A expressão vem da lenda oriental Os três príncipes de Serendip, viajantes que, ao longo do caminho, fazem descobertas sem ligação com seu objetivo original.
Objeto claro
O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX).
No artigo intitulado Natureza jurídica da serendipidade nas interceptações telefônicas, o professor Luiz Flávio Gomes explica que a Lei 9.296/96 determina que a autorização judicial de escuta deve trazer a descrição clara da situação objeto da investigação e a indicação e qualificação dos investigados.
Ocorre que, no curso de alguma interceptação ou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, podem surgir informações sobre outros fatos penalmente relevantes, nem sempre relacionados com a situação que estava sendo investigada, e que, como consequência, envolvem outras pessoas.
Conexão
A discussão sobre a validade dessas provas encontradas casualmente já foi travada em julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e tem evoluído. De início, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceram a orientação de que, se o fato objeto do encontro fortuito tem conexão com o fato investigado, é válida a interceptação telefônica como meio de prova.
Em alguns julgados mais recentes, tem sido admitida a colheita acidental de provas mesmo quando não há conexão entre os crimes.
No dia 15 de abril, o ministro João Otávio de Noronha abordou o tema na sessão em que a Corte Especial recebeu denúncia contra envolvidos em um esquema de venda de decisões judiciais no Tocantins (APn 690).
Naquele caso, a investigação inicialmente foi proposta para apurar uso de moeda falsa, mas a Justiça Federal no Tocantins percebeu que as escutas telefônicas revelavam possível negociação de decisões judiciais praticada por desembargadores. A investigação foi, então, remetida ao STJ, por conta do foro privilegiado das autoridades.
O ministro ponderou que a serendipidade “não pode ser interpretada como ilegal ou inconstitucional simplesmente porque o objeto da interceptação não era o fato posteriormente descoberto”. Ele esclareceu que deve ser aberto novo procedimento específico, como de fato ocorreu no episódio, e afirmou que seria impensável entender como nula toda prova obtida ao acaso.
A opção dos ministros tem sido por essa orientação, de que a prova é admitida para pessoas ou crimes diversos daquele originalmente perseguido, ainda que não conexos ou continentes, desde que a interceptação seja legal.
Anteriormente, em 2013, Noronha já havia destacado posição idêntica, de que o estado não pode quedar-se inerte ao tomar conhecimento de suposta prática de crime (APN 510). “O encontro fortuito de notícia de prática delituosa durante a realização de interceptações de conversas telefônicas devidamente autorizadas não exige a conexão entre o fato investigado e o novo fato para que se dê prosseguimento às investigações quanto ao novo fato”, disse em seu voto vencedor.
Crimes diversos
Em 2013, no HC 187.189, o ministro Og Fernandes afirmou que é legítima a utilização de informações obtidas em interceptação telefônica para apurar conduta diversa daquela que originou a quebra de sigilo, desde que por meio dela se tenha descoberto fortuitamente a prática de outros delitos. Caso contrário, “significaria a inversão lógica do próprio sistema”.
O caso julgado tratava de denúncia formulada pelo MPF a partir de desdobramento da operação Bola de Fogo, cujo objetivo era apurar a prática de contrabando e descaminho de cigarros na fronteira. No entanto, a denúncia foi por outros crimes – formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Por isso, a defesa sustentava a ilegalidade das provas e queria o trancamento da ação penal.
Og Fernandes asseverou que não houve irregularidade na investigação. “Não se pode esperar ou mesmo exigir que a autoridade policial, no momento em que dá início a uma investigação, saiba exatamente o que irá encontrar, definindo, de antemão, quais são os crimes configurados”, disse.
O ministro entende que somente se dá início a uma investigação para descobrir algo que não se sabe ao certo se aconteceu nem como aconteceu. “Logo, é muito natural que a autoridade policial, diante de indícios concretos da prática de crimes, dê início a uma investigação e, depois de um tempo colhendo dados, descubra algo muito maior do que supunha ocorrer”, concluiu.
Dever funcional
No julgamento do HC 189.735, o ministro Jorge Mussi enfatizou que se a autoridade policial, em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas, é sua obrigação apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico.
Já no HC 197.044, o ministro Sebastião Reis Júnior advertiu que é preciso haver equilíbrio entre a proteção à intimidade e a quebra de sigilo. Para ele, não pode haver uma devassa indiscriminada de dados, mas, se a interceptação telefônica é lícita, como tal captará licitamente toda a conversa. “Havendo indícios de crime nesses diálogos, o estado não deve se quedar inerte; cumpre-lhe tomar as cabíveis providências”, declarou.
Participação de terceiro
Ao julgar o RHC 28.794, em 2012, a Quinta Turma entendeu que a jurisprudência aceita a possibilidade de se investigar um fato delituoso de terceiro descoberto fortuitamente, desde que haja relação com o objeto da investigação original. O caso envolvia a interceptação de um corréu e resultou em denúncia por corrupção passiva contra esse terceiro, que não era o objetivo da investigação.
A ministra Laurita Vaz, relatora, frisou que “a descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação”. Tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros, destacou a magistrada em seu voto.
No HC 144.137, o ministro Marco Aurélio Bellizze também reconheceu que a interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou para o indiciado que constam do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A investigação tratava de corrupção no Ibama, e as escutas recaíram sobre um servidor do órgão. Porém, o Ministério Público ofereceu denúncia por corrupção ativa contra um empresário, supostamente beneficiado pelo esquema.
“Ora, a autoridade policial, ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico, não poderia antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir”, disse o ministro. Segundo ele, tudo o que for obtido na escuta judicialmente autorizada será lícito, e novos fatos poderão envolver terceiros inicialmente não investigados.
Crime futuro
Quando se tratar de notícia da prática futura de crime, há precedente do STJ segundo o qual não se deve exigir a demonstração de conexão entre o fato investigado e aquele descoberto por acaso em escutas legais (HC 69.552). Para o relator, ministro Felix Fischer, além de a Lei 9.296/96 não exigir tal conexão, o estado não pode ficar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado, tanto mais porque a violação da intimidade se deu com respaldo constitucional e legal.
No caso, as interceptações eram direcionadas a terceiro alheio ao processo, mas revelaram que uma quadrilha pretendia assaltar instituições bancárias. Felix Fischer esclareceu que nem sempre são perfeitas a correspondência, a conformidade e a concordância previstas na lei entre o fato investigado e o sujeito monitorado.
De acordo com o ministro, a partir de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, pode-se tomar conhecimento da eventual prática de infrações penais diversas daquela que deu ensejo à decretação da medida. “Pode ser, também, que haja a descoberta da participação de outros envolvidos no crime. Enfim, inúmeras possibilidades se abrem”, completou.
Para Fischer, a exigência de conexão entre o fato investigado e o fato encontrado fortuitamente só se coloca para as infrações penais passadas. Quanto às futuras, “o cerne da controvérsia se dará quanto à licitude ou não do meio de prova utilizado, a partir do qual se tomou conhecimento de tal conduta criminosa”.
Desmembramento
A utilização da interceptação telefônica como ponto de partida para nova investigação foi reconhecida como válida no julgamento do HC 189.735. Naquele caso, a operação Turquia investigou irregularidades na importação de medicamentos, mas após meses de monitoramento, concluiu-se que os suspeitos haviam desistido da ação. No entanto, as interceptações revelaram relações “promíscuas” de servidores públicos com a iniciativa privada.
Foi feito, então, o desmembramento do inquérito para a apuração dessas outras condutas, o que ensejou a operação Duty Free, com autorização de escutas sobre novos agentes, supostamente membros de uma quadrilha formada para praticar diversos crimes que não guardariam relação com os fatos antes investigados na operação Turquia.
“Perfeitamente possível que, diante da notícia da prática de novos crimes em interceptações telefônicas autorizadas em determinado procedimento criminal, a autoridade policial inicie investigação para apurá-los, não havendo que se cogitar de ilicitude”, comentou o ministro Jorge Mussi em seu voto.
Sigilo bancário e fiscal
O encontro fortuito de provas de delitos que não são objeto da investigação pode ser dar também na quebra de sigilo bancário e fiscal. No HC 282.096, a Sexta Turma reconheceu a legalidade das provas que levaram a uma denúncia por peculato, crime que não havia dado ensejo às quebras.
O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, mencionou que o fato de as medidas de quebra do sigilo bancário e fiscal não terem como objetivo inicial investigar o crime de peculato não conduz à ausência de elementos indiciários acerca desse crime.
Busca e apreensão
A Sexta Turma já analisou a serendipidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão. No RHC 45.267, o mandado autorizava apreender documentos e mídias em determinado imóvel pertencente à investigada, suspeita de receber propina em razão de cargo público. Ocorre que, no cumprimento da medida, a polícia acabou apreendendo material que foi identificado como do marido da investigada.
A polícia, então, ao analisar o conteúdo, constatou diversos indícios de que ele também teria participação no suposto esquema, especialmente na lavagem do dinheiro recebido pela mulher. Assim, a condição inicial de terceiro estranho à investigação se modificou. Ele passou a ser investigado e buscou, por meio de habeas corpus, o reconhecimento da ilegalidade da prova colhida no escritório da residência do casal, onde foi feita a busca.
A decisão da Sexta Turma foi por maioria (três a dois). A desembargadora convocada Marilza Maynard, cujo voto prevaleceu, ponderou sobre a dificuldade de a polícia identificar a propriedade de cada objeto apreendido, uma vez que a residência era comum do casal, e ali ambos habitavam e trabalhavam.
Ela também comentou que, em virtude de a perícia ter encontrado nos documentos apreendidos indícios de envolvimento do marido, era possível indiciá-lo com base nessas provas.
Flagrante
Em outro julgamento, também na Sexta Turma (RHC 41.316), os ministros analisaram um caso em que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados armas e cartuchos na residência do investigado, o que deu início a uma nova ação penal.
A relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, destacou em seu voto que, como o delito do artigo 16 da Lei 10.826/03 é permanente, o flagrante persiste enquanto as armas e munições estiverem em poder do agente. As provas encontradas fortuitamente foram consideradas legais.
FONTE: STJ, 26 de abril de 2015.