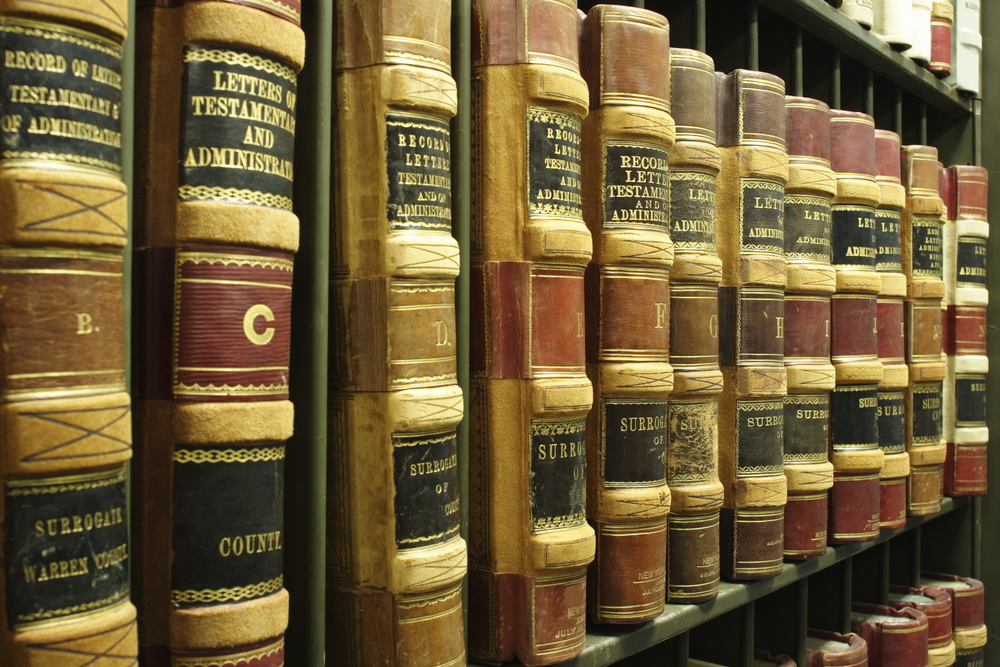Defesa do réu: a antítese processual no Novo Código de Processo Civil brasileiro.
Resumo:
O texto traça didaticamente a etiologia do direito de defesa e situando-o no Novo Código de Processo Civil brasileiro. Alude também aos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) que servem para esclarecer os dispositivos do novo CPC.
Palavras-chave: Novo CPC, Lei 13.105/2015, Defesa do réu. Respostas do réu. Neoprocessualismo.
O processo civil brasileiro rege-se pelo contraditório previsto expressamente no texto constitucional vigente. A definição judicial correspondente à decisão não poderá ser obtida unilateralmente e nem juízo impedido e suspeito.
É curial que oportunize que o autor manifeste a sua tese no bojo de sua exordial e, que o réu carreie sua antítese através de sua defesa, para que enfim a verdade construída apareça como num exame de contraste.
A obrigatoriedade de ouvir o réu é concretizada com a simples concessão de oportunidade para que se manifeste após a propositura da ação, mesmo que não exprima a rejeição à pretensão do demandante, ou que até mantenha-se omisso, restará satisfeito o contraditório.
É o que ocorre na revelia que o réu apesar de ciente e chamado a pronunciar-se, resta calado e inerte. Afirma-se que a defesa representa ônus[1] processual e, caso não seja suportado pela parte, não lhe gera in continenti um prejuízo.
Batiza-se a manifestação do demandado após a provocação do autor, de defesa e correspondente à reação do réu. Frustrada a tentativa da autocomposição do processo, na audiência preliminar de conciliação e mediação, ou não sendo o caso de sua designação, abre-se ao demandado a oportunidade de apresentar a sua resposta à demanda.
A resposta do réu é, pois, uma designação genérica que não se confunde com a defesa do réu posto que seja apenas uma das formas de o réu responder à demanda.
Assim, a resposta do réu poderá ser: a) reconhecimento da procedência do pedido do autor (art. 487, III, a do Novo CPC); b) requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo; c) a contestação; d) a reconvenção; e) a arguição de impedimento ou suspeição do juiz, membro do Ministério Público ou auxiliar da justiça (conciliadores, mediadores e demais serventuários); f) revelia.
É oportuno esclarecer que existem ainda outros mecanismos de defesa previstos no CPC ou até em leis especiais, como a impugnação ao valor da causa (também transformada em questão preliminar da contestação pelo novo CPC), impugnação da gratuidade de justiça e também a exceção de pré-executividade, dentre outras mais.
Geralmente o conteúdo da defesa traz a negação daquilo que o autor postulou daí, considerá-la, como antítese. No entanto, a lei admite outras atitudes do demandado podendo arguir defeitos que impossibilitam o prosseguimento do processo e, ainda, arguir questões indiretas de cunho material, como é o contra-ataque.
A reconvenção que pelo novo CPC passou a ser preliminar da contestatória, sem contudo, perder sua autonomia. Em verdade, com a reconvenção se pode gerar uma ação cumulativa contrastante, onde o réu passará a ser o autor e, ipso facto, o autor original passará a ser o réu.
A defesa do réu goza da mesma natureza jurídica e ratio essendi que justificam o direito de ação. E, corroborando tal entendimento expôs Redenti que a defesa complementa a ideia de ação, assim como a exceção.
Exceção, explicou Fredie Didier Jr., é vocábulo polissêmico e possui sentidos pré-processual, processual e substancial. E que seguem a mesma linha das acepções atribuídas à palavra “ação”, o que possibilita desenhar um paralelo entre elas.
Em sentido pré-processual, a exceção pode ser entendida como direito fundamental de defesa. Já no sentido processual, a exceção se revela em ser o meio pelo qual o réu se defende em juízo, representando, neste último caso, o exercício concreto do direito de defesa.
Assim, a exceção é, pois, a própria defesa. E, no âmbito processual mais restrito, a exceção é uma espécie de matéria que não poderia ser examinada ex officio pelo juiz.
Em sentido material, a exceção se relaciona com a pretensão, sendo um direito de que o demandado se valor para opor-se à pretensão, para neutralizar a sua eficácia ou extingui-la.
É uma situação jurídica que a lei material considera como apta a impedir ou postergar a eficácia de determinada pretensão, espécie de contradireito do réu em face do autor. Enfim, é uma pretensão que se exerce como contraposição à outra pretensão.
Há ainda a exceção interna que pode ser formulada nos próprios autos onde está sendo demandado o réu. No entanto, embora raro, é possível que o legislador imponha certa forma para o exercício da exceção que implique processamento autônomo, como autuação própria.
Chama-se de exceção instrumental, aquela que, para ser apreciada exige a formação de instrumento, ou seja, autos próprios que são autônomos e apensados aos autos principais.
Trata-se de opção legislativa que se baseia em critérios eminentemente operacionais, com o fito de facilitar o manejo da documentação processual.
Então, a exceção como instituto de direito material corresponde ao contradireito exercido pelo demandado, que visa neutralizar ou extinguir a eficácia do direito afirmado pelo demandante.
Há a exceção como instituto processual que corresponde à defesa, e, em sentido estrito, aquela que não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Poderá ainda ser processual como é o caso da alegação de incompetência relativa ou da existência de convenção de arbitragem. E, há a exceção substancial, quando se alega a existência de compensação.
A objeção[2] como instituto do direito processo é também qualquer defesa que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. É o caso da incompetência absoluta, a falta de interesse de agir, a inépcia da petição inicial. Por outro lado, a objeção substancial como a decadência legal, pagamento e, etc.
Desta forma como o direito de ação ou de agir é abstrato e pertine a qualquer pessoa, ainda que não tenha razão, o mesmo acontece com a defesa por decorrência da potestatividade do direito de agir e da submissão em que se encontra o réu sendo simultaneamente sujeito do processo[3] e sujeito ao processo.
A posição do demandado no processo faz da defesa a sua manifestação jusnaturalista, posto que seja inadmissível condenar o réu, sem sua prévia oitiva.
Devido a forte similitude da defesa com a ação levou doutrinadores a afirmar que o direito de defesa encerrava uma ação pela qual o demandado formulava um pedido declaratório negativo apenas visando à rejeição do pedido feito pelo autor.
Porém, o direito de defesa tem suas raízes nos princípios do contraditório, da ampla defesa e, principalmente, no devido processo legal que atualmente encontram-se constitucionalizados não podendo ser excluídos e nem mitigados de forma lesiva.
A bilateralidade da audiência significa o postulado máximo do Direito brasileiro, cuja violação inviabiliza a relação processual, gerando um defeito sobremodo grave que sobrevive ao próprio trânsito em julgado da decisão, por isso, pode ser arguido em qualquer tempo e grau de jurisdição, mercê de inutilizar a execução do julgado com efeito retroativo.
O direito de defesa é uma expressão da liberdade jurídica do réu e se opera pela apresentação formal da “resposta do réu” cujo conteúdo é vasto e que admite sua tripartição em contestação, exceção instrumental e reconvenção.
Efetivamente ao exercer a defesa pode o demandado se manifestar contra a validade e a existência da relação de direito material, ou ainda, vem arguir defeitos formais que inviabilizam a continuação do processo.
Porém, mesmo que a defesa processual ou indireta quando acolhida, acarreta a prática de atos por parte do autor, sob extinção do processo e, ainda, outras defesas dirigidas ao mérito inexoravelmente o término do processo, como por exemplo, a existência de prescrição e decadência.
Por outro lado, a arguição de litispendência implica na extinção do processo que se instaurou após a citação válida realizada originariamente no primeiro processo.
Chamam-se as defesas processuais de dilatórias, pois postergam a relação processual sem extingui-las. Ao passo que as defesas de mérito ou direta que são denominadas de peremptórias posto que acarretem o fim do feito.
A defesa de mérito é considerada direta, pois enfrenta a pretensão deduzida, dirige-se a causa petendi em relação a todos os seus elementos constitutivos.
A guisa de exemplo, a defesa direta numa ação de cobrança ocorre quando se nega a existência da obrigação ou a que se atribui o inadimplemento os efeitos jurídicos diversos daqueles apontados pelo suplicante.
O ordenamento contempla espécie de defesa de mérito que revela o contradireito do réu diante do autor e, que lhe serve não só de base para defesa como também de fato constitutivo de uma pretensão autônoma, dedutível perante o autor, em ação distinta.
As defesas chamadas de exceções materiais em contraposição as exceções instrumentais de incompetência, suspeição e impedimento, por se caracterizarem por representar um direito autônomo do demandado.
Ademais as defesas indiretas, o juiz poderá de ofício conhece-las. As objeções caracterizam-se pelos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, podem ser alegadas em qualquer tempo e até conhecidas de ofício pelo juiz.
Cumpre observar que as existências de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor dizem respeito à própria existência do direito alegado, e não o conhecer implica permitir que se criem “direitos novos” no processo, o que não corresponde à atividade de declaração, que é, por excelência, empreendida no processo de conhecimento.
Certas sentenças de procedência não ocorrem por força de criação de qualquer direito gerado pelo processo, senão pelo reconhecimento da preexistência do direito à modificação.
Em referência à formalidade da contestação, destacam-se certas matérias que devem ser alegados de pronto, pois certos temas poderão macular gravemente o processo, e até encerrar o processo, sem resolução do mérito, caso não seja possível sanear o feito.
As questões preliminares[4] são aquelas matérias defensivas que devem ser apresentadas pelo réu logo em seu início da peça de contestação, desde que seja previstas em lei processual. Atualmente, tendo em vista o Novo CPC são questões preliminares[5], as exceções, a impugnação do valor da causa, impugnação a gratuidade de justiça e a reconvenção.
Exemplificando se o réu alegar como preliminar de contestação a falta ou nulidade de citação, a incompetência absoluta ou conexão, estará apresentando defesas processuais dilatórias, eis que o acolhimento de quaisquer dessas questões acarreta apenas o prorrogar do curso processual.
Mas se forem alegadas as matérias referente à incapacidade da parte, direito de representação, a falta de autorização, caução ou outra contraprestação exigida em lei, corresponde inicialmente a defesas dilatórias, mas caso não sejam corrigidas tempestivamente, envolverão defesas peremptórias que motivarão o fim do processo.
As questões prejudiciais[6] podem ser compreendidas como qualquer matéria do tema que o magistrado tenha que enfrentar antes da resolução do mérito da causa eis que a solução da primeira acabe por condicionar a análise da segunda.
Muitas vezes, a resolução da questão prejudicial[7] é realizada no bojo da sentença. A questão prejudicial pode ser classificada em homogênea ou interna e heterogênea (ou externa). A primeira delas, ou seja, a homogênea é analisada nos próprios autos, muitas vezes resolvida no momento em que o juiz prolata sua sentença.
Cumpre assinalar que se a questão prejudicial é resolvida na fundamentação da sentença, sendo que a mesma não constitui a questão principal a ser definida no processo, razão pela qual a sua solução não será acobertada pelo manto da coisa julgada.
Eventualmente, a questão prejudicial homogênea até pode eventualmente ser transformada em uma questão principal e, com isso, se enfrentada no dispositivo com força de coisa julgada, caso uma das partes promova uma ação declaratória incidental (que fora suprimida pelo Novo CPC), se for uma das hipóteses permitidas em lei.
Por outro lado, as questões prejudiciais heterogêneas ou externas são as que estão sendo analisadas em outro processo distinto, tornando necessário aguardar a solução desta para se prossiga no outro feito. É o caso de investigação de paternidade com petição de herança, será necessária a indicação positiva da paternidade, para confirmar sua condição de herdeiro necessário, e, ipso facto seu direito sucessório.
Atualmente pela coisa julgada traçada pelo Novo CPC inclui-se na coisa julgada também o julgamento proferido sobre as questões prejudiciais.
No Direito francês as defesas processuais são chamadas de exceptio, muito embora sejam conhecíveis de ofício. Também o Direito germânico contempla as exceções materiais. No direito italiano[8] interessante notar que na seara processual penal, a presunção de inocência fora mitigada ao longo dos anos que antecederam aos regimes totalitários da primeira metade do século XX, em especial, os juristas italianos que viam no instituto uma noção irracional.
É o caso de Manzini que desenvolveu a presunção da não culpabilidade. (In: MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. Trad. Santiago Sentis Melendo e Mariano Ayerra Redín. Buenos Aires: Ed. Juridicas Europa-America, 1951).
A primeira das modalidades de resposta do réu é a contestação, sendo uma peça de defesa por excelência e exibe a maior oposição ao pedido do autor. Diferentemente, as exceções e reconvenção nem sempre são passíveis de dedução por não ocorrerem os motivos que as autorizam.
A prestação jurisdicional favorável ao réu é sempre declaratória. E, tal tutela pode ser outorgada ainda que sem pedido algum do réu, o que constitui outro traço diferenciador do direito de defesa, em face do ius actionis, uma vez que o autor somente obterá, por meio da ação, a tutela jurisdicional que nesta pediu e nos limites do que foi pedido.
A petição da contestatória é escrita, salvo nos procedimentos concentrados (sumariíssimos) quando pode ser oferecida oralmente para redução do essencial nos termos lavrados da audiência.
Sob a lógica da defesa, as questões formais que inviabilizam a ação e o processo antecedem as defesas voltadas para o mérito, por essa razão, são denominadas de “questões preliminares”, em trono das quais gravitam discussões meramente formais, como a coisa julgada, a carência de ação, a incompetência absoluta, a invalidade da citação e, etc.
O princípio da eventualidade que informa a defesa implica que, segue-se às questões preliminares a arguição das defesas indiretas de mérito, chamadas de objeções, consistentes nos fatos extintivos do direito do autor, também chamadas de questões prévias de mérito.
Em seguida, cumpre ao réu deduzir, se existentes, as exceções materiais para, no final, obedecendo ao princípio da eventualidade realizar a defesa direta.
A eventualidade autorizada e recomendada tem como consequência a preclusão imposta ao réu, que após a contestação, não pode suscitar questões não ventiladas na defesa.
Outro desdobramento da adoção da eventualidade é o ônus da impugnação especificada. Então, o pedido do autor gera para o réu o ônus da defesa e o ônus da impugnação especificada dos fatos afirmados pelo demandante.
Deduzimos que a verdade dos fatos que o processo revela deve resultar do trabalho bilateral do autor e do réu. O pedido nem sempre se sustenta numa causa petendi simples, composta apenas de um fato objetivo, mas de fatos complexos homogêneos ou heterogêneos entre si.
A defesa ainda não especificada no seu conjunto alcança todo o conteúdo impugnável. O legislador brasileiro em face da inércia do réu permite que o juiz presuma verdadeiros, esses fatos constitutivos da pretensão do autor.
A inércia total do réu corresponde à revelia e, a inércia parcial, se dá quando o réu não cumpriu o ônus da impugnação especificada, que figura como norma in procedendo probatória, da qual se pode valer o juiz na apreciação dos fatos não impugnados.
A similitude dos efeitos do descumprimento do aludido ônus com aqueles atribuídos à revelia, mas existem exceções a essa regra. Também não vige a obrigatoriedade da impugnação especificada quando se revelam circunstâncias indicadoras de certas dificuldades no exercício do direito de defesa.
E tal exceção se aplica aos que exercem múnus público é o caso do curador especial de réu revel citado por edital ou com hora certa e, também o advogado dativo, bem como o Ministério Público.
Ressalte-se que caso o revel compareça nos autos antes do julgamento, poderá impedir que ocorresse o julgamento antecipado que é um dos efeitos da revelia. E a jurisprudência consagra como extrapolantes dos efeitos do art. 320 do CPC/73 (vide art.345 do novo CPC), a Fazenda Pública e a Defensoria Pública.
O prazo para contestar é de quinze dias úteis a partir da ciência inequívoca. A reconvenção é modalidade de resposta do réu e que consiste em pedido diverso do da mera rejeição da demanda, revela-se em contra-ataque.
A reconvenção é, portanto, uma ação do réu contra o autor, diferenciando-se da contestação, na medida em que esta representa um ônus do réu, ao passo que aquela, a reconvenção, é mera faculdade, haja vista que à pretensão deduzida em contra-ataque poderá sê-lo em ação distinta e noutra oportunidade.
Há casos em que o réu pode formular pedido na própria contestação como ocorre nas ações dúplices[9], como por exemplo, na ação possessória em que se admite que o demandado formule pedido[10] de proteção possessória na própria contestação; como também na ação renovatória.
Com a reconvenção faz surgir uma cumulação objetiva de pedidos onde o juiz numa só sentença julgará a ação principal e a reconvenção, revelando a influência do princípio da economia processual.
A defesa do réu é bem ampla sendo possível a articulação de defesas formais voltadas contra a ausência de pressupostos tais como a competência do juiz. A competência se refere à porção de jurisdição que, confere aptidão para julgar o caso concreto conforme a repartição e organização judiciária.
Quanto à compatibilidade do juiz se entende uma atuação insuspeita e desimpedida do juiz agindo com isenção e imparcialidade.
A incompetência relativa argui-se por meio de exceção, que também seguiu a mesma sorte da reconvenção que se tornou uma mera preliminar da contestação.
Quem arguir a exceção é chamado de excipiente e, a parte adversa é chamada de excepto. Em regra manejada no prazo da contestação, mas se a incompetência estiver oculta, não estará sujeita a preclusão, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição e pode ser caso seja incompetência absoluta declarada de ofício.
A exceção enseja suspensão processual pelo CPC/73. Portanto, recebida e, não apenas oferecida, o processo permanece suspenso até que seja definitivamente julgada. Pelo novo CPC como se trata de preliminar comum, não acarreta a suspensão processual, mas por outro lado, reputam-se válidos os atos processuais praticados mesmo pelo juízo incompetente, e seguindo a tendência de maior saneabilidade eu possível do processo.
No entanto, a redação da Lei 11.280/2006 amenizou os rigores dos efeitos da revelia ao prever que contra o revel, ainda que sue advogado esteja nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, contando-se a partir da publicação de cada ato decisório. E, poderá o réu intervir nos autos recebendo-os no estado em que se encontrar.
Sem a efetividade da defesa restaria abalada a legitimidade tanto do direito de ação como do direito de defesa que não representa a um direito a uma sentença favorável, mas não pode ser reduzido a um direito à solução do litígio.
Mas o direito a defesa não corresponde ao direito de obtenção de tutela do direito material. Pois o réu não tem direito à tutela de direito material, mas a tutela jurisdicional que nega o pedido do autor.
A idoneidade da defesa depende da possibilidade de o réu efetivamente poder negar ao pedido feito pelo autor através também do seu exercício de ação. Embora possa ser limitado em hipóteses excepcionais, devido pela necessidade de se obter efetiva tutela jurisdicional de direito.
O direito de defesa também consiste no direito de exercer as posições jurídicas inerentes ao processo justo e, portanto, podendo influir no convencimento do juiz.
Assim como no direito de ação quando se exige técnicas processuais adequadas, também o direito de defesa rege-se pelos meios adequados.
Tal simetria espelha a isonomia e a paridade de armas. Do direito de defesa decorre o direito ao procedimento adequado. Mas nem todo procedimento atende ao direito de defesa, deve-se se verificar conforme o direito material e os valores consagrados na Constituição Federal brasileira.
A lei ao limitar o direito de defesa deve atender as necessidades do direito material e aos valores constitucionais. Afinal, o réu igualmente tem direito ao procedimento adequado.
Caso o autor tenha direito à tutela antecipada do direito, o réu também deve ter direito ao meio adequado e célere para impugnar a sua concessão, o que permite a cassação da liminar posto que incida logo e direto em sua esfera jurídica.
O juiz ao determinar a modalidade de tutela executiva adequada e a medida necessária, por essa razão, é munido de amplos poderes. Portanto, o direito de ação não se exaure com a mera propositura da ação, o direito de defesa não se basta pela apresentação de contestatória, consistindo-se na possibilidade de o réu efetivamente agir e reagir em juízo.
A questão do acesso à justiça, portanto, propõe a problematização do direito de ir a juízo, seja para pedir a tutela jurisdicional, seja para se defender.
O direito à assistência judiciária gratuita significa o direito a advogado, a isenção de pagamento de custas e despesas processuais bem como o direito de produção de provas de forma gratuita, o que garante participação efetiva tanto do réu como do autor.
O significado da ampla defesa vai desde a defesa participativa no processo de decisão do juízo, incluindo também expor o conteúdo necessário para que o réu possa se opor ao pedido do autor e à utilização do meio executivo adequado.
Porém há situações em que a limitação da defesa se faz necessária para permitir a efetividade da tutela do direito. Portanto, em face da tutela antecipatória do direito fundada na urgência, é possível postergar a realização da defesa, sendo após os efeitos a sobre a esfera jurídica do réu.
O direito de ação e de defesa em geral encontram-se em equilíbrio, mas não exatamente em simetria absoluta. A eventual restrição à defesa caso justificada racionalmente não fere o direito constitucional de ampla defesa.
O contraditório exprime o princípio da participação que se dá as partes e tanto legitima a atuação jurisdicional. O contraditório exterioriza a defesa.
Mas esta é exercida não só na fase inicial do processo, mas em todas as oportunidades de reação e manifestação do réu. Assim pelo contraditório aceita-se informar o réu que possui o ônus de defesa a ser utilizado no prazo adequado através de advogado e mediante provas cabais, assim materializa-se a sua participação ativa no processo.
O contraditório se compõe do cruzamento das atividades das partes no processo, de maneira que expressem seus interesses, formando um diálogo entre os sujeitos do processo. O paralelismo entre ação e defesa tem por finalidade assegurar aos litigantes a prática de qualquer ato processual idôneo para fazer valer em juízo os seus próprios direitos.
Bom salientar que recursos não concernem apenas à defesa, mas principalmente ao direito de ação. E, a dinâmica do contraditório não dispensa a possibilidade de provar, alegar, controlar a razão da decisão e, finalmente, de recorrer.
Oportuno foi Cappelletti ao afirmar que: “Contraditório significa o direito ao conhecimento e a participação, participar conhecendo, participar agindo (…)”.
A defesa, no processo civil, é apenas oportunizada, não sendo obrigatória. Simultaneamente ao defender-se que é um direito e um ônus processual. Portanto, ratifico que o réu não possui do dever de defender-se.
Mesmo sendo rebelde o réu, ou seja, incorrendo em revelia terá que arcar com as consequências que em geral traduzem em desvantagem para ele na relação jurídica processual.
O novo CPC admite duas formas de resposta à demanda. A contestação onde se opõe à pretensão do autor sendo um instrumento processual dotado de três características: global, formal e especificada.
Sendo global posto que deva o réu alegar toda a matéria de defesa pertinente que disponha sobre a causa de pedir e o pedido sob pena de preclusão.
Sendo formal, pois que exija uma ordem de apresentação da matéria de defesa, vindo em primeiro lugar as matérias processuais e, em segundo lugar, as matérias de mérito.
Sendo especificada posto que possua o réu o ônus de contra-argumentar cada alegação proferida na exordial pelo autor. Não o fazendo, operar-se-á a presunção de veracidade dos fatos não contestados, o que poderá também acarretar o imediato julgamento parcial da causa.
A defesa de mérito é atinente à tutela do direito material e pode ser direta ou indireta. Pode ainda o réu, apresentar reconvenção.
A relevância do estudo sobre a reconvenção lança diante do direito de ação uma nova dimensão, pois esta é a oportunidade de exercício por parte do réu, que expõe seu pedido ao se defender.
As defesas diretas de mérito são as que engam o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Ao passo que as defesas indiretas de mérito são aquelas que alegam fatos modificativos, impeditivos ou extintivos de direito do autor. O que amplia sensivelmente o debate sobre os fatos alegados.
O conceito mais difícil é de fato impeditivo. Por exemplo, quando o autor pede o pagamento de valor devido em virtude do contrato e o réu pode, negar que deve ao autor é o caso da exceção do contrato não cumprido.
O mesmo se dá quando o réu, sem negar a entrega da mercadoria comprada ou a prestação de fazer afirma que o adimplemento ocorrera de modo imperfeito ou incompleto. Há uma série de fatos que obstam a constituição do direito à tutela material como, por exemplo, a incapacidade da parte, a simulação e o dolo.
Contudo, a defesa de mérito direta não se resume apenas ao fato alegado, mas também ao efeito jurídico que o autor deseja retirar desse fato.
O ônus da prova pertine ao autor quanto ao fato constitutivo que alega na exordial e, ao réu em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
A lógica do ônus probatório segue a dialética onde o autor deve comprovar sua tese, até porque quem alega fato provavelmente está mais apto e próximo da fonte.
Na doutrina alemã a ausência de norma fixando a divisão do ônus da prova criou o pressuposto de que o autor deve provar o necessário para a tutela requerida e, o réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao pedido realizado na exordial.
O ônus da prova se descumprido pela parte indica que esta suportará o risco de resultado desfavorável. O réu não tem o ônus da prova na defesa direta, mas apenas na defesa indireta.
O réu não faz prova e, sim contraprova. A contraprova não visa apenas tirar a eficácia de fato constitutivo do direito do autor, visa mostrar a falsidade do documento que materializa o fato constitutivo alegado pelo autor.
Vigora a regra da comunhão ou aquisição da prova, o que significa que essa, uma vez requerida, adquire autonomia em relação à parte que pediu a sua produção, passando a importar ao juízo.
O juiz ao analisar o contexto probatório, pode valorar a prova em desfavor da parte que pediu a sua produção, ainda que essa não tivesse o ônus de produzi-la.
O fato de o réu requerer a produção de uma prova cujo ônus não é seu, não significa um querer assumir o ônus probatório que grava o autor, mas a vontade de influir sobre o convencimento para demonstrar que o fato constitutivo não existe.
A parte assume o risco de resultado da prova ou o ônus da prova no instante em que requer a sua produção. Quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, ou alega fatos que impliquem na modificação ou extinção do direito.
Não há como cogitar contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo. Não se pode assim cogitar em violação ao direito de defesa, desde que a inversão do ônus da prova, a sua dinamização, o julgamento com base em convicção de probabilidade ou de verossimilhança e o julgamento pelo risco causado sejam racionalmente justificado pelo juiz diante das peculiaridades do direito material evidenciado pelo caso concreto, além de ter sido dada prévia notícia do seu emprego.
Há de observar que segundo Hanns Prütting[11] o objetivo da prova não pode ser nunca a verdade objetiva (a chamada teoria objetiva), entendida como tal. A livre apreciação da prova se vincula com uma combinação de fatores objetivos e subjetivos.
Há a necessidade do direito de defesa ser pautado na proporcionalidade, com o respeito de forma menos restritiva para invasão da esfera jurídica do demandado mediante a execução.
Convém esclarecer que o possível julgamento antecipado do mérito nada tem a ver com a instituição da antecipação da tutela. A tutela provisória, quando sustentada na urgência, é anterior ao pleno desenvolvimento da defesa, sendo por isso fruto de cognição sumária e capaz de formar convicção baseada em probabilidade.
Do mesmo modo, a técnica antecipatória baseada na existência de defesa de mérito indireta infundada também se baseia em convicção baseada em probabilidade, pois antecipa o exercício da defesa relativa aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.
O juiz é obrigado a admitir como verdadeiros os fatos não contestados atribui ao não comparecimento um efeito que não está de acordo com a realidade social brasileira, já que equipara o não comparecimento à vontade de não se defender.
O julgamento liminar do pedido e de defesa não corresponde à violação ao direito de defesa. O réu é o principal beneficiado pelo instituto da improcedência liminar do pedido, uma vez que fica dispensada de convencer o juízo de primeiro grau a respeito da improcedência do pedido.
A distribuição do tempo do processo, fundamental para a preservação do princípio da isonomia, justificando a antecipação de tutela em caso de direito de defesa de mérito indireta infundada que requeira prova diferente da documental.
Afinal, tratar um direito evidente e um direito não evidente de igual forma é tratar da mesma maneira situações desiguais (Vittorio Denti).
O mandado de segurança constitui ação constitucional e, é disciplinado pelo art. 5º, LXIX e LXX e na Lei 12.016/2009[12].
A lógica da afirmação de que o mandado de segurança é a tutela do particular contra o Estado, deitam raízes em uma visão superada das relações entre o Estado e o particular. O mandado é encarado como instrumento de tutela de liberdades públicas, tem íntima correlação com os valores liberais que expressavam uma compreensível preocupação com a ingerência do poder político sobre a vida das pessoas.
Mas, com a criação do Estado do Direito não há mais razão para contrapor o indivíduo ao Estado, mas sim, para zelar por sua justa inserção na vida social e pelo exercício concreto dos novos direitos.
Afinal, como o objetivo do Estado não é mais apenas proteger os direitos naturais e imprescritíveis do homem, abandonou-se a política inicial de mera defesa de liberdades, tendo o Estado assumindo o papel de interventor mais enfático na esfera dos particulares para a satisfação das necessidades sociais.
Tal mudança do perfil do Estado deveria estar refletida não só a predisposição das tutelas jurisdicionais, mas, sobretudo, na mentalidade dos processualistas e operadores de direito que devem pensar no direito processual à luz dos valores constitucionais.
Na compreensão dos direitos fundamentais, não se pode mais cogitar apenas no velho direito de defesa que objetivava garantir o particular contra as agressões do poder público.
É trivial a afirmação de que o direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, bem como a de que fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano. Marinoni, Arenhart e Mitidiero apontam que se trata de equívoco, pois o que se prova são afirmações de fato.
O fato não pode ser adjetivado de certo, induvidoso ou verdadeira. O fato apenas existe ou não. Assim como o direito existe independente do processo, esse serve apenas para declarar que o direito afirmado existe.
Prova-se a afirmação do fato. Frise-se que a sentença limita-se a declarar a verdade de um enunciado, ou seja, que a afirmação de que o direito existe, e é de acordo com as provas produzidas nos autos e o juízo de compreensão do juiz, é verdadeira.
A expressão “direito líquido e certo” [13] não significa a qualidade de um direito subjetivo ou de uma situação jurídica desfrutada por alguém.
Não se refere a um conceito de direito material. Tal expressão não objetiva conferir um atributo a um direito ou a situação jurídica, até porque extraprocessualmente eles não podem ser qualificados dessa forma.
O direito líquido e certo procura identificar a qualidade de uma afirmação de direito em termos probatórios, refere-se a um conceito processual.
No writ[14], a afirmação da existência do direito deve ser mediante prova documental desde logo que deverá instruir a peça exordial. Se o direito afirmado exigir outra prova além da documental fica o juiz impossibilitado de examinar o mérito.
Preocupante é a situação da exceção de incompetência relativa em face do novo CPC, pois que conforme o rol taxativo do art. 313 trata-se de preliminar comum da contestação não dando azo à suspensão processual.
Mas, contudo, compensa-se pelo fato de permanecerem como válidos os atos processuais mesmo quando prolatados pelo juízo incompetente, consignando-se também a maior saneabilidade que possível do processo civil brasileiro.
Outro fato é a mitigação da adstrição da sentença ao pedido e a defesa conforme o art. 492 do Novo CPC. Mas poderá o juiz não conceder a tutela indenizatória quando lhe fora solicitada a tutela inibitória.
Não basta ao julgador se ater à espécie de tutela de direito, já que o pedido a circunscreve, delimitando a demanda. Poderá o juiz conceder conforme os arts. 84 do CDC e art. 497 do Novo do CPC a tutela específica, ou ainda, o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
De qualquer forma é conferido ao juiz para a tutela jurisdicional determinar de forma diversa que a solicitada, optando por meio executivo diferente do requerido.
Deste modo, a mitigação da adstrição da sentença ao pedido é imprescindível para conciliar e atender ao direito fundamental de ação com o de defesa.
O art. 332, §2º do novo CPC prevê que a contagem do prazo para a resposta do reu especificamente quando a demanda não admitir autocomposição (quando não haverá a audiência de conciliação ou de mediação) e, havendo litisconsórcio passivo, o autor desistir em relação ao réu ainda não citado. Desta forma, o prazo se iniciará na data de intimação da decisão que homologar a desistência.
A contestação seria apresentada se necessário depois de realização da audiência de conciliação e mediação. Porém, o art. 337 do Novo CPC prevê a hipótese da contestação ser oferecida antes da audiência de conciliação e mediação.
Havendo a incompetência relativa a contestação poderá ser protocolizada no foro do domicílio do réu o que será comunicado imediatamente ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico[15].
Mas é também possível a distribuição da contestação com preliminar de incompetência relativa até mesmo no mesmo foro impugnado no qual tramita o processo.
Com a contestação oferecida nesses termos, suspende-se a realização da audiência de conciliação e mediação. Sendo reconhecida a incompetência indicada pelo réu, prevê que o juízo para o qual fora distribuía a contestatória ou a carta precatória será considerado prevento, cabendo designar nova data para a audiência.
Como novidade do novo CPC há a inclusão da incompetência relativa como preliminar da contestação. Não poderá o juiz ser conhecida de ofício a convenção de arbitragem, que será como nova defesa processual dilatória.
As defesas dilatórias e peremptórias previstas no CPC/73 foram mantidas no CPC/73. E, a inclusão da incorreção do valor da causa parece ter criado uma forma de defesa dilatória, posto que o valor da causa possa ser corrigido pelo autor, retomando o feito ao seu regular andamento.
Quanto às exceções de impedimento e suspeição há novidades quando aponta as causas em que figure como parte a instituição de ensino com a qual o juiz tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; a causa em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou a fim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do juiz inclusive e quando o juiz promover ação contra a parte ou o seu advogado.
Entendeu-se que a nova interposição de preliminar de contestação referente à exceção de suspeição e impedimento já suficiente para suspender o procedimento principal.
Quanto ao pedido na tutela de urgência enquanto não for declarado o efeito em que foi recebido, o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo. Ao prever o tribunal positivamente quanto ao reconhecimento do impedimento ou a suspeição do juiz, fixará o momento a partir do qual, o juiz não poderia ter atuado e, então, decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.
Registre-se que a ação declaratória incidental fora suprimida no Novo CPC.
Infelizmente o novo CPC incorreu em equívoco ao confundir a revelia com o seu principal efeito: que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Mas, apesar de ser relevante o efeito, refere-se apenas uma presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário.
O novo CPC criou uma seção com título de “Da não incidência dos efeitos da revelia” onde prevê que é lícito ao revel produzir as provas, desde que se faça representar0se nos autos a tempo hábil de praticar os atos indispensáveis a essa produção. O que já vinha consagrado pela Súmula 231 do STF.
O julgamento antecipado da lide no novo CPC passou a ser chamado de julgamento antecipado do mérito. Apesar da supressão da ação declaratória incidental é complexo admitir que depois da revelia, o autor modifique o objeto da demanda, sem que o réu tenha conhecimento e, possa se defender.
E, o problema é que a dispensa da citação do revel diante da presunção de veracidade, o que poderá acarretar que o réu seja derrotado e condenado por pedido completamente desconhecido.
Por derradeiro, convém ressaltar os enunciados do FPPC a respeito da defesa do réu e que podem nortear a compreensão sobre o tema.
Enunciado 34 (ref. Art. 311, I do CPC/15) Considera-se abusiva a defesa da Administração Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, salvo se demonstrar a existência de distinção ou da necessidade de superação do entendimento.
Enunciado 42 (art. 339 do CPC/15) O dispositivo se aplica mesmo a procedimentos especiais que não admitem intervenção de terceiros, bem como aos juizados especiais cíveis, pois se trata de mecanismo saneador, que excepciona a estabilização do processo.
Enunciado 44 (art. 339, CPC/15) A responsabilidade a eu se refere o art. 339 é subjetiva.
Enunciado 108 (art. 9º, CPC/15) No processo do trabalho, não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida e oportunizada a produção de prova, bem como não se pode decidir com base em causa de pedir ou fundamento de fato ou de direito a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes e a produção de prova, ainda que se trata de matéria apreciável de ofício.
Enunciado 116 (art.113,§ 1º, VI do CPC/15) Quando da formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir a sua limitação pela ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença.
Enunciado 144 (art. 303,§ 1º, II, CPC/15) Ocorrendo a hipótese do art. 303,§1º, II, será designada audiência de conciliação ou mediação e o prazo para defesa começará a correr em forma de art. 335, I ou II.
Enunciado 152 (art.339, §§1º e 2º, CPC/15) Nas hipóteses dos primeiro e segundo parágrafos do art. 329, a aceitação do autor deve ser feita no prazo de quinze dias destinado à manifestação sobre a contestação ou sobre essa alegação de ilegitimidade do réu.
Enunciado 238 (art. 64, caput e quarto parágrafo, CPC/15) O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa.
Enunciado 239 (art.85, caput, art. 334, art. 335, CPC/15) Fica superado o enunciado 472 da Súmula do STF (“A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no art. 64 do CPC, depende de reconvenção”), pela extinção da nomeação à autoria.
Enunciado 248 (art. 134, segundo parágrafo, art. 336 CPC/15) Quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, incumbe ao sócio ou a jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa.
Enunciado 272 (art. 231, segundo parágrafo CPC/15) Não se aplica o segundo parágrafo do art. 231 ao prazo para contestar quando for dispensável a audiência de conciliação e houver poderes para receber citação.
Enunciado 282 (art. 319, III, art. 343 CPC/15) Para julgar com base em enquadramento normativo diverso daquele invocado pelas partes, ao juiz cabe observar o dever de consulta previsto no art. 10.
Enunciado 286 (art. 5º, art. 322, segundo parágrafo CPC/15) Aplica-se o segundo parágrafo do art. 322 à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso.
Enunciado 296 (art. 338, art. 339 CPC/15) Quando conhecer liminarmente e de ofício a ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição do réu, nos termos dos arts. 338 e 339, sem ônus sucumbenciais.
Referências bibliográficas
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 15ª edição. Volume 1., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
FUX, Luiz (coord.). O Novo Processo Civil Brasileiro (direito em expectativa) Rio de Janeiro: Forense, 2011.
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. Teoria Geral do Processo Civil. Volume 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil: modificações substanciais. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1,17ª edição. Salvador: Editora Jus PODIVM, 2015.
THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Alexandre Melo Franco Bahia; PEDRON, Flávio Quinaud. 2.ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015.
________
NOTAS:
[1] Tereza Wambier, Luiz R. Wambier e José Miguel Garcia Medina apontam as diferenças entre faculdade, ônus e dever processual. Ônus constitui-se como atividade a ser desempenhada pela parte que lhe gera benefícios. Omisso nesta atividade, gera para a parte as consequências negativas. A faculdade consiste em opção pela parte de determinado ato processual sem consequências, como por exemplo, indicar bens à penhora na petição inicial. O dever processual se liga a conduta e, não ao ato isolado.
[2] A distinção entre objeção e exceção ganhou destaque particularmente nos últimos tempos, em razão da afamada exceção de não-executividade, defesa interna do processo de execução formulada pela executado, sem garantia de juízo. Para alguns doutrinadores, somente seria possível a objeção de não-executividade pois somente as matérias que podem ser conhecidas de ofício poderia ser alegadas sem a necessidade de penhora (garantia do juízo). Para outros estudiosos, qualquer matéria defensiva poderia ser deduzida desde que comprovada documentalmente, por isso o termo exceção, como visto, poderá assumir a acepção ampla de defesa.
[3] Carnelutti fazia a distinção entre os sujeitos da lide e os sujeitos do processo, estabelecendo em relação a essas duas dimensões, respectivamente, a diferença entre a parte em sentido material e parte em sentido processual. José Frederico Marques explicava que partes seriam os sujeitos parciais da relação processual, diferentemente dos órgãos judiciários, que seria sujeitos imparciais dessa relação. “[…] A posição de parte se adquire pelo fato de figurar alguém, em seu próprio nome, em uma causa, como sendo aquele pelo qual ou contra o qual se pede a decisão do juiz”. (In Instituições de direito processual, pp. 163-4).
[4] É importante distinguir as questões prejudiciais das questões preliminares, para que não haja erro quanto à utilização de uma ou de outra no processo. Ocorrendo tal inobservância, as consequências podem levá-lo a um curso totalmente distinto, v.g., pode-se chegar à declaração incidente, caso não haja a correta verificação se a questão prévia é preliminar ou prejudicial.
Pelo fato de tanto a questão prejudicial quanto à questão preliminar serem julgadas previamente, alguns processualistas, por muito tempo, confundiram os dois institutos. No entanto, as questões preliminares não se revestem da prejudicialidade. “Dissemos, […], existirem certas questões que devem ser decididas previamente, isto é, antes da decisão definitiva da causa principal, sem, contudo, revestirem-se do caráter de prejudicialidade, tomando-se esta expressão no sentido que a técnica jurídica lhe reservou e consagrou. São as chamadas questões preliminares ou prévias, as questions préalables dos franceses”.
Cardoso de Mello representa essa posição doutrinária. Para ele, erroneamente, prejudiciais seriam as questões “que reclamassem uma decisão anterior à de mérito, incluindo-se entre elas as questões preliminares”.
Com a evolução do direito processual, verificou-se que nem todas as questões resolvidas previamente eram prejudiciais. Não fora isso, outros doutrinadores defendiam que a questão prejudicial era sempre de ramo de direito distinto da questão subordinada, enquanto que a questão preliminar era do mesmo ramo da questão condicionada.
[5] Vide art. 337 do Novo CPC: Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I – inexistência ou nulidade da citação; II – incompetência absoluta; II – incompetência absoluta e relativa;
III – incorreção do valor da causa; IV – inépcia da petição inicial; IV – perempção; V – perempção; V – litispendência; VI – litispendência; Vl – coisa julgada; VII – coisa julgada; VII – conexão; VIII – conexão; Vlll – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; IX – convenção de arbitragem; X – convenção de arbitragem; X – carência de ação; XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII – falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII – indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
[6] O estudo da prejudicialidade iniciou-se no período romano, abrangendo o Direito justinianeu. Nesta fase, grande relevância foi a distinção feita por Manzini de iudicium e cognitio. “Percebeu o gênio romano a existência de questões que são apreciadas de forma incidental, não tendo a decisão a respeito delas o efeito de condicionar julgamentos futuros. À apreciação judicial de tais questões denominou cognitio. O termo iudicium retratava o julgamento da questão principal, de forma definitiva, com o efeito de poder condicionar outros julgamentos. A distinção é posta, segundo Manzini, no Código, no Livro III, t. 8, de ordine iudiciorum, e Livro VII, t. 9, de ordine cognitionum”.
[7] Ressalto que poucos foram os processualistas que escreveram unicamente sobre as questões prejudiciais. Um deles é José Carlos Barbosa Moreira e seu estudo sobre as “Questões Prejudiciais e Coisa Julgada”. Na verdade refere-se uma tese de concurso para a livre docência de Direito Judiciário Civil e fora apresentada à Congregação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não propriamente de um livro com ampla (re) edição. Ademais, fora escrito em plena vigência do CPC de 1939.
[8] Aliás, para o processo civil italiano o processo como garantia constitucional a partir do aperfeiçoamento e apropriação do modelo constitucional de processo, o que fez com que a doutrina enxergasse a análise dessa base principiológica uníssona, caracterizada pela indissociabilidade e pela codependência entre os princípios que a constituem. Pois nesse modelo, cada princípio que constitui a base principiológica uníssona guarda singular dependência e conexão com os demais princípios. Portanto, a violação ou inobservância de um desses princípios, significa o desrespeito aos demais.
[9] A ação dúplice pode ser compreendida na acepção processual e material. Na acepção processual, a ação dúplice é aquela em que se permite ao réu a formulação de um pedido contra o autor no bojo da contestação. O réu pode contestar e formular um pedido. É sinônimo de pedido contraposto, e é possível nas hipóteses admitidas em lei, como no procedimento sumário e na Lei dos Juizados Especiais. Embora bastante utilizada, esta não é a acepção mais correta. No sentido material, a ação dúplice é aquela em que o autor e o réu ocupam posições jurídicas ativas e passivas na demanda simultaneamente, o que permite ao réu, independentemente de pedido expresso obter a tutela jurisdicional do bem da vida, como resultado lógico e automático da rejeição do pedido do autor.
[10] A natureza do pedido contraposto é reconvencional, mas algumas diferenças procedimentais e quanto aos pressupostos específicos de cabimento possibilitam o estudo dos institutos em apartado. A mais nítida diferença entre as duas espécies de contra-ataque é justamente a necessidade de peça autônoma para a reconvenção, o que já não acontece com o pedido contraposto, pleiteado no próprio corpo da contestação. Essa diferença, que aparentemente não gera qualquer reflexo prático de maior importância – o que inclusive motiva alguns doutrinadores a propugnar pela generalização do pedido contraposto – determina uma diferença substancial entre a reconvenção e o contra-ataque previsto no procedimento sumário: enquanto no primeiro caso existe verdadeira autonomia do pedido do réu, no segundo o mesmo prende-se à continuação da ação principal, com nítida característica de acessoriedade. (In: NEVES, Daniel. Contra-ataque do Réu: Indevida Confusão entre as diferentes espécies. Disponível em: http://www.professordanielneves.com.br/artigos/201011151759020. contra_ataque.pdf.
Acesso em 20.06.2015).
[11] Hans Prütting é jurista alemão que atua principalmente no direito civil, direito processual civil, o direito da insolvência e na profissão jurídica. Foi professor interino em Hamburgo no semestre de inverno de 1981/1982, foi nomeado professor na Universidade de Saaland. É cofundador do instituto para a profissão jurídica da Faculdade Colônia, o primeiro de seu tipo na Alemanha.
[12] A Lei 12.016/2009 conseguiu sintetizar em seu texto as quatro leis esparsas que regulavam o mandado de segurança, a saber, Leis 1.533/51, 4.348/64, 5.021/66 e 8.437/92, o que, por óbvio, facilitará ainda mais a atuação dos aplicadores e intérpretes do Direito. Entretanto, algumas alterações irradiarão efeitos para o próprio cabimento do Mandado de Segurança, conforme se verifica nas mudanças mais significativas:
(i) Possibilidade de impetração do Mandado de Segurança em face de atos disciplinares sofridos por servidores públicos, o que facultou a estes se valerem do remédio constitucional quando a matéria não depender de dilação probatória;
(ii) Impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança, em face de atos de gestão comercial, praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público, o que almeja conferir celeridade aos processos de licitação realizados pelas mesmas.
(iii) Extensão do direito de recorrer para as Autoridades Coatoras das decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança.
(iv) Desfazimento da liminar quando o impetrante turbar o andamento do processo ou retardar o cumprimento de alguma diligência que lhe atinente por mais de 03 (três) dias úteis.
(v) Suspensão da liminar ou sentença pelo Presidente do Tribunal em que tramita o Mandado de Segurança.
(vi) conferiu às partes do direito de recorrer quando houver atraso na publicação do julgado, autorizando que as notas taquigráficas se prestem a substituir provisoriamente o julgado.
[13] A doutrina do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança” (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, págs. 34/35).
[14] A liminar no mandado de segurança deve ser concedida quando demonstrados os requisitos para sua concessão com o objetivo primordial de dar utilidade prática ao mandamus, bem como proteger o direito líquido e certo do impetrante. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja a obrigação ao magistrado conceder a medida liminar porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso, em conjunto com os requisitos próprios do mandado de segurança.
Além disso, existiam restrições legais e jurisprudenciais que impediam a concessão da liminar, v.g. art. 1º, § 4º, da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966; art. 1º, da Lei nº 2.770, de 4 de maio de 1956; a suspensão de segurança, instituto previsto no art. 4º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, bem como o art. 5º dessa mesma lei, entre outras, que se mantiveram na atual lei disciplinadora do mandado de segurança.
A alteração inaugurada pelo art. 7º da Lei nº 12.016, de 2009, só piora a situação que já existia, qual seja: para todo o mandado de segurança impetrado pelo cidadão havia uma ação de suspensão a segurança ou alguma restrição à concessão de liminar. Já nessa situação a realidade judicial era cruel, pois só poderia se defender do poder público quem possuía dinheiro, pois a contestação em sede de suspensão de segurança, e todo o restante dos procedimentos como agravos etecetera, teriam de ser subscritos por patrono. Mesmo não cabendo honorário de sucumbência em sede de mandado de segurança, é certo que todo o patrono cobra pro-labore.
Essa lei dificultou a concessão da medida liminar facultando ao magistrado a imposição de caução, fiança ou depósito se houver risco de que a medida possa gerar dano ao erário. Tirou do magistrado a possibilidade de avaliar a urgência e a conveniência de se conceder uma liminar sem determinar, por outro lado, as condições mínimas para que o magistrado consiga avaliar se a caução é necessária no caso concreto. Afinal, toda ação contra o poder público tem conteúdo patrimonial.
[15] A lei 11.419/2006 instituiu o que chamamos de processo eletrônico que estabeleceu a possibilidade de através de meio eletrônico para a tramitação dos processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais e aplica-se indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. A lei possui dois objetivos distintos. Por um lado, permitir e incentivar a prática de atos processuais, inclusive recursos e petições em geral e a realizações de intimações e citações por via eletrônica. Mesmo antes da referida lei já existiam experiências bem sucedidas de informatização do processo civil conforme consta no âmbito dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região (PR, SC e RS) que utilizaram o sistema chamado de E-PROC desde o ano de 2004.