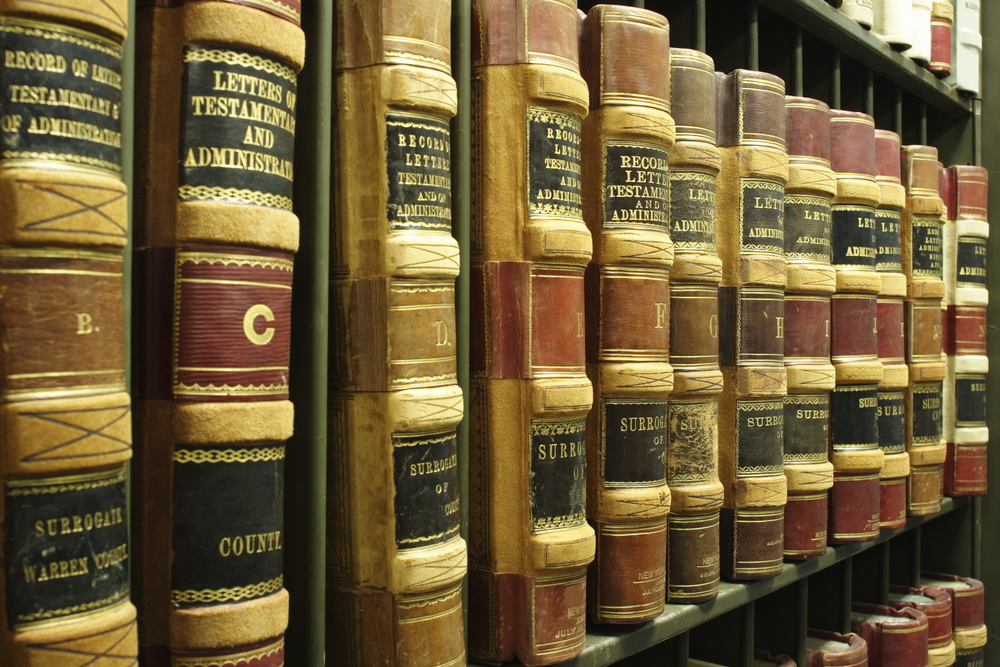Intervenção de Terceiros em face do CPC/2015
Primeiramente cumpre tecer os justos e merecidos comentários em homenagem ao Professor Alexandre Martins Flexa que tem nos propiciado não só por sua lavra doutrinária, mas principalmente por suas aulas didáticas proferidas no aplicativo Periscope disseminando gratuitamente o conhecimento sobre o novo Código de Processo Civil brasileiro. Parabéns, colega!!! Você é um exemplo para todos nós.
Aliás, já se tem fim a polêmica quanto ao início da vigência do novo codex posto que será mesmo em 18 de março de 2016, vide link
O processo é caracteristicamente intersubjetivo e tem entre os seus personagens os que integram a relação jurídica processual, seja o Estado-juiz, o demandante (autor) e o demandado (réu).
As partes[1] são os sujeitos parciais da relação jurídica processual, isto é, aqueles que pedem ou em face de quem se é pedida a providência jurisdicional, e que por essa razão, integram o contraditório e são atingidos pelos efeitos da coisa julgada.
Para que alguém participe e se torne sujeito em determinado processo, deverá propor a demanda, ou ainda, ser chamado ao juízo para ver-se processar ou intervir em processo já existente.
Sabemos da geometria inicial da relação processual que é relacionada a uma concepção triangular que se revela em ser o esquema mínimo, que é completado com a citação válida e regular do demandado.
O terceiro que é estranho à relação processual estabelecida inicialmente entre o autor e réu. É conceito que se consegue por negação[2]. E tal característica distingue o instituto da intervenção de terceiro do litisconsórcio, uma vez que os litisconsortes são partes originárias do processo, ainda que por equívoco, não venham mencionados na petição inicial (litisconsórcio necessário).
O sentido de terceiro é alcançado devidamente em face da situação jurídica do ingressante na lide em relação aos litigantes originais. O terceiro uma vez admitido em demanda alheia, passa ocupar posição distinta da dos demais litigantes.
É importante também distinguir a intervenção de terceiro[3] da substituição da parte ou sucessão processual, uma vez que a situação jurídica do substituto ou sucessor é idêntica à do substituído (cedente e cessionário herdeiro e falecido).
Assim, o terceiro como sujeito pode ser participante no processo, seja no polo ativo ou polo passivo. Havendo ainda as hipóteses excepcionais e expressamente previstas em lei.
A pluralidade subjetiva no processo é possível tanto no litisconsórcio como na intervenção de terceiros.
O autor ou demandante é quem propõe a demanda em face da resistência do demandado ou do réu, contrapondo-se ao juiz que é sujeito imparcial. Apesar do autor é o réu serem os sujeitos processuais parciais é possível haver a cooperação e, ainda, a obediência ao princípio da boa-fé objetiva.
Diz-se que existe a intervenção de terceiros no processo quando alguém dele participa sem ser parte da causa, com o fim de auxiliar ou excluir os litigantes, para defender algum direito ou interesse próprio que possa ser prejudicado pela sentença.
Apesar de que deve limitar-se a coisa julgada apenas às partes perante as quais é a sentença dada, seguidamente os efeitos da sentença se expandem podendo até mesmo indiretamente atingir a terceiros que estejam, por uma forma ou outra, ligados às partes, produzindo influências de vários tipos sobre alguma relação jurídica de que aqueles participem.
Em verdade há três posições que o terceiro interveniente pode assumir na demanda, a saber: para auxiliar a parte a que adere, para sustentar as razões que a esta competem; para se unir contra o adversário comum; que ingressa no processo em antagonismo contra ambas as partes, tentando a todas excluir, em defesa de algum direito inconciliável com o direito sustentado pelos ligantes.
A verdade que a intervenção de terceiro é excepcional posto que em geral não se admita que terceiro intervenha no processo, uma vez que a sentença normalmente só opera seus efeitos entre as partes, não atingindo a terceiros, vide o art. 506 do CPC/2015.
Salutar advertir que nem todo terceiro que pode intervir no processo poderá fazê-lo, sendo mesmo vedada a dita intervenção de quem não tenha interesse na demanda, ou que tenha somente mero interesse fático na solução do litígio.
Excepcionalmente, a sentença produz efeitos panprocessuais que pode atingir outras esferas jurídicas, que não apenas do autor e do réu. E, nesses casos, o terceiro resta autorizado a intervir no processo, respeitando-se o devido processo legal.
A legitimidade de terceiro é mensurada exatamente pela eficácia da coisa julgada[4] bem como pelas peculiaridades do direito material discutido na causa.
No fundo tais causas se fundem e se imiscuem pois é justamente a natureza do direito substancial que conecta o terceiro a determinada parte, quando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são finalmente definidos.
Há de o terceiro comprovar cabalmente a pertinência de sua intervenção no processo e, uma vez verificada a partir da afirmada relação com algumas das partes originárias do processo e da pretensão concretamente formulada na demanda.
Afinal, com a definição do interesse jurídico[5] é possível a intervenção de terceiro, desde que respeitadas também as reras da espécie interventiva.
Portanto não é suficiente que haja apenas a vontade do terceiro em intervir posto que seja indispensável haver o controle judicial sobre o seu ingresso no processo. Cabendo ao juiz aferir a legitimidade de terceiro para intervir e se encaixar nas hipóteses legais de cabimento,
O CPC/2015 prevê cinco modalidades de intervenção de terceiros: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente[6] de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae.
Lembremos que no CPC/1973 a assistência não era tratada no capítulo das intervenções de terceiro, apesar de que no mesmo diploma legal em seu art. 280 reconhecesse que a assistência era espécie interventiva.
Reconhece-se, portanto, que tal falha fora sanada como o CPC/2015, tendo sido incluída a assistência nos artigos 119[7] aos 124.
A intervenção de terceiros pode ser espontânea ou provocada. A intervenção provocada se materializa através de um requerimento formulado por uma das partes e pode dar azo à seguintes figuras: a nomeação à autoria; a denunciação da lide; o chamamento ao processo.
As intervenções voluntárias ou espontâneas decorrem de ato de vontade do interveniente, são os casos da assistência e o amicus curiae; e as intervenções forçadas ou provocadas são a denunciação da lide, o chamamento ao processo e a intervenção dos sócios ou da pessoa jurídica decorrente da desconsideração[8] de personalidade jurídica ou desconsideração inversa, que também é possível pelo novo codex.
No que se refere à natureza jurídica da intervenção de terceiro, trata-se de incidente processual, visto que o terceiro realiza uma série de atos dentro de um processo em andamento, visando modifica-lo, sem que se instaure uma nova relação processual.
Não se confunde, pois, com o processo incidente[9], onde há uma relação jurídica nova, relacionada a um processo pendente.
Será espontânea a intervenção quando a iniciativa é do terceiro (era o caso da oposição e assistência). Será por inserção quando terceiro intervém em relação jurídica já existente (assistência, nomeação à autoria e chamamento ao processo). Será, por sua vez, por meio de uma nova ação quando existe a formação de nova relação processual, embora o mesmo processo.
A assistência[10] é a primeira das espécies de intervenção de terceiros prevista no CPC/2015, onde terceiro está autorizado a intervir no processo a fim de auxiliar a uma das partes sempre que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável à parte que pretende assistir.
Pode ocorrer a qualquer momento do processo, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a decisão judicial. Uma vez admitido o assistente, este só poderá praticar os atos processuais ainda não preclusos, ou seja, não são devolvidos prazos ao assistente para que possa praticar os atos nas fases processuais já superadas Tal como ocorre com qualquer das modalidades de intervenção, a assistência é admitida porque a sentença a ser proferida no processo em que interveio poderá atingir a sua esfera jurídico-patrimonial.
É certo, porém que para ser admitido como assistente o terceiro deverá demonstrar ter efetivo interesse jurídico na solução da demanda. Embora não haja definição de interesse jurídico, o que cabe a doutrina fazê-lo. Deve-se entender que é a existência de relação jurídica que envolva o assistente e o assistido apenas, ora porque envolve o assistente, assistido e adversário do assistido.
Há, portanto, duas espécies de interesse jurídico[11], a primeira concentrada na relação assistente e assistido e, a segunda entre o assistente e o adversário do assistido.
Alexandre Flexa, com sua habitual dom didático, nos exemplifica: Na primeira hipótese temos a ação de despejo proposta pelo locador em face de locatário.
Há o sublocatário, mas este será terceiro, pois não é parte da demanda que possui interesse jurídico[12] para intervir como assistente.
Já na segunda hipótese, imagine-se a ação de cobrança proposta pelo credor em face apenas de um dos devedores solidários (réu), o outro devedor solidário será o terceiro em relação ao processo. E, terá relação jurídica tanto com o assistido como também com o adversário do assistindo (vez que é devedor do adversário do assistido).
Na primeira hipótese, observa-se a existência de interesse jurídico somente entre assistido e assistente, é quando se tem a chamada assistência simples ou adesiva[13]. Na segunda hipótese, tem-se o interesse jurídico que se desenvolve entre assistente, assistido e adversário do assistido, há a assistência qualificada ou litisconsorcial[14].
Na assistência[15] simples o ingresso do assistente no processo se dá para defesa de direito alheio (direito do assistido) porque ostenta uma relação subordinada à relação jurídica discutida na demanda. No exemplo dado referente à sublocação, o assistente é titular apenas de contrato acessório, pode praticar todos os atos processuais desde que não sejam contrários à vontade do assistido, mas jamais poderá praticar atos que impliquem em disposição do direito do assistido. Afinal, o assistente não é titular da res in iudicium deducta, conforme se pode perceber do art. 122 do CPC/2015.
Contudo, o assistente simples pode ter sua atuação diferenciada, porém se o assistido se tornar revel, ou ainda, de alguma forma for omisso ou desidioso no processo, poderá atuar como como substituto processual[16], vide art. 121, parágrafo único do CPC/2015, passando a praticar atos em nome próprio, defendendo o direito do assistido.
Havendo, contudo, duas limitações, a saber: a) os atos continuam sendo de defesa, nunca de disposição de direito do assistido; b) esses atos podem tornar-se ineficazes se o assistido comparecer e manifestar-se expressamente de modo contrário. O comparecimento do assistido, agora substituído, deve ocorrer somente através da assistência litisconsorcial, na forma do art. 18, parágrafo único do NCPC. Atesta-se desta forma uma autêntica subversão de papéis, onde o assistente vira assistido e vice-versa.
Alvissareira é a previsão do art. 121, parágrafo único do CPC/2015 que veio a diluir antiga discussão doutrinária e jurisprudencial. Se quando o assistido não é revel, mas recorre, poderia o assistente simples recorrer?
Existem julgados do STJ que respondem negativamente e inadmitem o recurso. Mas, com a nova redação do dispositivo, o assistido simples poderá atuar em qualquer omissão do assistido, devendo ser admitido seu recurso caso o assistido não recorra.
Lembremos que o assistente simples, como sujeito do processo que passa a ser, submete-se naturalmente à eficácia da decisão proferida no processo, não podendo discutir seus fundamentos em processo posterior (art. 123 do CPC/2015[17]).
Porém, como tem a atuação limitada no processo[18], se prevê pode discutir novamente a justiça da decisão no processo em que interveio se não pode manifestar-se, porque ingressou após o momento processual oportuno, se não pode produzir provas ou se desconhecia as alegações e/ou provas que o assistido não quis aduzir ao processo, seja por dolo ou culpa.
Acertadamente, o novo CPC trata a assistência simples em seção distinta daquela que regula a assistência litisconsorcial, o que se justifica pela grande diferença de tratamento. O dispositivo comentado na lavra de Hartmann que aponta haver ajuste redacional ao indicar a postura do assistente simples e seus poderes, mas inova corretamente, ao substituir a antiga expressão “gestor de negócios” por “substituto processual”, eis que o assistente realmente tem uma espécie de legitimação extraordinária para atuar em juízo pelo assistido, mas jamais para praticar qualquer ato relativo ao direito material, conforme sugeria a anterior redação.
A assistência qualificada ou litisconsorcial é cabível sempre que o terceiro for titular da relação jurídica discutida no processo. Tem esse nomen iuris, pois o assistente qualificado é tratado como se fosse litisconsorte. Mas, ser considerado litisconsorte não é o mesmo que ser litisconsorte. Este é parte, podendo e praticar qualquer ato processual como lhe aprouver.
Ressalve-se que o assistente litisconsorcial não assume a posição de parte da demanda, mas apenas de parte do processo, podendo praticar todos os atos que importem em defesa do direito do assistido, tal como ocorre com o assistente simples.
A diferença reside na vontade do assistido, pois o assistente qualificado pode praticar atos de defesa, mesmo contra a vontade do assistido. Há autores, no entanto, que defendem que o assistente litisconsorcial torna-se parte da demanda, formando litisconsórcio facultativo unitário e ulterior.
Oferecido o pedido de assistência pelo terceiro juridicamente interessado, este será deferido desde que as partes não apresentem impugnação. Caso uma das partes faça impugnação ao pedido de assistência, dentro do prazo legal de quinze dias, alegando que o terceiro não ostenta interesse jurídico para intervir como assistente, o juiz permitirá que as partes produzam provas, se necessário, a fim de julgar o pedido o incidente.
Vale recordar que o CPC/1973, o art. 51, II previa expressamente a produção de provas, o que não ocorre no CPC/2015. Trata-se de omissão que na opinião de Alexandre Flexa, não pode levar à conclusão de inadmissibilidade de fase probatória, sob pena de violar frontalmente a ampla defesa. Também poderá o juiz rejeitar liminarmente o pedido de assistência (art. 120, in fine). Da decisão no pedido de assistência, caberá agravo de instrumento conforme o art. 1.015, IX do CPC/2015.
O art. 124 do CPC/2015 definiu a assistência litisconsorcial[19] que deve ser considerado juntamente com Enunciado 11 do FPPC: “O litisconsorte unitário integrado ao processo a partir da fase instrutória, tem direito de especificar, pedir e produzir provas, sem prejuízo daquelas já produzidas, sobre as quais o interveniente tem o ônus se manifestar na primeira oportunidade em que falar no processo”.
A denunciação da lide[20] é prevista nos arts. 125 ao art. 129 do CPC/2015 e pode ser definida como uma ação regressiva in simultaneus processus, podendo ser proposta tanto pelo autor quanto pelo réu
O art. 125 do CPC/2015 disciplina as três hipóteses de denunciação da lide, sendo suprimido o termo “obrigatório” posto que não mais haverá a perda do direito de regresso que poderá ser pleiteado por meio de ação autônoma.
No Código Buzaid, a denunciação da lide não era propriamente uma intervenção de terceiro, mas uma ação de regresso, de caráter eventual, inserida no processo principal e dependente da demanda originária.
No novo codex ainda ostenta sua natureza de ação incidental, mas uma vez aceita a denunciação, assa a ser uma autêntica intervenção de terceira, pois o denunciado ingressa no processo como litisconsorte do denunciante (arts. 127 e 128 do CPC/2015), sofrendo os efeitos da decisão judicial no processo na qualidade de parte da demanda.
Naturalmente será competente para processar e julgar a denunciação da lide o mesmo juízo da ação primitiva. Portanto, não se cogita em incompetência relativa. Porém se a incompetência for absoluta em razão da matéria impede a denunciação da lide, porém, a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem que a incompetência absoluta em razão da pessoa não impede a denunciação da lide.
Indiscutivelmente a natureza jurídica da denunciação da lide é de ação de conhecimento incidental. Sendo, portanto, vedada, a denunciação em sede ação executiva e cautelar (tutela provisória).
O ajuizamento da denunciação da lide é facultativo, podendo o litigante, se desejar, ajuizar a ação de regresso de forma autônoma. Mas, cabe ressaltar, que a denunciação é uma ação de regresso antecipada. Mas, se preferir a ação de regresso autônoma, deve estar ciente que somente poderá fazê-lo após o efetivo cumprimento da obrigação na ação principal.
As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide estão elencadas nos dois incisos do art. 125 do NCPC[21]. A primeira hipótese de cabimento é na qual aquele que sofreu evicção (autor ou réu numa demanda reivindicatória) poderá denunciar a existência da lide ao alienante imediato, a fim de que este arque com os eventuais prejuízos que o denunciante-evicto possa sofrer.
A denunciação só pode ser feita ao alienante imediato, eliminando-se a possibilidade de denunciação per saltum, visando a alcançar os alienantes anteriores.
Norma semelhante àquela contida no inciso I, do art. 125 é a do art. 456 do Código Civil brasileiro[22] que dispunha que para poder exercitar o direito que da evicção[23] lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Tal dispositivo foi revogado pelo art. 1.072, II do CPC/2015, sepultando qualquer possibilidade de admissão de denunciação da lide por salto[24].
A outra hipótese de cabimento da denunciação da lide, prevista no inciso II do art. 125 do CPC/2015 permite a intervenção sempre que a parte vencida numa ação judicial puder buscar ressarcimento do seu prejuízo perante outrem, que seja seu garantidor. É o caso do causador de acidente automobilístico que é demandado judicialmente pela vítima e seus familiares e denuncia à lide à seguradora, que assumiu em contrato, o dever de indenizar o segurado, caso este perdesse na demanda.
Tal previsão legal dá oportunidade de avaliarmos duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais, ambas voltadas ao debate sobre a possibilidade ou não de discussão de fato novo na denunciação da lide.
A primeira corrente, considerada ampliativa, admite a denunciação da lide em qualquer das hipóteses abrangidas pelo inciso II, que são genéricas, não permitindo distinção pelo intérprete. Tendo o denunciado fornecido garantia própria (aquela em que se deu transmissão do direito ao denunciado), tenha outorgado garantia imprópria (aquela em que o denunciado apenas responsabilizou-se pelo dano) seria possível a denunciação da lide, tornando cabível a discussão de fato novo decorrente da garantia imprópria.
Já a segunda corrente doutrinária é a restritiva e sustenta que somente será admitida a denunciação da lide quando se tratar de garantia própria, isto é, quando a derrota do denunciante acarretar automaticamente a derrota do denunciado, sem necessidade de debate de fatos novos ou de produção probatória na demanda incidental de regresso.
Tal corrente visa proteger a parte que enxergava sua lide demasiadamente prolongada pela parte contrária que, integrando uma demanda onde se debatia a responsabilidade objetiva, denunciava a lide ao seu garantidor, instaurando-se demanda incidental, onde se discutia a responsabilidade subjetiva.
A jurisprudência do STJ oscila entre essas duas correntes, mas a segunda corrente de caráter mais restritivo tem mais afinidade com a ideologia do CPC/2015 que visa enfatizar a celeridade processual harmonizada com a segurança jurídica.
Há a possibilidade de denunciação da lide pelo Estado ao servidor público nas ações de responsabilidade civil deste por ato de seus servidores. Para quem é adepto da corrente ampliativa, não há impedimento à denunciação da lide pelo Estado ao seu servidor. Mas, quem for adepto da corrente restritiva, não existe garantia própria, sendo, portanto, vedada a denunciação da lide.
E, nesse sentido há o pronunciamento do Desembargador Alexandre Freitas Câmara que se manifestou sobre o art. 70, III do CPC/1973 e vislumbrou ainda uma terceira corrente para a questão, discordando das duas correntes doutrinárias anteriormente aludidas, pois a proposição que nega a possível denunciação por ser somente possível em casos de garantia própria pareceu-lhe errônea, por criar distinção não prevista e nem decorrente da norma.
Já a compreensão extensiva também parece ser equivocada posto que a denunciação da lide é inadequada nos casos onde exista solidariedade entre demandado e terceiro. E, mesmo porque o Estado, que se torna civilmente responsável, tem direito de regresso em face de seu agente que tenha causado dano, mas tal fato, não exclui a responsabilidade deste perante o lesado, decorrente do art. 927 do C.C.
Assim, defende que nada impede haver um litisconsórcio facultativo obviamente, entre a pessoa jurídica de direito público e seu servidor que, aliás, já foi admitido pelo STF, relator Ministro Cunha Peixoto, RE 90.0701, j.18.8.1980, v.u., DJU 26.9.1980.
Prevalecendo tal entendimento, é patente o reconhecimento da solidariedade entre a pessoa jurídica de direito público e seu agente, o que torna inadequada a denunciação da lide, revelando-se cabível, no caso, o chamamento ao processo.
Fredie Didier Jr.[25], assume postura conciliatória diante das duas correntes aludidas, afirmando que a adoção deve decorrer da análise do caso concreto pelo juiz.
Posto que a intervenção de terceiro referente a denunciação da lide visa dar maior celeridade e economia processual. De sorte que se vier a comprometer a efetividade do processo e/ou a duração razoável deste, deve-se inadmitir a denunciação, ressalvando-se a ação de regresso por via autônoma. Por esta razão, justifica o doutrinador baiano, que há entendimentos díspares no STJ.
Uma vez oferecida a denunciação da lide pelo autor que dar-se-á pela petição inicial, formando-se um litisconsórcio entre o denunciante e denunciada. Por essa razão, é salutar que entre o denunciante e denunciado haja interesses coincidentes.
O denunciante (autor na demanda principal) quer a condenação do réu, da mesma forma que o denunciado, pois, desta forma estaria livrando-se do dever de ressarcir o denunciante de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer.
Devidamente citado em primeiro lugar, antes mesmo do réu na demanda principal (art. 127) o denunciado poderá tomar uma das seguintes posturas:
- a) negar a qualidade de garantidor que lhe é imputada, prosseguindo-se a ação somente com o denunciante no polo passivo, mas não impedindo que o denunciado seja atingido pela sentença, caso o pedido do autor seja julgado improcedente;
- b) permanecer inerte, sendo decretada sua revelia na ação principal;
- c) assumir posição de litisconsorte ativo juntamente com o denunciante podendo aditar a petição inicial com novos argumentos que colaborem na vitória processual do denunciante.
Somente após o pronunciamento da manifestação do denunciado é que se fará a citação do réu na demanda principal e o processo segue seu curso normal.
A denunciação da lide oferecida pelo réu deve ser feita no bojo da peça contestatória (art.126), devendo o denunciante providenciar a citação do denunciado no prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da denunciação (art. 131 c/c art.126, in fine).
Efetivada a citação do denunciado, este poderia assumir um dos seguintes comportamentos:
- a) contestar o pedido autoral, hipótese em que se forma um litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado (art.128, I)
- b) permanecer inerte, sendo decretada sua revelia. In casu, faculta-se ao denunciante (réu na ação principal) desistir de sua defesa e prosseguir apenas na ação de denunciação, onde sua vitória tornou-se bastante provável em razão da presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 128, II);
- c) confessar os fatos na ação principal, verificando-se a mesma consequência ocorrida no inciso II.
No CPC/1973 discutia-se sobre a possibilidade de a sentença condenar diretamente o denunciado na ação principal. E, Flexa indica como exemplo a demanda ajuizada pelo condômino do apartamento 401 em face do possuidor do apartamento do 501, em razão de vazamento que estava acarretando infiltrações na unidade do autor.
O possuidor do imóvel 501, um locatário, por exemplo, poderia denunciar a lide ao locador-proprietário, formando-se o litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado. Indagava-se se seria possível a sentença condenar diretamente o denunciado a ressarcir o autor da ação principal. A doutrina oscilava entre as duas possibilidades.
O CPC/2015 encerra essa discussão ao prever, no art. 128, parágrafo único, a possibilidade de o denunciado ser condenado diretamente a ressarcir o adversário do denunciante, desde que nos limites da garantia a que se obrigou o denunciado. Tal inovação merece elogios, pois proporcionará maior efetividade e celeridade ao provimento final.
O ônus da sucumbência faz-se mister ressaltar que existem duas ações no mesmo processo, quais sejam, a ação principal e a ação de regresso. Quando o denunciante sucumbe na ação principal e consagra-se vitorioso na denunciação, não há dúvidas que arcará com as custas pagas pela parte contrária e honorários advocatícios desta, enquanto o denunciado pagará ao denunciante as despesas com a denunciação além do que houver pago ao seu adversário na ação principal (incluindo os ônus sucumbenciais).
Assim, na mesma forma, quando o denunciante sucumbir em ambas as ações (a principal e de regresso) arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tanto do seu adversário na ação principal quanto do denunciado.
A maior divergência situa-se quando o denunciante sai vencedor na ação principal e, ipso facto, perdedor na denunciação. Neste caso, entende-se que o denunciante é ressarcido pelo sucumbente das suas custas processuais e honorários advocatícios e, arcará com as custas desembolsadas pelo denunciado (art. 129, parágrafo único).
O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros que tem por fim trazer à demanda, no polo passivo, o devedor principal (quando o responsável for acionado) ou os demais devedores corresponsáveis quando apenas um ou alguns demandados, aumentando a defesa do réu, que tratará à demanda como seus litisconsortes, outras pessoas para cumprirem consigo a eventual obrigação imposta pela sentença.
Caberá o chamamento ao processo sempre que houver solidariedade entre o réu (chamante) e o terceiro (chamado), devendo ser requerido no prazo da resposta.
Consagra-se aqui o famoso ditado popular que alude “dar com uma mão e tirar com a outra”, eis que o direito material autoriza o credor a demandar qualquer dos devedores solidários como melhor lhe aprouver, enquanto o direito processual permite ao devedor solidário demandado a trazer à relação processual os demais devedores que o credor não quis acionar.
Diferem-se chamamento ao processo e denunciação da lide na medida em que, nesta, o terceiro é trazido ao processo para ressarcir o prejuízo sofrido pela parte, enquanto naquela o terceiro suporta juntamente com a parte eventual condenação no processo.
As hipóteses de cabimento de chamamento ao processo estão previstas no art. 130, do CPC/2015, ressaltando que as três hipóteses ora elencada que partem do mesmo pressuposto da existência de solidariedade obrigacional entre chamante e chamado.
A primeira hipótese é prevista, por exemplo, em uma ação de cobrança ajuizada pelo credor em face do fiador, este poderá chamar ao processo o devedor principal. O chamado virá ao processo para tornar-se parte da demanda juntamente com o chamante, formando-se um litisconsórcio passivo.
A segunda hipótese de cabimento permite ao fiador de uma obrigação que for réu em uma ação, chamar ao processo os demais fiadores. Como há solidariedade ente fiadores, respeitou-se a premissa que vale para todas as hipóteses de chamamento ao processo. Também, nessa hipótese o chamado tornar-se-á litisconsorte do chamante no polo passivo da demanda.
Por fim, a terceira e última hipótese de cabimento, disposta no art. 77, III do CPC que autoriza o chamamento ao processo feito pelo devedor solidário que foi demandado aos demais devedores solidários.
Quanto a obrigação alimentar e as modalidades de intervenção de terceiro, podemos observar o posicionamento do processualista Cássio Scarpinella Bueno entende que a nova regra pode ser enquadrada como um típico caso de chamamento ao processo, na modalidade descrita no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil/1973, embora o autor reconheça que não existe solidariedade entre os devedores dos alimentos.
Sustenta sua posição na sistemática dos alimentos no plano do direito material, bem como no fato do chamamento ao processo ser destinado a dar maiores chances de que seja cumprido o encargo integralmente, sempre em benefício do autor da ação.
Já Fredie Didier Jr., comentando a nova regra do Código Civil[26], afirma que ela não prevê denunciação da lide nem chamamento ao processo, pelo simples motivo de que não existe direito de regresso nem solidariedade na obrigação alimentar entre parentes. Esse autor diz que é total a inovação introduzida pela nova regra e ela não encontra subsunção em nenhuma das outras espécies de intervenção de terceiros previstas na Lei Processual.
O art. 130 do CPC/2015 prevê o chamamento que é modalidade de intervenção de terceiro que é exclusivamente provocada pelo réu, de deverá efetuá-la na contestação. Sendo fixado o prazo de trinta dias úteis para o demandado forneça ao juízo todos os dados e elementos necessários para que a citação do chamado seja realizada, de modo evitar a indevida e injustificada paralisação do processo. E, ainda prevê prazo maior, de dois meses quando o chamado residir em comarca, seção ou subseção distinta daquela em que o processo tramita.
Uma vez efetivada a citação do chamado, este poderá ficar inerte, sendo decretada sua revelia, ou ainda, contestar o pedido do autor. Havendo revelia e não sendo presumidos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, caso o chamante tenha contestado, dada a unitariedade do litisconsórcio instaurado.
Exarada a sentença, equivale a um título executivo judicial tanto para o autor, quanto para o devedor que pagou a dívida por inteiro e sub-rogou-se no crédito referente à quota-parte dos demais devedores (art. 132).
O chamamento ao processo no CDC é previsto no art. 101, II que disciplina outra forma de intervenção de terceiro, ao prever in litteris: “o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do CPC. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este”.
Desta forma, o fornecedor demandado poderá incluir no processo o seu segurador, encerra, não obstante a denominação de “chamamento ao processo”, típica hipótese de denunciação da lide.
Visou o legislador ao utilizar do chamamento para ampliar a garantia do consumidor ao abranger a possibilidade de se incluir no polo passivo da demanda o segurador do fornecedor de produtos ou serviços, que responderá pela cobertura securitária independentemente de ação regressiva.
Porém, a utilização da denunciação da lide, pode viabilizar a inclusão do demandado no polo passivo da relação processual, também se presta a essa finalidade. Mas, não importa o nomen iuris do instituto e, sim, o reforço de garantia fornecido ao consumidor.
Há de se lembrar de que não é admitido o chamamento no processo de execução[27], posto que procedimento não admita a prolação de sentença conforme alude o art. 78 do CPC/1973. Também não se aplica aos coobrigados cambiários.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica
Cumpre primeiramente esclarecer que a personalidade jurídica é a aptidão genérica para possuir direitos e deveres do plano jurídico. E esta aptidão, refere-se à capacidade de fruir ou gozar direitos e suportar deveres, não implicando, necessariamente, capacidade de fato, ou seja, de exercício de direitos.
O início da personalidade das pessoas jurídicas, de outro passo, se dá pela previsão na lei ou pelo registro correspondente. Segundo Flávio Tartuce os direitos da personalidade se expressam por cinco grupos, a saber: intimidade e vida privada; nome, imagem, retrato e atributo; vida e integridade.
A tutela da personalidade jurídica se condensa basicamente nos direitos da personalidade, orientações normativas destinadas à proteção da pessoa humana.
Todos os direitos de personalidade que tem por principal fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana são direitos fundamentais. Aliás, conforme o Enunciado 274 do CJF, os conflitos entre direitos da personalidade se aplicam também às pessoas jurídicas, sobretudo pela previsão do art. 52 do Código Civil.
E o enunciado 227 da Súmula do STJ dá ensejo à reparação de danos morais ocasionados à pessoa jurídica.
Para fins didáticos é possível apontar distintas espécies de direitos de personalidade, conforme o bem especificamente tutelado. Entre tantos direitos, temos: o direito à saúde, direito à imagem, seja como imagem-retrato (representação física do corpo de uma pessoa ou partes do corpo), imagem-atributo (representação da pessoa perante a coletividade); direito autoral, direito à privacidade e intimidade e ao segredo.
E neste plano se inserem as imposições ao sigilo profissional e ao sigilo industrial.
As pessoas jurídicas são categorias jurídicas dotadas de personalidade autônoma a partir da reunião de pessoas e bens. Também são chamadas de pessoas coletivas ou morais, as pessoas jurídicas sempre serão representadas ou como quer Pontes Miranda, presentadas, havendo, pois a plena capacidade das pessoas jurídicas.
Sobre a discussão a respeito da existência da personalidade jurídica a doutrina se divide em dois grupos. Os defensores das teorias negativistas que negam a existência da personalidade jurídica das pessoas jurídicas e os defensores das teorias afirmativistas que insistem na existência da personalidade jurídica das pessoas jurídicas.
Dentre os afirmativistas se destacam as teorias da ficção legal, da realidade orgânica e da realidade técnica.
Consoante com a teoria da ficção legal que encontra em Savigny seu maior defensor, a personalidade das pessoas jurídicas resulta exclusivamente da lei. Por outro lado, a teoria da realidade orgânica ou objetiva que foi desenvolvida por Gierke e Zitelman, as pessoas jurídicas são organismos sociais vivos, dotados de existência material que, por sua vez lhe confere personalidade jurídica.
Por derradeiro, a teoria da realidade técnica ou jurídica criada por Maurice Hauriou que além de reconhecer a personalidade jurídica das pessoas jurídicas decorre da sua existência material também reconhece que a lei é o instrumento de atribuição dessa personalidade.
A teoria adotada pelo Código Civil brasileiro vigente é a teoria da realidade técnica que é produto das duas teorias anteriores e, tem causa não somente pela previsão em lei, mas sobretudo por sua expressão social.
Destaque-se que o art. 45 do C.C. estipula que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia a partir da inscrição de seu ato constitutivo no registro respectivo, precedida, quando for o caso, de autorização de um dos poderes do Estado.
Afora isso, para garantir a estabilidade da personalidade e a segurança jurídica prevê-se que em três anos decairá o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
Curial lembrar que de acordo com a classificação adotada pelo Código Civil brasileiro as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.
E, nos termos do art. 44 do C.C. são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada.
É relevante ponderar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja utilizável para a desconsiderar, teoricamente, a personalidade jurídica de quaisquer pessoas jurídicas de direito privado, na maioria dos casos as discussões sobre a desconsideração recarão sobre as sociedades empresárias e sobre as empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI[28].
Convém lembrar os tipos de sociedades existentes no ordenamento jurídico brasileiro, bem como das espécies de responsabilidade dos seus sócios. Pois além das sociedades em comum e em conta de participação, não personificadas (artigos 986 a 996 do Código Civil), o Código Civil disciplina as sociedades simples, não empresárias (arts. 997 e seguintes do C.C.) e as sociedades empresárias. Dentre as sociedades empresárias merecem destaque as seguintes: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples[29], sociedade em comandita por ações, sociedade limitada e sociedade anônima.
A EIRELI é disciplinada pelo artigo 980-A do Código Civil apesar de ser denominada de empresa, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada. É pessoa jurídica composta por um único sujeito. Se recorrermos à analogia pode-se afirmar que se aproxima da sociedade limitada com um único sócio. Em resumo, é sociedade limitada unipessoal, com algumas peculiaridades.
O sujeito que compõe a EIRELI é o titular de todo o capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no país.
Apesar da EIRELI[30] não ser considerada propriamente como uma sociedade empresária, considerando a sua personalidade e autonomia em relação ao seu titular, nada impede que ela também seja submetida ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Há de se destacar que há três características fundamentais das sociedades sejam empresárias e simples, a saber, a sua autonomia negocial, capacidade processual e autonomia patrimonial.
Por ter autonomia negocial, as sociedades empresárias realizam negócios jurídicos em nome próprio e no seu próprio interesse. Logo, responde, em nome próprio perante terceiros. Em todo caso, o sócio ou administrador sempre agirá em nome e no interesse da sociedade empresária.
Por assumir obrigações em nome próprio as sociedades também possuem capacidade para figurar nos polo ativo e passivo das relações processuais. Sua capacidade processual decorre logicamente de sua capacidade civil, vale dizer, de sua capacidade de contrair direitos, deveres e ter poder de exercê-los em nome próprio.
Destaque-se que a sociedade empresária tem o seu próprio patrimônio, autônomo e distinto do patrimônio dos seus sócios. Nesse caso, é o patrimônio autônomo da sociedade que, e regra, responderá pelas obrigações assumidas com terceiros.
Ordinariamente, mesmo que se trate de modelo societário cujos sócios tenham responsabilidade ilimitada, a sociedade deverá ser responsabilizada primeiramente. Somente após o esgotamento do patrimônio da sociedade, em regra, poderá haver, subsidiariamente, a responsabilidade patrimonial do sócio. Dizemos, em regra, pois excepcionalmente o patrimônio do sócio poderá ser atingido antes do patrimônio da sociedade, como se passa nos casos de desconsideração.
São exatamente as autonomias negocial e patrimonial que tanto justificam a desconsideração da personalidade jurídica. Naturalmente só será adequado pretender a desconsideração quando houver uma personalidade jurídica autônoma considerada como tal no ordenamento jurídico.
Mas as sociedades empresárias se manifestam através de seus sócios e administradores[31]. Sem as pessoas naturais as sociedades não poderiam atuar no plano da realidade.
Prevê a legislação cível brasileira que a pessoa jurídica ficará obrigada pelos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. E, no silêncio do estatuto ou contato social os administradores das sociedades poderão praticar todos os atos relacionados à sua gestão, com exceção da alienação de imóveis.
Neste caso, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Como expressão, ainda que parcial, da teoria ultra vires[32], o parágrafo único do art. 1.015 do C.C. estipula que o excesso pelo menos uma das seguintes hipóteses: se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade; provando-se que era conhecida do terceiro; tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
Portanto, exceto nestes três casos a sociedade deverá responder perante terceiros em virtude dos atos praticados por seus administradores.
Ordinariamente, o alcance ao patrimônio dos sócios pela desconsideração da personalidade jurídica só ocorrerá quando houver condutas abusivas ou expressa previsão legal destinada à tutela de bens juridicamente relevantes.
O NCPC faz remissão genérica após os pressupostos previstos no ordenamento jurídico brasileiro para a desconsideração da personalidade jurídica. Assim o pedido terá que ser fundamentado nos pressupostos indicados em normas de direito material[33]. Também há previsão da desconsideração inversa da personalidade jurídica que também poderá ser manejada pelo incidente.
Inova o NCPC ao prever que é possível haver o incidente em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial.
O requerimento deverá demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração e sua instauração suspenderá o processo.
Com a firme preocupação com o contraditório, o legislador previu que, instaurado o referido incidente, o sócio ou a pessoa jurídica seja, citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis em até quinze dias úteis (art. 135 do CPC/2015).
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória; se a decisão for proferida pelo relator, caberá agravo interno (art. 136 do CPC/2015).
E, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução[34], será ineficaz em relação ao requerente (art.137 do CPC/2015). O referido dispositivo positiva entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que se acolhido o pedido da desconsideração, a eventual alienação anterior de bens será considerada como fraudulenta e, portanto será considerada ineficaz perante o requerente.
A desconsideração da personalidade jurídica pode ser operada segundo parâmetros objetivos ou subjetivos. Em algumas hipóteses a constatação de prática de conduta ilícita do sócio indispensável para que se possa desconsiderar a personalidade jurídica. Nestes casos, cogita-se na Teoria Maior da Desconsideração[35] referenciada no elemento subjetivo.
Em outras hipóteses a aferição da prática de ato ilícito é irrelevante para haver a desconsideração. Nestes casos, a despeito da ilicitude das condutas dos sócios, pela assunção da Teoria Menor[36], pode haver a desconsideração da personalidade jurídica sempre que for necessária à tutela de bens juridicamente mais relevantes.
Em síntese, de maneira geral, pode-se afirmar que enquanto os artigos 50 do C.C. e o art. 34 da Lei 12.529/11 adotam a Teoria Maior, os artigos 29 do CDC, 10 e 448 da CLT e ainda o art. 4º da Lei 9.605/08 adotam a teoria menor.
Parte da doutrina defende que o Código Civil brasileiro adotou a teoria maior objetiva, a jurisprudência caminha em sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica pode se fundamentar tanto na teoria maior objetiva quanto na teoria maior subjetiva.
E, os expedientes fraudulentos em desfavor de terceiros praticados pelos sócios seriam causas legítimas para a desconsideração da personalidade jurídica. O redirecionamento de execução fiscal aos sócios da sociedade, nos termos do artigo 135 do CTN é um ilustrativo caso da aplicação da teoria maior subjetiva.
No NCPC passa a regrar o amicus curiae[37]. A proposta é que este terceiro vem a defender uma posição institucional e que não necessariamente coincida com a das partes, intervenha para apresentar dados proveitosos à apreciação da demanda.
O magistrado, considerando a relevância da matéria e da temática, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da intimação (art. 138).
É verdade que o amicus curiae não era previsto no CPC/1973, mas já era previsto em leis específicas e utilizado no controle concentrado de constitucionalidade no STF e no julgamento de recursos repetitivos (hipótese expressamente mencionada no art. 138, §3º). Já o debate se deve ser admitido amicus curiae em causas individuais em primeiro grau. O CPC/2015 não veda expressamente a hipótese.
A existência da intervenção de terceiros vem a confirmar que todo processo possui uma dimensão de interesse público, não cabendo mais a vetusta noção de que seja mera coisa das partes ou dos litigantes.
Dada a constatação de que a complexidade social torna as relações jurídicas entre os sujeitos muitas vezes inter-relacionadas, sob diversas formas e graus, depreende-se que também sob muitas formas os efeitos produzidos pela sentença atingem aqueles que não foram partes em determinado processo.
Em todos os casos, as chamadas intervenções de terceiros ampliam os efeitos da sentença a ser proferida no processo, que atingirão também os sujeitos intervenientes.
Seja alargando o objeto do processo (pedido, pretensão nele deduzida), seja deixando-o intacto, a intervenção tem o efeito de fazer com que as novas partes fiquem diretamente sujeitas aos resultados do processo e, mais que isso, vinculadas à autoridade da coisa julgada nele produzida.
Afinal, é precisamente essa a utilidade das intervenções, quer coercitivas, quer voluntárias. Tendo o interveniente, na condição de parte, contribuído ativamente para a formação do provimento final, nenhuma razão constitucional há para negar-lhe a imposição da coisa julgada material.
Referências:
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 16ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012.
FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; Fabrício Bastos. Novo Código de Processo Civil. O que é inédito. O que mudou. O que foi suprimido. Salvador: JusPodivm, 2015.
HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Novo Código de Processo Civil. Comparado e Anotado. Niterói: Editora Impetus, 2015.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.
MELO, Nehemias Domingos de. (Coordenador) Novo CPC Anotado Comentado e Comparado. São Paulo: Editora Rumo Legal, 2015.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações Constitucionais. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013.
SANTANNA, Alexandre Ávalo; NETO, José de Andrade (coordenadores). Novo CPC Análise Doutrinária sobre o novo direito processual brasileiro. In: FLEXA, Alexandre. M. Intervenção no NCPC 380-391p. Volume 1. 1ª ed., Campo Grande: Editora Contemplar, 2016.
SILVA, Ovídio A. Baptista. Curso de Processo Civil. Volume 1. Tomo I. 8ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
TESHEINER, José Maria Rosa. Partes no Processo Civil – Conceito e preconceito. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 10, nº 1069, 23 de dezembro de 2010. Disponível em: http://www.tex.pro.br/home/artigos/118-artigos-dez-2003/4587-partes-no-processo-civil-conceito-e-preconceito Acesso em 03.03.2016.
ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003.
[1] O conceito clássico de partes, sem levar em conta a extensão subjetiva da sentença e da coisa julgada, é preciso e exato, mas de pouca utilidade, porque outros sujeitos podem ter iguais poderes e sofrer iguais efeitos. Em resumo, afirmar que alguém é ou não é parte pouco significa, para determinar seus poderes no processo e os efeitos que possa sofrer. A precisão e a dimensão desse conceito não têm impedido controvérsias a respeito da condição de parte do assistente, havendo afirmações no sentido de que não é parte em hipótese alguma; que é parte em qualquer caso; que é parte, se litisconsorcial a assistência.
[2] O conceito de terceiro é encontrado por negação, sendo o que não for parte do processo, seja porque nunca esteve nesta, seja porque foi parte, mas também o que deixou de sê-lo por qualquer motivo. Afirma Barbosa Moreira que é terceiro quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer tenha deixado de sê-lo em momento posterior àquele que se profira a decisão judicial. Trata-se de conceito simples, mas decorrente da simples inatividade em relação ao processo.
[3] Além das duas novas inserções foram mantidas a assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo.
[4] No caso da assistência, mais especificamente, a vinculação do interveniente ao resultado do processo se dá sob a forma do “efeito” ou da “eficácia da intervenção” (Interventionswirkung).
Da proibição, imposta pela lei, de que o assistente discuta a “justiça da decisão” proferida no processo em que interveio (CPC/1973, art. 55), extrai-se ficarem indiscutíveis e imutáveis, perante ele, não apenas o dispositivo, mas também os fundamentos jurídicos da sentença.
Se, por esse lado, a “eficácia da intervenção” assistencial é mais severa que a autoridade da coisa julgada, por outro é mais branda, haja vista que o assistente se subtrai dessa vinculação se demonstrar que não teve plenas condições de fazer valer suas razões no processo em função da conduta do assistido ou do estado em que recebera a causa.
[5] O conceito de interesse jurídico é o ponto mais tormentoso e controvertido no estudo da assistência, limitando-se o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 50, a dispor que poderá intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas.
Iniciaremos este esboço doutrinário pelos conceitos que se nos afiguram mais completos, que são os fornecidos por Thereza Alvim e Arruda Alvim.
Segundo Thereza Alvim, o interesse será jurídico “se a esfera jurídica do terceiro puder ser atingida de fato, isto é, pelos fundamentos de fato e de direito da sentença ou pela própria decisão, de forma indireta, tenha ele entrado ou não no processo”. Em trabalho mais recente, Thereza Alvim afirma que “só será jurídico o interesse do terceiro, se a decisão judicial da lide, ou seja, do pedido que não foi, nem por ele, nem contra ele, feito, puder vir a afetar relação jurídica sua com o assistido, puder ser atingido por atos executórios afetando sua esfera jurídica, ou, ainda, puder ser alcançada sua esfera jurídica, atual ou potencialmente”, acrescentando que o terceiro será atingido apenas pela eficácia natural da sentença.
Arruda Alvim afirma que a esfera jurídica do assistente simples poderá ser afetada de duas formas: 1) se a própria decisão do processo alcançar relação jurídica sua com quem deseja assistir, como uma prejudicial; 2) se a justiça da decisão operar efeitos de fato na esfera jurídica do assistente simples. Esclarece esse autor que, para o interesse do terceiro ser considerado jurídico, “deve, do processo entre outras pessoas, pode resultar influência benéfica ou contrária, prejudicial ou indireta, no conflito de interesses, atual ou potencial, que tem ele com a parte a quem deseja assistir”.
Em outra obra, Arruda Alvim destaca que o interesse jurídico como justificador do ingresso do assistente simples deve ser aferido em função de a sentença poder afetar ou não esse terceiro.
Em interessante parecer, Arruda Alvim sustenta que o “mero reflexo prático na posição do assistente é o bastante para justificar o seu ingresso; a isto se reduz o interesse jurídico do assistente”, esclarecendo mais adiante que “recebe, pela lei processual vigente, a qualificação de jurídico o interesse do terceiro se vislumbrado estiver, atual ou potencial, atingimento de fato na sua esfera jurídica” e concluindo que “a tradição do nosso Direito é a mais liberal possível, tangentemente à configuração do interesse do assistente”.
Citando Rosenberg, bem demonstra que o conceito de interesse jurídico não pode ser delimitado de maneira formal, estando presente essa classe de interesse, segundo o processualista alemão, “sempre que o interveniente aderente esteja em relação jurídica tal com as partes ou o objeto do processo principal, que uma sentença desfavorável influiria de algum modo, juridicamente e em seu detrimento, em sua situação de Direito Privado ou Público”
[6] Incidente do processo é ato ou série de atos realizados no curso do processo. É um procedimento menor, inserido no procedimento desse processo, embora sem surgir nova relação jurídica processual. Temos como exemplo: as exceções instrumentais de suspeição, impedimento, incompetência relativa, o incidente de uniformização de jurisprudência, incidente de declaração de inconstitucionalidade.
Conclui-se que toda intervenção de terceiro é um incidente de processo, mas, jamais, um processo incidente, posto que terceiro ingresso em processo alheio, impondo-lhe alguma modificação.
[7] É o artigo inicial sobre a intervenção de terceiros. A assistência simples e a litisconsorcial ficavam situadas em local imediatamente anterior a este título. Com o CPC de 2015, a assistência tanto a simples como a litisconsorcial passou a ser expressamente considerada como modalidade de intervenção de terceiro, bem ao lado da denunciação da lide, do chamamento ao processo, da desconsideração da personalidade jurídica e do amicus curiae. A oposição, por sua vez, fora realocada e atualmente passou a ser tratada como um dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa (art. 682 ao art.686). A nomeação à autoria que tenciona a correção de ilegitimidade passiva, desaparece com este nomen iuris, embora possa ser realizada diretamente no bojo da peça contestatória. O parágrafo único do art. 119 do novo CPC vez que nem sempre o procedimento especial autoriza o ingresso do assistente, basta ver o art. 10 da Lei 9.099/95.
[8] Em primeira análise cabe informar que a origem deste importante instituto: a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, foi desenvolvida pelos tribunais norte-americanos e anglo-saxões, sendo, posteriormente, importada para o ordenamento jurídico brasileiro.
O instituto nasceu em virtude de casos concretos, em que o sócio de determinada empresa, utiliza-se da “blindagem patrimonial” para lesar credores, desviando o sentido da norma para interesses escusos e odiosos. Entre esses casos, dois merecem destaque: 1) State vs. Standard Oil Co., julgado em 1982 pela Suprema Corte do Estado de Ohio, nos EUA, 2) Salomon vs. Salomon & Co., julgado pela Câmara de Londres, em 1897, na Inglaterra.
Visando controlar esse desvio de finalidade e proteger os institutos da boa-fé objetiva e da finalidade social das empresas, entenderam os tribunais que a autonomia patrimonial não poderia albergar fraudes. Assim, quando houvesse desvio de patrimônio da sociedade para o patrimônio pessoal, com o objetivo de fraudar credores, não haveria fundamento para proteger o patrimônio pessoal dos sócios.
[9] Na lição de Fredie Didier Jr., processo incidente é uma relação jurídica nova, assentada sobre um procedimento novo. Considera-se incidente esse processo porque instaurado sempre de modo relacionado com algum processo pendente e porque visa a um provimento jurisdicional que de algum modo influirá sobre este ou seu objeto. São exemplos comuns: os embargos do executado, os embargos de terceiro, a cautelar incidental, a reclamação constitucional e a oposição autônoma.
[10] Há ainda a assistência anômala prevista na Lei 9.469/97, art. 5º: A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.
[11] Luiz Guilherme Marinoni também afirma que a existência de relação jurídica entre o terceiro e a parte não integra o conceito de interesse jurídico e, para confirmar seu raciocínio, invoca o clássico exemplo do tabelião que ingressa em processo em que se discute a existência de vício em escritura pública, em que se admite a assistência sem que haja relação jurídica.
[12] Em sua recente dissertação, João Luís Macedo dos Santos considera um importante parâmetro para a verificação da existência do interesse jurídico o entendimento retirado de julgamento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual deve partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela adviria prejuízo juridicamente relevante.
Esse breve e exemplificativo panorama doutrinário é suficiente para demonstrarmos a fluidez conceitual de interesse jurídico. De todo modo, as posições doutrinárias fornecem relevantes subsídios para a identificação concreta do interesse jurídico.
[13] Quando o interesse do assistente for indireto, ou seja, não vinculado diretamente ao litígio, diz-se que a assistência é simples. A sublocação do exemplo não figura como objeto da lide. E, a admissibilidade de tal assistência decorre apenas do interesse jurídico indireto. E o assistente atuará como legitimado extraordinário subordinado, portanto, em nome próprio, auxiliará na defesa de direito alheio. A legitimação é subordinada, pois é imprescindível a presença do titular da relação jurídica controvertida. Trata-se o assistente simples de mero coadjuvante do assistente, tendo atuação complementar, não podendo ir de encontro à opção processual deste.
[14] Na assistência litisconsorcial por possuir interesse direto na demanda, o assistente é considerado litigante diverso do assistido, razão pela qual não fique sujeito á atuação deste. Poderá, portanto, praticar atos processuais sem subordinar-se aos atos praticados pelo assistido e gozará de poderes, como requerer o julgamento antecipado da lide, recorrer, impugnar ou executar sentença.
[15] Há uma sutil modificação no CPC/2015: no rol das condutas dispositivas do assistido que vinculam o assistente simples se acrescenta a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 122, NCPC). O CPC/1973, inexplicavelmente, não a mencionava no art. 53, certamente misturando desistência da ação, expressamente referida, com renúncia do direito sobre o que se funda a ação, conduta ignorada, nada obstante ainda mais gravosa ao assistido. Esse erro se repetia no inciso VIII do art. 485, hipótese de ação rescisória, que também não mencionava a renúncia, embora cuidasse da desistência. O curioso é que, tanto para o CPC/1973 como para o NCPC, são atos dispositivos bem diferentes, inconfundíveis: o primeiro leva a uma decisão sem resolução de mérito (art. 267, VIII, CPC/1973; art. 495, VIII, NCPC) e a segunda, a uma decisão com resolução de mérito (art. 267, II, CPC/1973). O NCPC corrige a omissão.
[16] Chama-se substituto processual aquela pessoa física ou jurídica a quem a lei, em excepcionais e expressas situações, confere legitimidade – chamada, portanto extraordinária, em contraposição à ordinária do art. 6º – para atuar em juízo em nome próprio -, mas no interesse de outro sujeito. O legitimado extraordinário figura, assim como parte no processo, apesar de não ser parte na relação jurídica material controvertida. Os efeitos da sentença projetam-se naturalmente sobre o substituído, titular que é dos interesses em jogo.
[17] O referido dispositivo trata do mero ajuste redacional, disciplinando o fenômeno chamado de exceptio male gesti processus que traduz a rara hipótese que autorizam o assistente simples a discutir, em futuro processo a ser discutido, os fundamentos da decisão em que tenha participado como terceiro.
[18] “Ao intervir, o terceiro adquire a qualidade de parte. Qualquer que seja a modalidade de assistência, ele terá faculdades, ônus, poderes e deveres inerentes à relação processual”. (Cândido Rangel Dinamarco). A afirmação é discutível. O mesmo doutrinador paulista assevera: “Mesmo quando adjetivado de litisconsorcial, o assistente não é autor de demanda alguma nem em face dele foi proposta qualquer demanda; a procedência da inicial não lhe trará bem algum, nem retirará coisa alguma de seu patrimônio. Ele é sempre um auxiliar da parte principal”. Se é importante distinguir parte e auxiliar da parte, não se justifica a afirmação de que o assistente se torna parte.
Se parte é quem pede ou aquele contra quem é formulado o pedido, o assistente, mesmo litisconsorcial, parte não é.
Se definimos “parte” como aquele que é sujeito de direitos, poderes, ônus e deveres processuais, mesmo o assistente simples é parte. Mas, nesse caso, não se terá como distinguir a atuação do Ministério Público como fiscal da lei, de sua atuação como parte, porque em qualquer dos casos é sujeito de direitos e deveres processuais.
[19] Diz Athos Gusmão Carneiro: “O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, não formula pedido algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte (grifo meu). O assistente insere-se na relação processual com a finalidade ostensiva de coadjuvar a uma das partes, de ajudar ao assistido, pois o assistente tem interesse em que a sentença venha a ser favorável ao litigante a quem assiste”.
[20] A originária denuntiatio litis do direito romano não passava de um expediente por meio do qual o denunciante dava notícia ao denunciado da pendência da lide, de que poderia nascer, com a sucumbência do garantido (denunciante), o dever para o denunciado de indenizar-lhe os prejuízos, de modo a colocá-lo, através dessa comunicação que se fazia ao terceiro, em condições de ingressar na demanda como assistente do denunciante e preservar, com tal expediente, seu direito de propor contra o denunciado uma futura ação de regresso. Esse tipo de denunciação da lide, que se resume na comunicação formal feita a um terceiro da existência da controvérsia, por uma das partes, dando-lhe ciência da demanda, de modo a assegurar o direito de regresso contra o denunciado, a ser exercido em demanda subsequente, portanto sem que a denunciação implique, desde logo, a propositura da causa de garantia entre o denunciante e o denunciado, é o modo seguido pelo moderno direito alemão.
[21] Haverá limitação quanto ao número de denunciações da lide. É o que informa o art. 125, §2º do NCPC que permite a denunciação sucessiva. Então, são possíveis até quatro denunciações da lide no mesmo processo. Ou seja, uma regular e uma sucessiva por cada parte no processo.
[22] A revogação do art. 456 do C.C. por parte do art. 125, I do NCPC pelo qual só é possível a denunciação ao alienante imediato e a não reprodução da regra contida no art. 73 do CPC/1973 indicam que o princípio da relatividade dos efeitos se sobrepôs ao princípio da função social quanto à evicção. Porém, se analisarmos, mais detidamente, se a função social não é norma de ordem pública que não possa ser afastada pela vontade das partes? Responde José Fernando Simão, positivamente pois o princípio cede por força de lei para dar espaço ao tradicional res inter alios acta.
[23] Especificamente sobre o instituto da denunciação da lide, mister se faz destacar três importantes inovações do NCPC sobre o assunto, quais sejam: fim da obrigatoriedade da denunciação da lide, limitação da denunciação da lide sucessiva e proibição da denunciação da lide per saltum.
Por derradeiro, a denunciação da lide per saltum, ou seja, aquela feita não ao alienante imediato, mas a qualquer um dos alienantes anteriores, desaparece do sistema jurídico brasileiro, notadamente pela opção legislativa contida no artigo 1.072, inciso II, do NCPC, que revogou expressamente o artigo 456 do Código Civil Brasileiro vigente, suporte atual para o entendimento majoritário no sentido de que seria possível a referida forma de denunciação.
[24] Importante consignar que infelizmente alguns civilistas vinham conferindo ao art. 456 do C.C. uma equivocada interpretação. Principalmente por conta da afirmação que haveria o caso de aplicação da eficácia externa da função social do contrato. E, daí extraíam que haveria uma solidariedade entre todos os integrantes da cadeia dominial. Mas, tal entendimento é inaceitável, pois se houvesse a norma civil brasileira criado uma hipótese de solidariedade, não haveria sentido em se prever o cabimento da denunciação da lide e, sim, de chamamento ao processo. Portanto, tal interpretação se mostrava inconciliável com sistema processual vigente.
[25] Fredie Didier Júnior, com razão, assinala que toda a construção dogmática acerca dos institutos da intervenção de terceiros pauta-se por ideias criadas na época em que o processo tinha uma concepção puramente individualista, servindo como mecanismo de solução de conflitos individuais, destacando que o fenômeno interventivo diz respeito, sobretudo, ao problema da legitimidade, que sofre inúmeras derrogações com o aprimoramento da tutela coletiva.
[26] Inicialmente cumpre frisar que a obrigação dos avós é obrigação caracterizada pela excepcionalidade, somente sendo admitida diante de prova inequívoca da impossibilidade de os pais proverem os alimentos, sendo obrigação subsidiaria e complementar.
A natureza da obrigação alimentar de modo geral e também dos avós deriva do princípio da solidariedade. Nas palavras de Rizzardo (2007 p. 721), “funda-se o dever de prestar alimentos na solidariedade humana e econômica que deve imperar entre os membros da família ou os parentes. Há um dever legal de mútuo auxilio familiar, transformado em norma ou mandamento jurídico. ”
As discussões tornaram-se maiores e mais ousadas após a vigência do Código Civil de 2002, que com a nova redação dos artigos 1.694 e 1.695, pode levar o intérprete do Direito equivocadamente, concluir que o legislador objetivou que os avós, paguem alimentos a seus netos de forma imperativa e indiscriminada.
Art.1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele que, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
[27] Com razão adverte Zavascki que a doutrina predominante, na esteira do pensamento de Liebman, considera o responsável secundário como terceiro, e não como parte, na relação processual. Já em sentido contrário, na doutrina brasileira, conforme Araken de Assis percebe que tal orientação tem fim prático importante que seja o de definir como sendo os embargos de terceiro e não os embargos do devedor, o instrumento de defesa cabível do responsável secundário, mas deve ser tomada com reservas. A rigor o art. 592 CPC/1973 evidencia que, a rigor, apenas existem duas hipóteses, do sócio e do cônjuge, que são típicas de responsabilidade executória secundária.
Porém, é diferente a situação do sócio e a do cônjuge cuja responsabilidade patrimonial tem, no fundo, natureza fiduciária, em face da posição de proveito que, real ou presumidamente, obtiveram em decorrência do débito assumido pela sociedade ou pelo outro cônjuge. (In: ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003).
[28] A Lei nº 12.441/2011 que instituiu a figura da Empresa Individual De Responsabilidade Limitada se baseou em modelos criados por países europeus, principalmente França, Alemanha e Portugal, para admitir no ordenamento nacional uma sociedade empresária unipessoal com responsabilidade limitada.
A legislação alemã, em 1980, e a Francesa, em 1985, passaram a admitir a constituição de sociedades limitadas unipessoais e pluripessoais.
[29] Na sociedade em comandita simples há dois tipos de sócios: os sócios os comanditados, e comanditários. Os primeiros são, necessariamente, pessoas físicas que respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, colaborando com capital; já os segundos, são obrigados apenas pelo valor de suas quotas. O contrato social deve prever especificamente quais são os sócios comanditados e comanditários. Nesse tipo societário o nome empresarial, conforme já dito, só pode firma ou razão individual/social.
[30] Analisando a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, e fazendo-se uma análise puramente positivista, chegaremos à conclusão de que, em havendo confusão patrimonial, poderá haver desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que, devido à natureza da atividade dos empreendedores que almejam este tipo de constituição societária, sendo em sua maioria empreendedores individuais, micro e pequeno produtores, artesãos, prestadores de serviço, empresários individuais, há uma confusão patrimonial natural, já que a atividade deste tipo de empreendedor é, em sua natureza, de subsistência, não de investimento, como nas demais sociedades empresárias. Senão vejam-se os dados sobre localização do empreendimento e outras fontes de renda dos empreendedores extraídos da pesquisa Perfil do microempreendedor brasileiro, realizada em 2012 pelo SEBRAE, que poderá esclarecer o quanto são confusas as interações dos patrimônios dos empreendedores e dos empreendimentos.
[31] Há os seguintes pontos básicos: poderes do administrador, responsabilidade do administrador, responsabilidade coletiva e individual do administrador nos casos de administração plúrima, administrador “laranja” e responsabilidade da sociedade (vinculação). Existem duas espécies: comuns e especiais. Poderes comuns ou intra vires (dentro das forças): Salvo restrição contratual, o administrador fica automaticamente investido. Decorrem do só fato de ser administrador.
Equivalem aos poderes do mandato em termos gerais (CC/1916, art. 1.295; CC/2002, 661) e aos da cláusula ad judicia para o advogado (CPC, art. 38, 1ª parte).
São os poderes de gestão ou para os atos normais de administração. Por exemplo, os atos relativos ao objeto social, admitir, demitir empregados, etc.
Poderes especiais ou ultra vires (além das forças): Há necessidade de outorga expressa. Isso não vigora apenas para o administrador de sociedade. Equivalem aos poderes especiais do mandato (CC/1916, art.
1.295, §§ 1º e 2º; CC/2002, art. 661, §§ 1º e 2º), o mesmo ocorrendo para o advogado (CPC, art. 38, 2ª parte). São os poderes para os atos que desbordam dos normais de gestão ou de administração;
[32] A Teoria Ultra Vires surgiu em meados do século XIX, por ação das cortes britânicas, com o objetivo de evitar desvios de finalidade na administração das sociedades por ações, e preservar os interesses dos investidores. Essa teoria afirmava que qualquer ato praticado em nome da pessoa jurídica, por seus sócios ou administradores, que extrapolasse o objeto social seria nulo.
Com o tempo percebeu-se a insegurança que sua aplicação gerava para terceiros de boa-fé que negociavam com tais sociedades e, assim, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, ao longo do século XX, os órgãos judiciais flexibilizaram o rigor inicial da Teoria Ultra Vires.
Os atos ultra vires, ou seja, aqueles praticados pelos sócios ou administradores fora dos limites do objeto social, com desvio de finalidade ou abuso de poder, passaram de nulos a não oponíveis à pessoa jurídica, mas oponíveis aos sócios ou administradores que os houvessem praticado.
Para confrontar a Teoria Ultra Vires surgiu a Teoria da Aparência que protege o terceiro de boa-fé que contrata com a sociedade. Por essa última teoria, o terceiro – que de modo justificável desconhecia as limitações do objeto social ou dos poderes do administrador ou do sócio que negociou – tem o direito de exigir que a própria sociedade cumpra o contrato. Posteriormente a sociedade pode regressar contra o administrador ou sócio que agiu de modo ultra vires.
[33] A partir da vigência da lei 12.846/133, que ficou conhecida por Lei Anticorrupção, mais um diploma contempla norma voltada à desconsideração da personalidade jurídica, utilizando-se da seguinte redação:
Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.
[34] A súmula 375 do STJ, de 18 de março de 2009, tem o seguinte conteúdo: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Anteontem, dia 21 de novembro, o site do STJ veiculou informação de que a 3ª turma reafirmava tal entendimento.
O Código de Processo Civil de 1973, no art. 593, não exige a prova da má-fé do adquirente para a caracterização da fraude de execução: “Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I – quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III – nos demais casos expressos em lei”.
A situação mais comum de fraude é a prevista no inciso II. Pelo seu teor, se corre demanda contra o devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, eventual alienação (ou oneração) de bens por ele praticada, nessas circunstâncias, é fraudulenta.
Quando ocorre alienação de bens pelo devedor em estado de insolvência, há duas ordens de interesses em conflito: a primeira, do credor frustrado com a alienação e, a segunda, do terceiro adquirente. Não se pode conferir o mesmo bem jurídico a ambos. Ou a alienação é incólume e o terceiro não pode ser alcançado, ou a alienação é ineficaz em relação ao credor, para beneficiá-lo. Na segunda hipótese, resta ao adquirente apenas ação contra o devedor que, provavelmente, será inócua.
Doutrina e jurisprudência, ao longo das últimas décadas, sensibilizaram-se diante de inúmeros casos em que a pessoa adquiria um determinado bem, normalmente imóvel, muitas vezes com bastante suor e sacrifício, e depois sucumbia sumariamente, por causa da inesperada declaração de fraude de execução, mesmo tendo tomado todos os cuidados considerados normais para a aquisição.
[35] O STJ entende que a regra do sistema jurídico brasileiro é a Teoria Maior pois para haver a desconsideração, além do inadimplemento é necessário comprovar a fraude/abuso cometidos pelos sócios. Fora de fato adotada expressamente no art. 50 do C.C.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves a característica fundamental das pessoas jurídicas: é ade que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que a compõem (sócios).
A Teoria Menor da Desconsideração entende que a mera insolvência da PJ permite a desconsideração de sua personalidade. Tal teoria é aplicada de forma restrita, pois atinge somente o direito do consumidor e o direito ambiental.
[36] A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
– A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
– Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
– A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
[37] Existem vários entendimentos a respeito da natureza jurídica do amicus curiae. Já mencionava Celso Mello, por ocasião do julgamento da ADI 2.130, referiu-se a uma intervenção processual. E, de acordo com o eminente doutrinador, é razoável afirmar que a natureza jurídica do amicus curiae é de modalidade sui generis de intervenção de terceiros, com as características próprias, aplicável ao processo objetivo de controle de constitucionalidade. Vide LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.