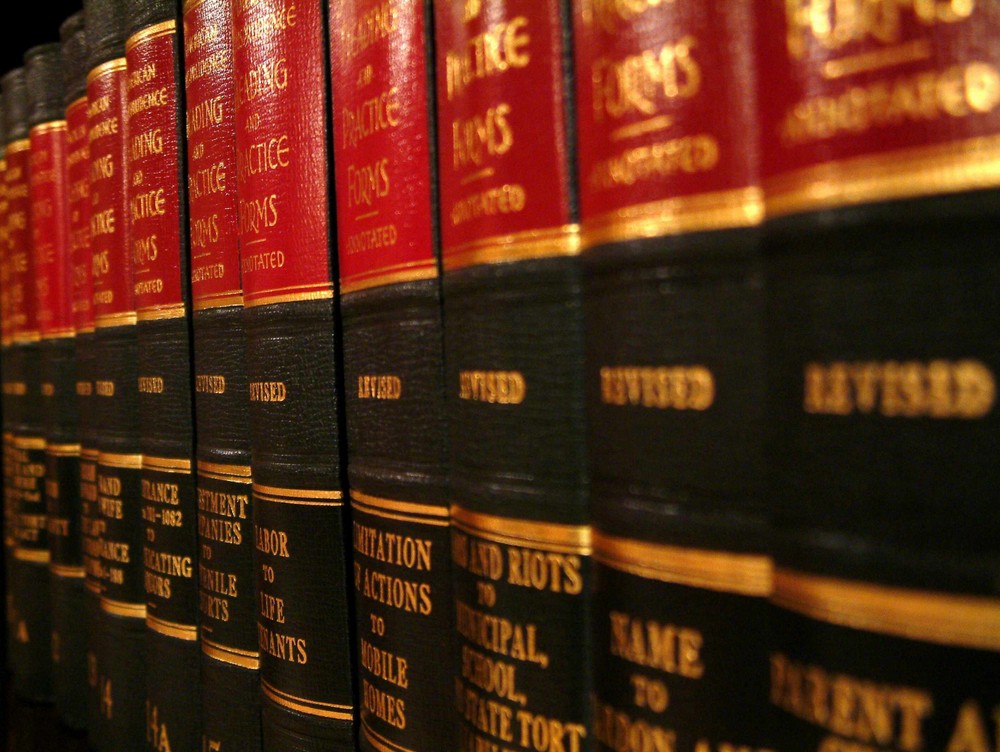- Gisele Leite
É verdade que a noção de dignidade da pessoa humana bem como o mínimo existencial são indissociáveis, sendo onipresentes no constitucionalismo contemporâneo, particularmente, o brasileiro.
A concepção original do mínimo existencial advém do direito alemão e dos debates havidos pela doutrina e jurisprudências germânicas, na década de cinquenta, onde se passou a cogitar sobre a existência de garantia de um mínimo indispensável à sobrevivência humana digna.
Robert Alexy[1] em 1952 identificou a tese em decisão do Tribunal Constitucional alemão, exarada sobre a assistênciasocial, quando se erigiu a existência de direito fundamental a um mínimo existencial. Em verdade, a consagrada Constituição alemão não apresenta um extenso rol de direitos sociais, por isso o Tribunal Alemão teve que se dedicar a construção de quais seriam os direitos mínimos a serem assegurados pelo Estado alemão, aos seus cidadãos, afirmando existir, pelo menos um direito fundamental social não escrito, umverdadeiro direito subjetivo ao mínimo existencial.
Lembremos, pois, que o mínimo existencial não se restringe apenas garantir a existência física da pessoa, nem mera sobrevivência. E, por força de sua função instrumental, é efetivado, quando além da sobrevivência, garantem-se igualmente as condições para vida digna, livre e participativa.
Apesar da falta de dicção normativa específica, reside o mínimo existencial em diversos princípios constitucionais, entre estes, o da liberdade, pois sem o mínimo existencial inviabiliza a sobrevivência do homem e, ipso facto, desaparecem as condições essenciais de liberdade[2].
O fundamento primacial do mínimo existencial está nas condições para o exercício da liberdade, ou até na liberdade para com objetivo de diferenciá-las da liberdade que é mera ausência de constrição. Assim, o direito às condições mínimas de existência inclui-se entre os direitos de liberdade, igualmente conhecidos como direitos humanos ou direitos naturais, pois é inerente à condição humana, sendo mesmo direito público subjetivo com validade erga omens, aproximando-se do conceito e das consequências do estado de necessidade. Portanto, não se esgota no vasto rol contido no artigo 5º da Constituição Federal brasileira vigente, nem em nenhum catálogo preexistente, pois sendo dotado de historicidade, é variável conforme o contexto social e cultural.
Segundo Ricardo Torres, o mínimo existencial pode ser encarado como sinônimo de mínimo social ou direito constitucional mínimo, fundamentando-se nas iniciais condições para o exercício da liberdade, existente na noção de felicidade, nos direitos humos e pautado nos princípios de igualdade e dignidade humana.
Afinal, o mínimo existencial, de fato, tem dupla dimensão, a saber: um direito às condições mínimas de existência humana digna, não passível de ser objeto de intervenção do Estado seja pela via tributária e, ainda, exige que existam prestações positivas, o que serve para o incremento de políticas públicas de inclusão e mobilização social.
Do mínimo existencial nem os prisioneiros, os facínoras, os doentes mentais e indigentes podem ser privados. Aliás, como doutrinador, Ricardo Torres optou por reduzir o quantitativo dos direitos fundamentais sociais, em prol de maior qualidade e efetividade, inclusive no plano jurisdicional, o que se confrontou com a posição do constituinte brasileiro que procurou garantir a fundamentalidade formal e material dos direitos sociais de forma ampla.
Contemporaneamente, a reflexão dentro do Estado Democrático de Direito se assevera principalmente sobre o mínimo existencial, sob a teoria dos direitos humanos e do constitucionalismo, correspondendo a um dos objetivos da República brasileira a erradicação da probreza e da marginalização e, ainda, a redução de desigualdades sociais e regionais.
Ainda existe igual respaldo em declarações internacionais dos direitos humanos onde consta frequentemente a ressalva ao direito ao mínimo existencial, positivado no artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) in litteris:
“Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar sua saúde, o seu bem-estar e o de sua família, especialmente para a alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência médica e para os serviços sociais necessários, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.
Muitos anos mais tarde, adveio a Resolução 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1986 reconheceu in verbis:
“Que o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político-abrangente, que visa o constante incrementodo bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em participação ativa, livre e significativa no desenvolvimentoe na distribuição justa dos benefícios daí resultantes”.
Observa-se que o direito ao desenvolvimento humano passa a ter extraordinária relevância para o tema do mínimo existencial, assim se postula a manutenção de despesas orçamentárias obrigatórias e indispensáveis para real garantia da liberdade humana.
Em relação às semelhanças entre o mínimo existencial e a teoria dos direitos fundamentais[3], tal semelhança reside nas características comuns normativas, que reforça a preocupação com a maior concretização, eficácia e validade das suas teorias.
Ressalve-se que o mínimo existencial também possui dimensão negativa, pois impede que o Estado bem como outros indivíduos atuem contrariamente à obtenção ou manutenção de condições materiais indispensáveis para uma vida digna e uma dimensão positiva, abrangendo as prestações materiais vocacionadas à realização deste mínimo.
Tal aspecto negativo é mais presente no campo tributário, atravésde fixação de imunidades fiscais, pois o poder de imposição do Estado, não pode adentrar a esfera de liberdade mínima do cidadão representado pelo direito à subsistência.
É o caso de isenções de imposto de renda sobre certos contribuintes que ganham apenas o mínimo necessário para sua subsistência, bem como os portadores de doenças graves, incuráveis e terminais.
São conferidas imunidades tributárias nessas circunstâncias para que possam ser assegurados os direitos da liberdade e garantir que sejam efetivados princípios pré-constitucionais. Dessa forma, percebe-se que o princípio da capacidade contributiva, que manda tributar de acordo com a riqueza de cada qual, só fundamenta a ordem tributária no que excede à reserva da liberdade e ao mínimo necessário à existência digna.
Essas imunidades funcionam frequentemente como mecanismo de compensação das prestações positivas estatais. Com certeza, que as prestações positivas estatais seriam mais justas pela possibilidade de adequação às situações individuais dignas do apoio estatal, mas a sua opção por oferecer imunidade tributária, torna-se o dever constitucional do Estado menos complicada e juridicamente mais segura.
Entram em debate os fundamentos e objetivos do Estado Constitucional para haver a delimitação de conteúdo dos direitos fundamentais com ênfase aos direitos socioambientais e o papel da jurisdição constitucional na esfera da efetivação dos direitos fundamentais e do controle de atos dos demais órgãos estatais.
Destaque-se que recentemente a forte vinculação com o direito à vida com dignidade chamada de direito humano e fundamental, relaciona-se com o mínimo existencial que é correspondente ao núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais que tem servido de critério material para a solução com o suo de ponderação de direitos e/ou valores.
O crescente incremento de demandas judiciais que envolvem a imposição ao poder público, de prestações na esfera socioambiental ou a prestação de direitos fundamentais contra as intervenções restritivas por parte do Estado.
O mote sempre frequente do mínimo existencial é notado na instância do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal com ênfase especial na atuação do Ministro Gilmar Mendes que é considerado como um dos artífices do processo de reconstrução e aperfeiçoamento da nossa jurisdição constitucional que tem no STF a mais notável expressão, mas não, a única.
Curial é ressalvar que o Estado aponta a falta de legitimidade democrática do Judiciário para prover implementação de políticas públicas, com base no princípio da separação dos poderes e, ainda, na discricionariedade administrativa de conveniência e oportunidade,incompatíveis com a atuação de magistrados.
A concretização do mínimo existencial fora construída originalmente pela jurisprudência da Corte Constitucional da Alemanha, onde há a reserva do possível que impede que o indivíduo faça existência de direitos sociais superiores daquilo que racionalmente, pode-se esperar da sociedade, pois extrapolaria ao limite do razoável, sendo pois, inexigível que imputa tal Ônus. Assim, não cabe ao cidadão exigir do Estado o fornecimento de prestações supérfluas.
Igualmente de origem germânica, o conceito de reserva do possível está ligado às prestações indispensáveis e que inegavelmente superam ao conceito de mínimo existencial. Porém, nos países subdesenvolvidos ou mesmo os em desenvolvimento, a situação é diferente pois o Estado não poderá alegar a reserva do possível[4] de modo indiscriminado, para dar legitimidade a sua omissão na efetivação de direitos fundamentais prestacionais. Foi nesse sentido que se deu a decisão da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.389.952-MT (2014), cujo relator foi Ministro Herman Benjamin, in litteris:
“É por isso que o princípio da reserva do possível não pode ser oposto a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial. Desse modo, somente depois de atingido esse mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em quais outros projetos se devem investir.
Ou seja, não se nega que haja ausência de recursos suficientes para atender a todas as atribuições que a Constituição e a Lei impuseramao Estado. Todavia, se não sepode cumprir tudo, deve-se, ao menos, garantir aos cidadãos um mínimo de direitos que são essenciais a uma vida digna, entre os quais, sem a menor dúvida, podemos incluir um padrão mínimo de dignidade às pessoas encarceradas em estabelecimentos prisionais.
Por esse motivo, não havendo comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político. REsp 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/6/2014 (Informativo 543)”.
Já com base na inequívoca supremacia da dignidade humana, vem a jurisprudência do STF reconhecer, pacificamente, a legitimidade constitucional da intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, afastando qualquer obstáculo pertinente à reservado possível ou separação de poderes.
E, nesse sentido, cita-se o julgado abaixo em sede de repercussão geral:
“Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I – É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
II – Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V – Recurso conhecido e provido.
(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015)”.
Conclui-se que o Poder Judiciário ao atuar de forma afirmativa e efetivar a aplicação do preceito constitucional tem contribuído para a concretização dos direitos sociais básicos que integram o mínimo existencial para uma existência digna.
A noção da reserva do possível impactou a efetividade de direitos sociais e as prestações materiais que estariam submetidas às capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações financiados pelos cofres públicos.
Tal princípio passou a ser aplicado em diversos países com o fito de limitar as exigências em benefício de direitos fundamentais, considerando as condições financeiras de cada Estado, bem como sua possível adequação e necessidade do pedido, sob o critério proporcional.
Aliás, nesse sentido, a jurisprudência germânica e acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, enxerga no princípio da proporcionalidade que, por sua vez, subdivide em subprincípios da adequação, da necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito, trata-se de parâmetro de controle das restrições impostas pelo Estado em face dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Enfim, a expressão fatídica “reserva do possível” passou a identificar o fenômeno econômico de limitação dos recursos disponíveis diante de necessidades quase sempre infinitas a serem por estes supridas. Há, em verdade, duas dimensões de reserva do possível, a fática e a jurídica.
Sendo que a primeira se refere à possibilidade financeira, enquanto que a segunda atina à legalidade orçamentária bem como a competência dos Entes para efetivação do direito. Entre tais duas vertentes da reserva do possível deve o administrador pública buscar tornar sua ação a mais eficiente que possível. Observando os limites materiais e, ainda, as imposições jurídicas.
Portanto, deverá ponderar entre as diversas alternativas possíveis, escolhendo aquela que promova o melhor custo-benefício. Entre o bônus e o ônus, não estão apenas os recursos financeiros em si, mas propriamente, toda sorte de interesses coletivos e individuais afetados diretamente pela gestão administrativa.
Em tempos de pandemia do Covid-19[5] é importante sublinhar que as teorias tanto do mínimo existencial como a da reserva do possível não podem sobrepujar o direito fundamental à saúde e à vida. E, mesmo ante a inexistência de direto comando constitucional ou mesmo infraconstitucional que condicione o direito à saúde a patente hipossuficiência financeira do cidadão[6], não há como negar-se ao mínimo necessário para uma sobrevivência digna, principalmente, a gravidade da virose provocada pelo coronavírus.
Ainda que enxerguemos o mínimo existencial como parcela mínima a ser garantida a pessoa a fim de que não lhe seja subtraída sua condição de humanidade. Verifica-se, igualmente, que a sua ausência reduz a vontade do homem, e destrói-lhe a autonomia, confisca-lhe os desejos, deixando-o abandonado às contingências do acaso.
Evidentemente que a tese do mínimo existencial desenvolvida particularmente no período do pós-guerra, em face de inexistente previsão legal de direitos fundamentais sociais na lei alemão. O primeiro doutrinador em sua defesa foi Otto Bachof ainda nos idos de 1950 e que considerava que o mínimo existencial era mesmo um desdobramento do princípio da preservação da dignidade da pessoa humana.
De sorte que o direito à vida e à integridade corporal não poderia ser restritivamente interpretados, mas exigiam, uma ação proativa do Estado. Assim todos os textos constitucionais do século XX liderados pela Constituição de Weimar passaram a abarcar nova categoria de direitos fundamentais; os econômicos e sociais. Assim, o Estado teve que assumir nova postura, a de garantidor de condições necessárias para o desenvolvimento da personalidade humana.
Também há outro fundamento de proteção ao mínimo existencial, embasado intimamente na relação entre a não-tributação do mínimo existencial e as prestações assistenciais. Havendo grossa incongruência de se tributar o mínimo, para depois se devolver em forma de prestações periódicas, a fim de garantir uma vida digna ao povo, gerando gastos administrativos desnecessários.
Assim, o Estado não pode, enquanto Estado tributário, subtrair aquilo, que o Estado Social deve devolver. Portanto, quando o Estado se compromete constitucionalmente em garantir o mínimo existencial por meio de prestações, implementando programas que para tanto, é o caso do direito social à moradia, proporcionar residência àqueles que não a possuem, não caberá ao mesmo Estado, através de tributação, retirar aquilo a que se comprometeu a dar.
Lembremos que o mínimo existencial não se restringe a pessoa humana considerada isoladamente, mas igualmente se estende à sua família. Especialmente aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, seja porque são carentes de recursos necessários para vida digna, seja as que estão fora da linha de pobreza, porém, com elevadíssimo risco de adentrar nesta, assim merecem especial proteção do Estado.
Aliás, a expressão “vulnerabilidade”[7] pode ser tomada em diversas acepções desde a econômica como a étnica (índios, quilombolas, etc.) ou de grupos religiosos minoritários. Portanto, a tributação sobre o mínimo existencial é um paradoxo imoral pois retira do cidadão a própria dignidade e do Estado, o seu princípio social.
Vulnerável é algo ou alguém que esteja suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. Vulnerável significa uma pessoa frágil e incapaz de algum ato.
O termo é geralmente atribuído a mulheres, crianças e idosos, que possuem maior fragilidade perante outros grupos da sociedade. É a Lei 13.146/2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão, dirigida aos deficientes, que trata especificamente da matéria.
Em seu artigo 2º, considera com deficiência a pessoa[8] “que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
Há diversas facetas da vulnerabilidade em nosso sistema jurídico, a saber: o Código Civil considera incapazes os menores de 16 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxico e “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (artigo 4º).
O artigo 217-A do Código Penal pune com 8 a 15 anos de reclusão o estupro de vulnerável, nele incluindo os menores de 14 anos “que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.
O Código do Consumidor, ao conferir tratamento privilegiado a quem consome, por exemplo, permitindo que proponha a ação no seu domicílio (artigo 101, I), está tratando-o como vulnerável. Não no sentido de incapacidade física ou psíquica, mas sim, na condição de parte menos capacitada a participar das relações de consumo, seja porque não pode discutir o contrato, seja porque não tem acesso à elaboração do produto ou para discutir a prestação do serviço.
A Lei 10.741/2013 concede benefícios aos idosos, considerando-os, portanto, mais vulneráveis. Assim, entre outras prioridades, a lei assegura-lhes o direito a prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda (artigo 3º, § 1º, inciso IX).
Os refugiados,igualmente, se acham em situação de vulnerabilidade e têm direitos reconhecidos na Lei 13.445/2017. Aindasem regramento estão as vítimas de acidentes decorrentes de fenômenos ligados à mudança do clima, algo que tende a aumentar. Isto gerará o aparecimento de inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é um problema restrito à defesa civil, vai muito além, e exige organização prévia.
O ideal de justiça tributária deve seguir a máxima latina: primumvivere, deinde tributum solvere,que significa literalmente, precisamente que o direito ao mínimo vital representa uma exigência que se antepõe ao interesse do Estado na consecução de arrecadação, por isso, nem todo cidadão será conclamado a contribuir.
No entardecer do século XIX, Rui Barbosa já destacava em seu relatório, a necessidade de se respeitar o mínimo existencial ao consignar in litteris: “[…] considero absoluta a necessidade de não submeter à acção do imposto directo o mínimo necessário à existência (Existenzminmun) nas classes mais desfavorecidas”.
Desde 1958 é reconhecida a isenção do IR para determinados rendimentos considerados necessários à subsistência da pessoa, essa faixa de valores é denominada “zona zero” (Nullzone).
O BVerfGE, 25/09/1992 – 2 BvL 5/91 levou em consideração as necessidades de habitação, custos de aquecimento e os benefícios médios concedidos pela assistência social para, com base nesses dados, reconhecer que o mínimo isento da legislação do IR não protegia de forma adequada o mínimo existencial.
Portanto, o princípio da reserva do possível não se destina a negar efetividade ao texto constitucional vigente, tampouco aos direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde nesta enunciados. E, não se presta a não prestação de um direito fundamental, promovendo óbitos por omissão de socorro ou de má prestação de serviço em face da tremenda precariedade da saúde pública brasileira.
Curial recordar que o Judiciário poderá efetivamente ser invocado para o caso concreto onde ocorra o descumprimento de direitos fundamentais por parte do Estado, bem como, para analisar a relevância do pedido, observando constantemente o cumprimento do mínimo essencial.
Dentro do âmbito contratual, é a partir das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, que o STJ dividiu os ônus: nem manteve o valor do contrato na variação tradicional (pretensão de devedores), nem permitiu a cobrança segundo o preço exato do dólar (pretensão de credores), mas decidiu por equidade e proporcionalidade, chegando a um valor intermediário para as dívidas. Ou seja, estabeleceu um princípio da divisão dos prejuízos inesperados pela metade entre credores e devedores.
É o princípio que se entende obviamente como obrigatório de ser seguido em casos de crise (correspondeàratio decidendi, enquanto fundamento determinante, que vincula decisões futuras em termos de teoria de vinculação a precedentes, positivada no nosso Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, §1º, VI).
Por todas, veja-se as seguintes decisões: “Como já decidido por esta Primeira Turma do STJ no RMS 15.154/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 19/11/2002, ‘O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes’”. (STJ, REsp n.º 1.433.434/DF, 01ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kiuna, DJe de 21.03.2019).
É crasso que o direito à saúde[9] está umbilicalmente vinculado com o exercício de outros direitos que constam na Carta Internacional dos Direitos Humanos, e deste depende, particularmente, os direitos à alimentação, habitação, ao trabalho, educação, à vida, à não discriminação, à igualdade, à vedação da tortura, à privacidade, ao acesso à informação e à liberdade de associação, reunião e de ir e vir. Mas, como sabemos, nenhum dos direitos fundamentais são absolutos[10], podendo ocasionalmente e excepcionalmente sofrer restrições em prol de outros valores maiores.
De acordo com as Orientações para Organização das Ações no Manejo do Novo Coronavírus (Covid-19)[11] na Atenção Primária à Saúde, elaborada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o ideal é que os assintomáticos e os sintomáticos leves fiquem em casa, uma vez que o isolamento domiciliar é a principal medida de proteção”. Assim, o controle da doença depende da permanência das pessoas e famílias em suas respectivas casas.
Porém,existem pelo menos, dois grupos populacionais que não podem adequadamente tomar tal medida, que é a população em situação de rua e os moradores de habitações precárias e inaptas ao isolamento domiciliar, é o caso de casas superlotadas[12] e sem acesso à infraestrutura de fornecimento de água e coleta de esgoto. Portanto, é vital que os respectivos governos tomem medidas urgentes para ajudar as pessoas sem moradia adequada.
E as autoridades deve tomar especial cuidado para impedira que outras pessoas venham se tornar desabrigadas, como é o caso, de despejos, quando há perda de renda se torna irremediável, impossibilitando o pagamento de alugueres, hipotecas e demais taxas. Assim, boas práticas são recomendáveis tais como moratórias emdespejos[13], adiamentos de pagamento de hipotecas e, etc.
A intervenção do Poder Judiciário nos contratos[14], à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica” (STJ, REsp 1.321.614/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03.03.2016).
No Estado do Rio de Janeiro, outrora capital do país, o direito humano à água não é assegurado a todos, pelo menos água potável que seja acessível ao uso pessoal e doméstico, tendo em vista as recentes descobertas da CEDAE quanto ao conteúdo impróprio da água[15].
Lembremos que a falta da água potável necessária pode provocar desidratação e até morte, além de elevar o risco de doenças relacionadas à água bem como comprometer a higiene pessoal e doméstica que em face da pandemia, potencializa os riscos à saúde e à vida de seus cidadãos.
Portanto, é perfeitamente possível identificar para em respeito ao mínimo existencial o direito ao acolhimento emergencial de populações vulneráveis, em contextos atípicos, como o de pandemias e crises humanitárias, constituindo uma obrigação mínima do Estado, decorrente do direito humano à moradia, relacionado ainda com outros direitos básicos tais como à vida, saúde e alimentação que devem ser imediatamente implementados, sob pena de configurar gravíssima violação de direitos humanos.
Conforme já explicita Sarlet, “o STF tem consolidado o entendimento de que nesta seara incumbe ao Estado, em primeira linha, o dever de assegurar as prestações indispensáveis ao mínimo existencial, de tal sorte que em favor do cidadão há que reconhecer um direito subjetivo, portanto, judicialmente exigível, à satisfação de necessidades vinculadas ao mínimo existencial e, portanto, à dignidade da pessoa humana”.
E, nesse sentido, conforme o grande doutrinador constitucionalista expõe, assume especial relevância o direito à vida: “O direito à vida (e, no que se verifica a conexão, também o direito à saúde) constituindo, além disso, pré-condição da própria dignidade da pessoa humana”.
Para além da vinculação com do direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado em lato sensu) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do que ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível.
Referências:
Alemanha. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (1949) Tradutor: Assis Mendonça, Aachen. Revisor Jurídico: Urbano Carvelli; Bonn: Editora Impressa. Última atualização: 28 de março de 2019.Disponível em: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf Acesso em 14.6.2020.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Os pensadores. Tradução de Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 2002.
MORAIS, Ezequiel. Os deveres de consideração e a pandemia. Disponível em: https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/blog/os-deveres-de-consideracao-e-a-pandemia.html Acesso em 14.06.2020.
OLIVEIRA, Antônio Ítalo Ribeiro. O mínimo existencial e a concretização do princípio e a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/50902/o-minimo-existencial-e-a-concretizacao-do-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana Acesso em 14.6.2020.
Nota Técnica NE-HABURB. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/defensoria-sp-sugere-medidas.pdf Acesso em 14.6.2020.
SALSENTER, Thamis (Coordenação) Direito à saúde entre a liberdade e a solidariedade: os desafios jurídicos do combate ao novo coronavírus – Covid-19 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-vulnerabilidade/321211/direito-a-saude-entre-a-liberdade-e-a-solidariedade-os-desafios-juridicos-do-combate-ao-novo-coronavirus-covid-19 Acesso em 14.06.2020.
SARLET, Ingo; FIGUEIREDO, M.F. Reserva do Possível, Mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações.Revista de Doutrina da 4ª Região. Porto Alegre (RS), 24.07.2008. Disponível em: http://www.revistadoutrina.tref4.jus.br/index.htm? Acesso 14.6.2020.
TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
[1] Robert Alexy (Oldenburg, Alemanha, 9 de setembro de 1945) é um dos mais influentes filósofos do Direito alemão contemporâneo. Graduou-se em direito e filosofia pela Universidade de Göttingen, tendo recebido o título de PhD em 1976, com a dissertação Uma Teoria da Argumentação Jurídica, e a habilitação em 1984, com a Teoria dos Direitos Fundamentais – dois clássicos da Filosofia e Teoria do Direito. A definição de direito de Alexy parece com uma mistura do normativismo de Hans Kelsen (o qual foi uma versão influente do positivismo jurídico) e o jusnaturalismo de Gustav Radbruch, mas a teoria da argumentação o colocou bem próximo do interpretativismo jurídico. É professor da Universidade de Kiel e em 2002 foi indicado para a Academy of Sciences and Humanitiesat the University of Göttingen. Em 2010 recebeu a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha.
[2] O direito à informação é fortemente lesionado quando o usuário não tem conhecimento sobre a manipulação e o destino de seus dados sensíveis – ideia esta consubstanciada no princípio da finalidade, que implica prévio conhecimento do titular de dados sobre os “propósitos legítimos, específicos, explícitos” do tratamento de seus dados (art. 6º, inciso I, LGPD). Além do desrespeito à privacidade e à informação, a epidemia do novo coronavírus também pode ser cenário de grandes restrições à autonomia extrapatrimonial ou existencial não só dos pacientes diagnosticados e daqueles com suspeita, mas da população em geral. É preciso ter em mente, todavia, que muitas dessas restrições devem ser toleradas diante da necessidade de proteção de interesses socialmente relevantes, como é o caso da saúde da coletividade.
[3]O direito internacional dos direitos humanos, em particular o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), exige que as restrições aos direitos por razões de saúde pública ou emergência nacional sejam legais, necessárias e proporcionais. Restrições como quarentena ou confinamento compulsórios de pessoas sintomáticas devem, no mínimo, serem conduzidas de acordo com a lei. Elas devem ser estritamente necessárias para alcançar um objetivo legítimo, baseadas em evidências científicas, proporcionais para o alcance desse objetivo, nem arbitrárias, nem discriminatórias em sua aplicação, ter duração limitada, e devem respeitar a dignidade humana e estarem sujeitas à revisão.
[4]Surgiu o princípio da reserva do possível na Alemanha, em 1972, resultado de ação impetrada por discentes que pleiteavam direito de ingresso na Universidade Pública, no curso de medicina. E, a alegação articulada foi com base na Lei Fundamental Alemã, em seu artigo 12, I, onde estabelece que: “todos os alemães têm o direito de livremente escolher profissão, local de trabalho e de formação profissional. E, justificando tal direito, os requerentes realizaram interpretação sistemática da norma, uma vez que sendo limitado o ingresso universitário, uma norma de direito fundamental, liberdade para escolha da profissão e da formação profissional regulada no artigo 12, I, estaria sendo violada. Em resposta, o Tribunal Constitucional Federal utilizou no julgamento a indagação, de que, tais direitos seriam efetivados dentro da reserva do possível, isto é, dentro das vagas disponibilizadas que são equivalentes à capacidade financeira do Estado em arcar com custos decorrentes desse exercício, surgindo a partir daí, a decisão que passou a ser conhecida como numerus clausus.
[5]A escassez de máscaras e produtos de proteção para manejo de pacientes nesse contexto de crise sanitária é causa de grande preocupação para as autoridades no Brasil. Diante dessa situação, o governo brasileiro adotou medidas para restringir as exportações desses produtos para empresas que participaram de licitação, mas desistiram de contribuir com o abastecimento interno, optando pela exportação do material. Além da limitação a exportações, o Ministério da Saúde indicou que não estão descartadas outras intervenções no setor, incluindo a possibilidade de apreensão do material diretamente nas fábricas que descumprirem a determinação de fornecimento para o mercado nacional. A Lei 13.979 traz mecanismos para coibir essa prática que torna mais vulneráveis pacientes e profissionais de saúde. Com o intuito de resguardar esses segmentos diante da severa ameaça de desabastecimento de produtos que têm como finalidade o tratamento e o combate ao COVID-19, o art. 3, VII, prescreve a “requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa” como medida de enfrentamento da crise de saúde.
[6]Os governos devem garantir que os profissionais de saúde tenham acesso a equipamentos de proteção adequados e que existam programas de proteção social para as famílias de profissionais que falecem ou adoecem como resultado de seu trabalho e garantir que esses programas incluam trabalhadores informais, que representam uma grande parcela do setor de prestação de serviços de apoio e cuidados.
[7] O legislador pátrio atribuiu, ab initio, a condição de vulnerável ao menor de quatorze anos ou a quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. No entanto, já no artigo 218-B CP depara-se, novamente, com a adjetivação de vulnerável para outra faixa etária, qual seja, menor de dezoito anos, aparentemente, sem qualquer justificativa razoável. Com efeito, são situações completamente diferentes a condição de menor de quatorze anos, comparada à condição do menor de dezoito. Inegavelmente, o legislador ampliou o conceito de vulnerabilidade — que define satisfatoriamente a condição do menor de quatorze anos — para alcançar, incompreensivelmente, o menor de dezoito (art. 218-B CP). Na realidade, o legislador utiliza o conceito de vulnerabilidade para diversos enfoques, em condições distintas, sem qualquer justificativa razoável. Esses aspectos autorizam-nos a concluir que há concepções distintas de vulnerabilidade. Na ótica do legislador, devem existir duas espécies ou modalidades de vulnerabilidade, ou seja, uma vulnerabilidade absoluta e outra relativa; aquela se refere ao menor de quatorze anos, configuradora da hipótese de estupro de vulnerável (art. 217-A CP); Para contemplar a equiparação de vulnerabilidade, nas respectivas menoridades (quatorze e dezoito anos), qual seja, “ou a quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”. Nos dois dispositivos, o legislador cria hipóteses de interpretação analógica (ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência) que, no entanto, deve obedecer aos atributos dos respectivos paradigmas.
[8]A Lei 8.899/2004 concedeu passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. O objetivo, certamente, foi proteger estes vulneráveis, facilitando seu deslocamento a locais de tratamento ou de moradia de seus familiares.
[9]O direito à saúde exige que os equipamentos, bens e serviços de saúde sejam:disponíveis em quantidade suficiente,acessíveis a todos, sem discriminação, inclusive para os grupos marginalizados,aceitáveis, no sentido que devem respeitar a ética médica e serem adequados do ponto de vista cultural, ecientífica e medicamente apropriados e de boa qualidade.
[10] A quarentena foi imposta ao primeiro paciente diagnosticado com o coronavírus em território brasileiro e o isolamento foi aplicado aos brasileiros que regressaram da China no início da epidemia – fato que, aliás, motivou a elaboração de legislação específica para regulamentar as demandas jurídicas oriundas do COVID-19. O tratamento médico compulsório também já ganhou destaque no noticiário nacional com a imposição de internação hospitalar para dois franceses vindos da Espanha, que apresentaram sintomas de gripe assim que chegaram a Paraty, no Rio de Janeiro. O casal foi colocado em imediato isolamento para a realização de exames. Diante da resistência do casal em permanecer no ambiente hospitalar, o caso foi levado ao Poder Judiciário pela prefeitura de Paraty, que obteve decisão favorável à continuidade da internação compulsória até os resultados dos exames descartarem a contaminação pelo COVID-19.
Há circunstâncias que podem relativizar os limites e os espaços de liberdade pessoal. A autonomia privada decorre diretamente do imperativo constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos da República, em seu art. 1, III. Como todo e qualquer direito no ordenamento pátrio, seu exercício não pode ser ilimitado ou absoluto.
[11]COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus primeiramente identificado em dezembro de 2019. Os vírus “corona” compõem uma família de vírus conhecidos por causarem infecções respiratórias. Não há, ainda, qualquer vacina que previna COVID-19 e nenhum tratamento específico em relação a esse vírus além da gestão dos seus sintomas.
[12]No Rio de Janeiro, 22% da população mora em favelas. Isso significa quase 2 milhões de pessoas vivendo nesses territórios populares. Favelas como o Morro do Alemão, Rocinha, Maré e Jacarezinho, possuem alta densidade demográfica, são maiores do que cidades de médio porte no Brasil. O que todas essas favelas têm em comum é que, em grande parte delas, as casas foram construídas por seus moradores. Há também conjuntos habitacionais – caso da Maré – construídos pelo Estado. Mas mesmo nesses casos o que se encontra é uma concentração de um bom número de pessoas vivendo sob o mesmo teto.
[13] Nesse viés, andou mal o veto presidencial apresentado à Lei 14.010/2020 que suspenderia os despejos e desocupações habitacionais por falta de pagamento.
[14] Os deveres de cooperação e de colaboração recíproca (considerados deveres gênero – os demais são espécies) consistem na prática dos atos necessários à completa realização dos fins almejados pelas partes no contrato, conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão, sem omissões e proibidos os excessos [Übermaßverbot]. Esse sentido de cooperação e colaboração deve, pois, com suporte no princípio constitucional da solidariedade (art. 3º, I, da CRFB/1988), orientar os contratantes [ou candidatos a contratantes] diante dos eventos imprevistos ou previstos, de consequências imprevisíveis ou previsíveis, que venham dificultar o cumprimento das obrigações pactuadas, permitindo trazer ao contrato as adaptações necessárias e exigidas pelo novo contexto, para conservar, assim, a relação negocial, embora com nova dinâmica. Os italianos utilizam o mesmo mecanismo, baseados também no princípiocostituzionale di solidarietà sociale (art. 2º, da CRI)”.
“Exige-se das partes um comportamento cooperativo, colaborativo, leal e solidário, permeado pela probidade e balizado pela plena informação e transparência. Além da observância ao solidarismo, os deveres anexos de cooperação e colaboração mútua (Pflicht zur Zusammenarbeit der Parteien) têm por fim conservar os contratos (princípio da manutenção dos pactos), visando a execução mais equânime, eficiente e justa possível para as partes, em especial nos contratos existenciais e relacionais, naqueles em que as relações jurídicas são complexas, de longa duração (contratto di durata), tais como os contratos de fina
[15] Há uma evidente degradação ambiental nos mananciais que são utilizados para abastecimento público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa degradação compromete a qualidade da água, dificulta seu tratamento e pode colocar em risco a saúde pública. A companhia de saneamento é responsável pelo controle da qualidade da água tratada, respeitando as resoluções legais. A vigilância da qualidade da água é de responsabilidade do setor da Saúde (Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde), que deve garantir a segurança e qualidade da água a ser distribuída para a população. A falta de informações claras e precisas também configura um cenário de insegurança. É necessário que haja transparência imediata da real situação da qualidade da água distribuída para consumo pela população do Rio de Janeiro e que os setores responsáveis pelo controle e vigilância da qualidade atuem de forma coordenada, cooperativa e rápida para garantir água segura e de qualidade, conforme determina a legislação.