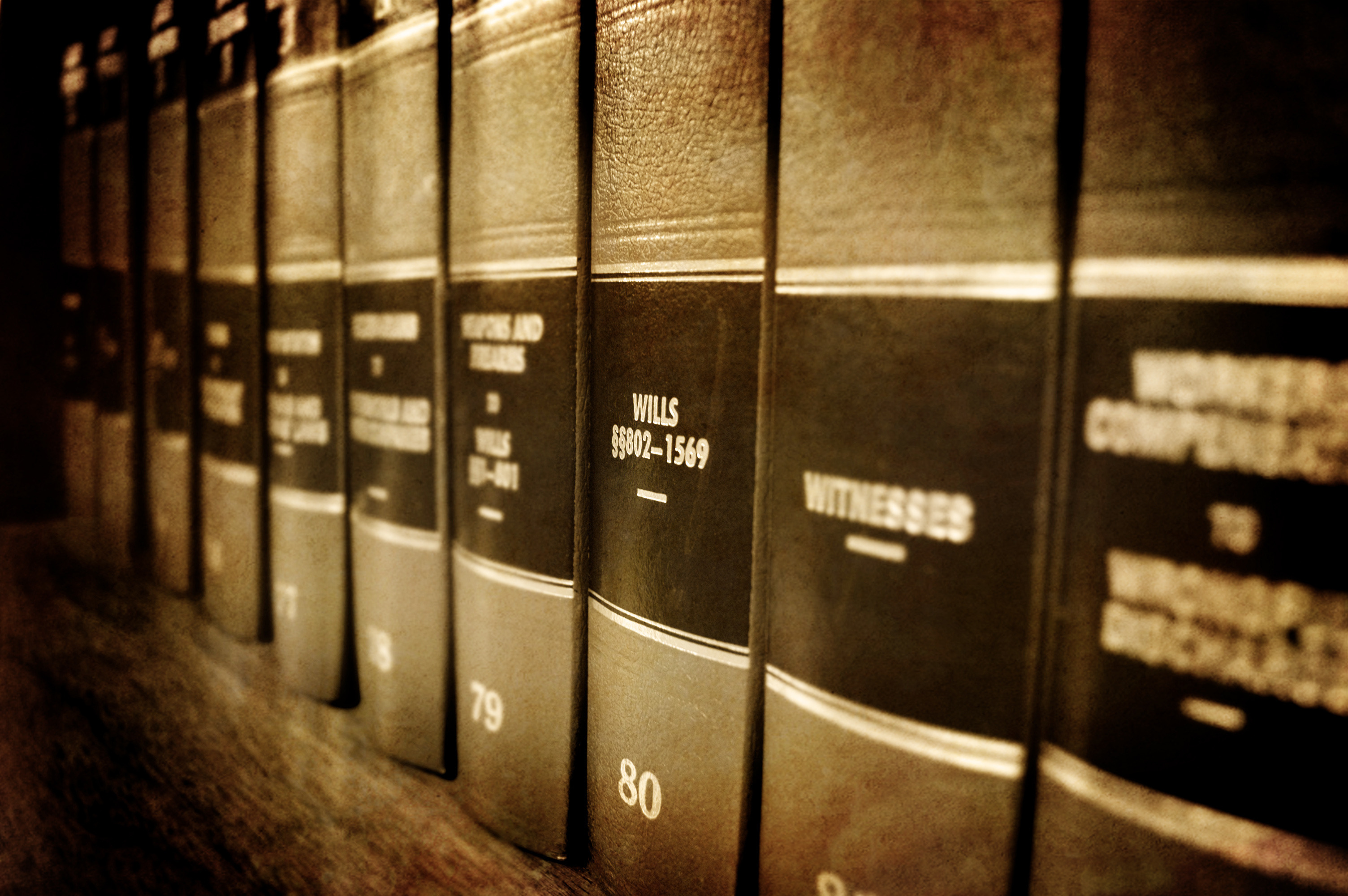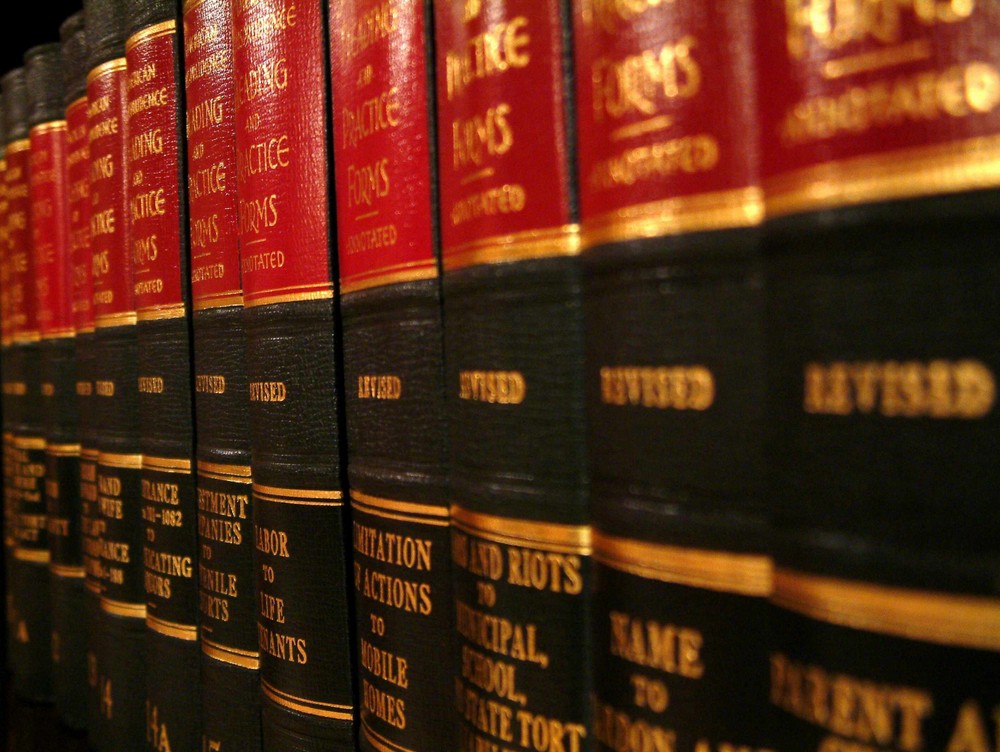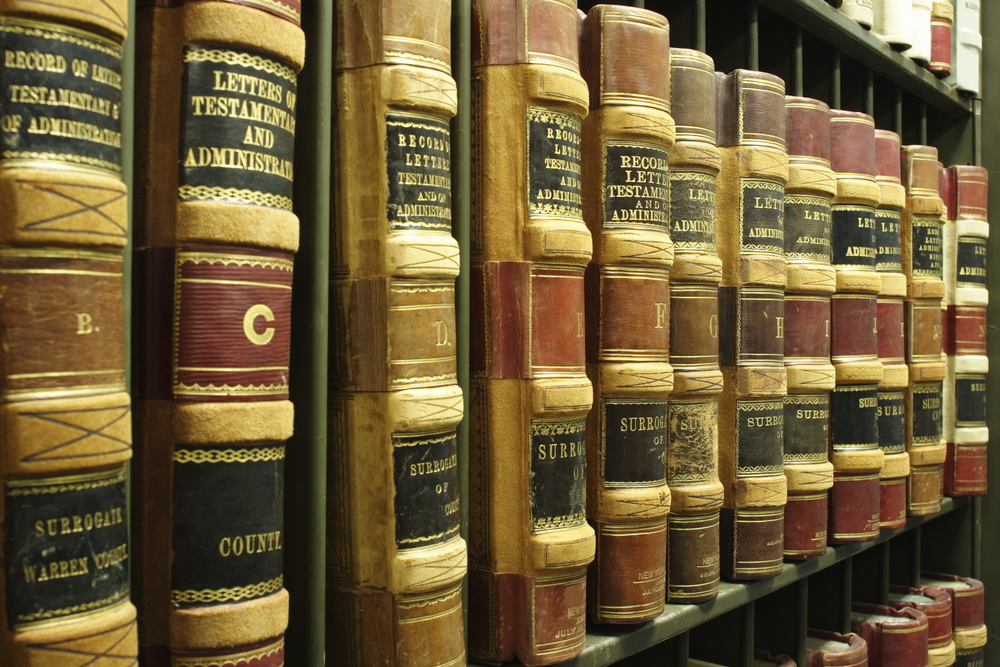- Gisele Leite e Ramiro Luiz Pereira da Cruz
Enfim, em 07 de julho de 2020 a Medida Provisória 936/2020[1] (Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda) fora convertida na Lei 14.020 e positivou sobre os acordos de suspensão temporária do contrato de trabalho[2].
Primeiramente, observa-se que a suspensão do contrato laboral poderá ser aplicada em parcela dos empregados. E, ainda, durante o Estado de Calamidade Pública[3]em face da pandemia de Covid-19[4], o empregador poderá acordar por uma suspensão temporária do contrato laboral[5] de seus empregados, ou ainda de forma setorial,em alguns departamentos, consubstanciando parcial ou total dos postos de trabalho.
A duração máxima dos acordos de suspensão de contrato laboral será de sessenta dias, fracionável em dois períodos de trinta dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo.
Uma vez respeitado o limite temporal do estado de calamidade (que é de cento e oitenta dias ou até 31 de dezembro de 2020) reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, o Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporário do contrato laboral, na forma do regulamento. Mas, até o momento não ocorreu publicação no Diário Oficial da União de Ato do Poder Executivo prorrogando o prazo de duração desses acordos.
Em tempo, a suspensão temporária do contrato laboral será pactuada de acordo com os artigos 11 e 12 daLei 14.020/2020, seja por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, ou mesmo, por acordo individual por escrito entre empregador e empregado, devendo, a proposta de acordo, ser encaminhada ao empregado com a mínima antecedência de dois dias corridos.
Durante a suspensão temporária do contrato laboral, o empregado permanece a fazer jus a todos os benefíciosconcedidos pelo empregador aos seus empregados[6] e, ficará autorizado a contribuir para o Regime Geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo[7], na forma prevista pelo artigo 20 da Lei 14.020/2020.
O restabelecimento do contrato laboral ocorrerá no prazo de dois dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade pública; da data fixada com termo de encerramento do período de suspensão pactuado, ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.
Se durante a suspensão temporária do contrato laboral, o empregado mantiver as atividades laborais, ainda que parcialmente, seja por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, restará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e, o empregador estará sujeito a: ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo o período; às penalidades previstas na legislação em vigor; e às sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
A empresa empregadora que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, a receita bruta superior a R$ 4.800 000,00(quatro milhões e oitocentos mil reais)[8]somente poderá suspender o contrato laboral de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal correspondente ao valor de trinta por cento[9]do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado.
Diante de toda técnica apresentada, surgem vários questionamentos. Infelizmente ainda irrespondidos.
Tendo,as empresas interrompido suas atividades em função tanto da pandemia quanto das determinações estatais e, consequentemente, deixaram de funcionar a máquina empresarial que, por sua vez, não gerou lucro, ao contrário, prejuízo óbvio, seriam capazes, essas empresas, de retomar suas atividades de acordo com o determinado pela lei?
Hipoteticamente, se algum funcionário tiver sucumbido ao Covid-19, o que há de se considerar: a suspensão do contrato de trabalho como desvinculação da empresa ou como afastamento temporário mantendo-se o vínculo com a empresa?
Na realidade, enxergo com boa vontade, força e esperança para a continuidade do negócio para todos os envolvidos: empregador, empregado, fornecedores de produtos e serviços, até para os bancos onde essas empresas movimentam seu capital, todos como fonte de tanto.
Espera-se que, com muito cuidado e prudência, a retomada das atividades seja realizada de forma coerente para que não acarrete dano maior do que a pandemia causou.
[1]Sem dúvida, a medida provisória representa o instrumento preferido do Presidente da República para governar. Basta uma simples assinatura e a MP passa a vigorar no mundo jurídico, regulando relações, gerando obrigações, estabelecimentos procedimentos e, direitos, nos mais diversos assuntos. Os destinos da MP podem ser os seguintes, a saber: 1. Aprovação sem alteração; quando oPresidente do Congresso Nacional promulga a lei de conversão. Não precisando retornar para o Chefe do Poder Executivo para a promulgação, cabendo esta última autoridade somente o ato de publicar; 2. Aprovação com alteração. Lembrando que até a sanção ou veto, a MP mantém íntegros seus efeitos. E, essa previsão é alvo de severas críticas, pois, afinal, confere a MP eficácia mesmo depois de rejeição do Congresso Nacional. Mas, foi a opção do legislador fora em busca de evitar o vácuo normativo entre a alteração da MP e a respectiva sanção ou veto do projeto desta decorrente; Torna-se imprescindível que as emendas guardem pertinência temática. Assim, caso certa matéria não fora colocado pelo Executivo como de urgência e relevância, não caberá ao Congresso Nacional fazê-lo, do contrário se configura a violação do processo legislativo; Prevalece a crença lógica que MP não deverá ser totalmente alterada. De sorte que uma parte será inédita e outra não. E, a parte inédita só valerá a partir da lei de conversão, ao passo que a parte mantida valerá normalmente desde a edição da MP; Não apreciação ou rejeição tácita; Ocorre que após cento e vinte dias, sem a apreciação pelas duas casas componentes do Congresso nacional; e a consequência é a mesma que a rejeição expressa e o efeito é retroativo, desde a edição da MP; O Congresso Nacional possui sessenta dias para a edição do Decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas relativas ao período em que valia a MP, sob pena de essa última permanecer regulando tais relações. A referida retroatividade deve ser aplicada parcimoniosamente, pois a regra prevalente da MP é a precariedade. Não gerando direitos adquiridos; Rejeição expressa é uma das maiores peculiaridades segundo a melhor doutrina. E, mesmo com a rejeição a MP prossegue tendo efeito por sessenta dias, caso o Congresso Nacional, nesse mesmo período, não venha editar o Decreto Legislativo; Com a rejeição, a MP não poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa, que, no Congresso Nacional, é de 02 de fevereiro a 22 de dezembro. Refere-se ao princípio da irrepetibilidade. Nem mesmo a proposta de maioria absoluta da Casa Legislativa poderá excepcionar tal princípio… Porém, não alcança a edição de MP em período de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
[2]Além de se aplicar aos empregados regidos pela CLT, aos aprendizes e aos empregados sob o regime de jornada parcial, as normas previstas na MP 936/20 são compatíveis com os demais regimes especiais de contrato de trabalho.
[3]A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de surto pandêmico iniciado no ano de 2019. Tal lei estabelece medidas que visam à proteção da coletividade. Posteriormente, a pandemia do Covid-19 acarretou, por meio do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública no Brasil. Além de flexibilizar limites orçamentários e permitir a destinação excepcional de mais recursos à saúde sem cometimento de crime de responsabilidade fiscal, a medida também legitima a instauração de regimes jurídicos urgentes e provisórios, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa.
[4]Com a finalidade de reduzir o risco de contágio pela Covid-19, o CNJ editou a Resolução 313, de 19 de março de 2020, por meio da qual estabeleceu o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, com exceção do STF e da Justiça Eleitoral.
[5]A suspensão do contrato de trabalho só pode ser feita uma única vez. O parágrafo primeiro do artigo 8º da MP é taxativo e impõe o acordo escrito individual da suspensão do contrato de trabalho, caso contrário não terá nenhuma validade e se interpretará como inexistente a suspensão temporária do contrato de trabalho.
Claro é que o período anterior à suspensão temporária do contrato de trabalho não pode ser computado como tal, uma vez que o acordo individual firmado entre empregador e empregado só terá validade dois dias depois que foi firmado o acordo individual de suspensão temporária do contrato de trabalho.
[6]O vale-transporte possui regramento próprio (Lei nº 7.418/1985), e não poderia ser interpretado propriamente dito como benefício. Se o vale-transporte apenas serve para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, qual sua necessidade de quitação, visto que o contrato de trabalho está temporiamente suspenso?Outro benefício que poderia ser suspenso temporariamente pelo mesmo prazo da suspensão temporária do contrato de trabalho é o vale-refeição ou vale-alimentação concedido única e exclusivamente para alimentação do empregado durante a jornada de trabalho.
[7]É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social.
[8]Não foi inserido expressamente no texto legal a respeito das empresas com receita bruta inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Portanto, conclui-se que os empregados destas empresas apenas serão remunerados durante a suspensão temporária pelo Poder Público, sem nenhuma ajuda compensatória mensal a ser quitada pelo empregador.
[9]Há uma enorme lacuna dentro da base de cálculo estabelecida no referido parágrafo. Determina-se que a base de cálculo seja o valor de salário do empregado, mas não estabelece qual gênero de salário. Há empregados que o salário-base é ínfimo, mas a remuneração final é gigante, seja pelo labor extraordinário, seja pelo labor noturno, seja pelo labor com agentes insalubres ou perigosos,seja pelo pagamento variável de comissionamento ou percentual etc. A interpretação pode ser em diversas linhas de entendimento.
Autores: Gisele Leite e Ramiro Luiz Pereira da Cruz