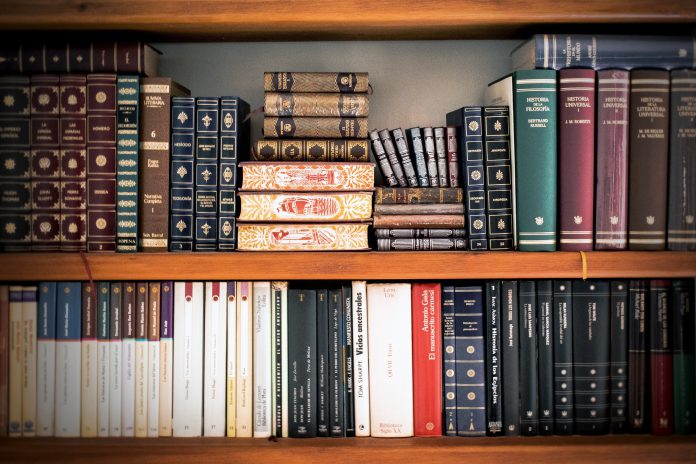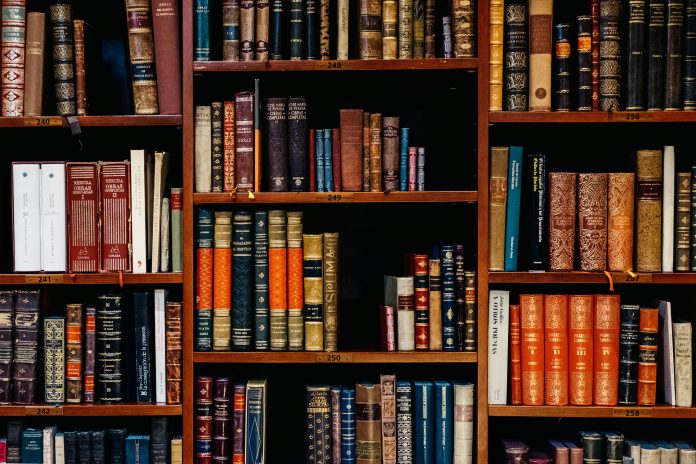Resumo: Os fundamentos do Direito Internacional contemporâneo são torneados pelos fatos que vivenciamos e, deve-se adotar a corrente humanista[1], principalmente, na defesa da paz mundial. A possível invasão russa sobre a Ucrânia faz soar os alertas em toda comunidade internacional.
Palavras-Chave: Fundamentos. Direito Internacional. Princípios de Direito Internacional. Direitos Humanos. Guerras. Cláusula de Martens.
Autores:
José Luiz Messias Sales. Professor Universitário . Mestre em Direito das Relações Internacionais e a Integração. Advogado. Especialista em Direito Empresarial, Direito Processual Civil. Assessor do Instituto Jamil Sales (IJL). Autor da obra “Segurança Jurídica dos Contratos Comerciais no Mercosul. As Relações entre Brasil e Uruguai” E-mail: messiassales@terra.com.br
Gisele Leite. Professora universitária há três décadas. Mestre em Direito. Mestre em Filosofia. Doutora em Direito. 29 Obras Jurídicas publicadas. Presidente da ABRADE-RJ. Consultora IPAE. Pesquisadora-Chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas (INPJ). E-mail: professoragiseleleite@gmail.com
Desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial as transformações trazidas para o Direito Internacional, provocaram questionamentos sobre o Direito Internacional, seus paradigmas e fundamentos. Afinal, as teorias tradicionais acerca de fundamentos do Direito Internacional não conseguiam explicar adequadamente o então Direito Internacional existente[2].
Um fato relevante foi a intensa busca de aspectos axiológicos e de legitimidade. E, combinando-se os aspetos do tema de fundamentos do Direito Internacional e sugere ainda que, combinando-se com as teorias existentes, os fundamentos do Direito Internacional contemporâneo poderiam ser descritos como sendo o consenso sobre a necessidade de segurança jurídica para a consecução de objetivos e proteção dos valores compartilhados pela sociedade internacional.
Tal definição atende à realidade internacional existente, preocupando-se, simultaneamente, com a criação de um cenário internacional ideal ou, pelo menos, idealizado.
A globalização, dentre muitos fatores, provocou nas relações internacionais contemporâneas muitas transformações significativas principalmente em razão dos atores envolvidos nas mesmas, quando em relação aos temas que as compõem. E, assim trouxeram questionamentos sobre os paradigmas do ramo do Direito que as pretende regular o Direito Internacional.
Afinal, a essência do Direito Internacional, reconhecido por seu papel como sistema de ordenação das relações entre os sujeitos de direito internacional e, demais agentes não-estatais no plano internacional e, ainda, o caráter vinculante de suas normas.
Trata-se de uma análise de um tema complexo e o contemporâneo cenário internacional ainda demanda um inter-relacionamento com o contexto onde atua o Direito Internacional.
No Direito Internacional de Coexistência até chegar ao Direito Internacional de Cooperação e Mudança de Fundamentos se deu um trajeto histórico evolucionista, pois o Direito Internacional surgiu em 1648 através dos tratados de Münster e Osnabruck que consagraram a Paz de Westphalia, e tal ramo jurídico se ocupava, principalmente, em estabelecer as normas de coexistências entre os Estados soberanos existentes.
A Paz de Westphalia[3] estabeleceu os princípios que tanto caracterizaram o Estado Moderno, destacando-se as normas da soberania, da igualdade jurídica entre os Estados, da territorialidade e, ipso facto, de não-intervenção. As referidas normas traziam, em sua maioria, as obrigações de não-fazer, de mútua abstenção, e se fundavam na vontade soberana dos Estados, os quais, por serem soberanos, eram tidos como irresponsáveis no cenário internacional.
A noção de soberania absoluta passou a ser questionada, o porquê de haver o respeito às normas de Direito Internacional, isto é, a questionar acerca dos fundamentos do Direito Internacional.
Verificava-se uma unidade ética, naquela época, os doutrinadores buscavam o equilíbrio entre os intrínsecos aspectos ao sistema (a soberania dos Estados) e extrínsecos (justiça e valores comuns). Foi assim que Hugo Grotius cogitou em uma sociedade internacional lastreada no Direito Internacional e fundada em regras de convivência baseadas em consenso.
Neste início do Direito Internacional se buscou a fundamentação que tanto valorizou o contexto internacional, principalmente, na figura do consenso, e simultaneamente, se preocupou com questões éticas, numa sociedade internacional fundada nos ideias de justiça e em valores compartilhados.
Em razão da unidade ética, o fundamento da legitimidade era buscado fora do sistema do Direito, dado que o que se verificava era a existência da unidade ética na vida humana, na qual todos os ramos (Direito, Religião e Economia) estavam ligados pelo mesmo fundamento e, ainda, pela busca da concretização dos mesmos valores.
A iminência de uma guerra entre Rússia e Ucrânia traz desdobramentos da crise e ainda o alerta da Casa Branca (EUA) sobre possível invasão. No momento, vários países começaram a emitir avisos para que seus cidadãos deixem imediatamente a Ucrânia[4] diante de iminente invasão russa. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que todos os cidadãos britânicos devem sair agora enquanto os meios comerciais ainda estão disponíveis.
Ucrânia e Rússia permanecem em negociação, porém, um consenso é bastante improvável. E, os desdobramentos podem comprometer não apenas a segurança de toda Europa, mas principalmente, o mercado global, atingindo mesmo países distantes como o nosso, em efeito dominó. Lembremos que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e, também, com outros integrantes do União Europeia. É país dividido desde o fim da URSS em 1991.
O russo é amplamente falado e os laços culturais permanecem fortes. Todavia, o conflito sempre existiu, desde 2014 quando o Presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, foi deposto, Moscou anexou a Crimeia e também apoiou as forças separatistas na região.
E, tais grupos rebeldes se disseminaram pelo leste da Ucrânia e, permanecem em constantes conflitos. Nesse mesmo momento, a Ucrânia tenta se aproximar amigavelmente de instituições europeias como a OTAN e, esse movimento contraria em muito o atual Presidente russo, Vladmir Putin, que deseja manter a região sob seu domínio.
Convém recordar que Moscou sofre sanções do Ocidente desde 2014 quando anexou a Crimeia e, as medidas se intensificaram após o envenenamento de espião russo no Reino Unido e ainda das acusações de interferência nas eleições norte-americanas de 2016, o que é negado veementemente pela Rússia.
O Itamaraty emitiu nota afirmando que não há recomendação de segurança contrária à permanência na Ucrânia para brasileiros. Porém a Embaixada do Brasil situada em Kiev reitera que os brasileiros devem estar e permanecer em alerto e sempre atualizados por meio de fontes locais e internacionais confiáveis.
O Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg afirmou que o bloco está unido e preparado para qualquer cenário, enquanto os EUA alertaram que a Rússia pode atacar a qualquer momento. A Rússia, por sua vez, repetidamente qualquer plano de invasão à Ucrânia, apesar de ter reunido mais de cem mil soldados perto da fronteira. Os soldados russos realizam exercícios militares perto da Criméia.
E, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken “Estamos na janela em que uma invasão pode começar a qualquer momento, e para ser claro, isso inclui acontecer durante as Olimpíadas de Inverno (que terminam em 20 de fevereiro de 2022)”, afirmou Blinken.
Moscou acaba de iniciar amplos exercícios militares com Belarus, e a Ucrânia acusou a Rússia de bloquear seu acesso ao mar. O Kremlin diz que quer impor “linhas vermelhas” para garantir que os ucranianos não se juntem à OTAN. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que as forças russas estão “em posição de poder montar uma grande ação militar a qualquer momento” e instou os cidadãos americanos na Ucrânia a “saírem o mais rápido possível”. Os comentários e o tom de urgência nas advertências são vistos como uma clara escalada no conflito.
As tensões atuais ocorrem oito anos depois que a Rússia anexou a península da Crimeia[5], no sul da Ucrânia. Desde então, os militares da Ucrânia estão presos em uma guerra com rebeldes apoiados pela Rússia em áreas do leste perto das fronteiras da Rússia.
Moscou diz que não pode aceitar que a Ucrânia – uma ex-república soviética com profundos laços sociais e culturais com a Rússia – possa um dia se juntar à aliança de defesa ocidental Otan e exigiu que isso seja descartado.
A Rússia vem apoiando uma sangrenta rebelião armada na região de Donbass, no leste da Ucrânia, desde 2014. Cerca de 14 (quatorze) mil pessoas – incluindo muitos civis – morreram em combates desde então.
Há a possibilidade de que um foco renovado nos acordos de Minsk – que buscavam acabar com o conflito no leste da Ucrânia – poderia ser usado como base para neutralizar a crise atual. Ucrânia, Rússia, França e Alemanha apoiaram os acordos nos anos de 2014 e 2015. Vários países começaram a emitir avisos para que seus cidadãos deixem a Ucrânia diante de uma iminente invasão russa.
Com a progressiva evolução do Direito Internacional somada às mudanças no cenário internacional, particularmente, após o advento do positivismo jurídico, deu-se uma minimização dos elementos extrínsecos da fundamentação e da busca de critérios de legitimidade interna ao próprio Direito.
E, em face da unidade ética, o fundamento da legitimidade era buscado fora do sistema do Direito, dado que o que se verificava era a existência da unidade ética na vida humana, na qual todos os ramos, como Direito, Religião e Economia estavam ligados pelo mesmo fundamento e pela necessidade de concretização dos mesmos valores.
A propósito, é recomendável a leitura da obra de Fábio Konder Comparato, intitulada Ética – Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo Companhia das Letras, 2006. E, a respeito da legitimidade internacional, igualmente é recomendável a leitura de Jubilut, L.L., A legitimidade da Não-Intervenção em face das Resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da USP, 2007.
Aliás, a busca do fundamento da legitimidade fora do sistema jurídica em si é relevante pois em toda a vida das civilizações a moral mais elevada, a transcendência de valores é o que impulsiona a justiça, conforme aduz Comparato em obra retrocitada.
Porém, com o positivismo jurídico tal fato se altera uma vez que se opera a redução ou simplificação da vida social, não já sob forma de estruturas superpostas, mas de compartimentos estanques: o direito, como sistema normativo, existe independentemente da moral, da realidade econômica ou das formas de organização política.
Em face do que se cria, com isso, rígida separação entre direito e moral. Contrariando secular tradição de todas as civilizações, os positivistas consideram que o direito existe sem a ligação com a justiça, e os juristas não têm que julgar a ordem jurídica de acordo com os grandes valores éticos, porque não é uma tarefa científica e, sim política.
Com a influência do positivismo, verifica-se que, no que tange a fundamentação do Direito Internacional a ideia da busca da mesma dentro do próprio sistema não se tornou pacífica; surgindo, assim a principal dicotomia teórica relativa ao tema dos fundamentos do Direito Internacional: a que opõe voluntaristas e jusnaturalistas na defesa de um Direito Internacional resultante da vontade dos Estados ou como um conjunto de princípios naturais, respectivamente.
Não obstante das teorias voluntaristas e jusnaturalistas serem usadas como forma de classificar o debate, em verdade, se observa que as mesmas não compõem blocos homogêneos e, apesar de serem as teorias mais tradicionais, não exaurem o tema. E, segundo Gerson Boson, as teorias jus naturalistas diferenciam direito natural e direito positivo e, aceitam a validade intrínseca, material, das normas jurídicas, desde que preceitos justos, estejam por trás de sua elaboração.
As teorias jusnaturalistas englobam as teológicas (com fundamento em Deus), as racionais (fulcradas na razão humana); as axiológicas (fundadas na justiça), a panteísta (balizada no determinismo), sociológica (fundamentando o Direito no fato de o mesmo ser essencial para a manutenção da sociedade) e biológica (com fundamento na natureza).
Essa derradeira, merece destaque por ter como expoente a tese do Estado de natureza de Hobbes, o que denota o reflexo do tema dos fundamentos para o campo da Ciência Política e das Relações Internacionais(sobretudo no embate entre idealismo e realismo).
Assim, as teorias voluntaristas se dividem em autolimitação e vontade comum, nas concepções de Jellinek e Triepel, respectivamente. E, enquanto a teoria da autolimitação entende que o Estado soberano, no exercício de sua soberania vem a escolher a se submeter ao Direito Internacional, isto é, que o direito internacional se funda na vontade metafísica do
Estado, que estabelece limitações ao seu poder absoluto, a teoria da vontade comum acredita que a vontade de um Estado não pode ser o fundamento do Direito Internacional, nem assim as leis concorrentes de vários Estados. Só a vontade comum de alguns Estados, fundidas em uma unidade volitiva pode ser o fundamento do Direito Internacional.
Em razão da noção de soberania absoluta, a teoria voluntaristas galgou expansão e espaço e passou a ter prevalência no próprio Direito Internacional. E, tal fato pode ser demonstrado pela crescente valoração dos tratados tidos como fonte do Direito Internacional e, ipso facto, da necessidade de concordância expressa com a norma e, na figura do objetor persistente no que tange ao costume internacional e que permite a não-vinculação à norma pela vontade do Estado que se manifeste contrariamente à esta.
Segundo a teoria voluntarista fundada na vontade e em aspectos intrínsecos do sistema normativo, verifica-se a limitação dos fundamentos do Direito Internacional às fontes do mesmo. Enfim, analisando a existência ou não de uma norma formal para se verificar o fundamento do Direito Internacional.
Isto é, preocupa-se apenas com a forma, e não propriamente com o conteúdo. Sendo tal situação viável enquanto o sistema é composto por normas de coexistência, mas passa a ser questionada quando surgem as normas de cooperação que apontam para os valores e objetivos comuns existentes.
Enfim, após a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, com advento da fundação da ONU, o Direito Internacional se alterou profundamente. Pois surgem novos sujeitos do Direito Internacional, particularmente, o ser humano, novos atores das relações internacionais, tais como as Organizações não-governamentais (ONGs) e novos temas internacionais como o meio ambiente, a integração econômica e os direitos humanos.
Em face disso, deu-se a necessidade de alterações no Direito Internacional que passará a produzir também, as normas de cooperação. E, acrescidas das normas de coexistência e, trazem à baila a relevante lição deixada por Norberto Bobbio, a paz positiva (desenvolvimento) que deve coexistir bem ao lado da paz negativa (ausência de guerras).
Assim, essas normas denotam igualmente a existência de valores e objetivos comuns, criando novos critérios de legitimidade e recuperando a preocupação axiológica do Direito Internacional que
tanto se reflete na relevância do conteúdo e, não apenas na forma das normas criadas.
Portanto, o Direito Internacional passa a contar com outros elementos em sua base que não somente a vontade do Estado e, que ipso facto, deve ser feita uma retomada do tema e revisão dos fundamentos Direito Internacional.
O surgimento de entes não-estatais no âmbito internacional e de normas de cooperação nos induzem aos questionamentos sobre o Direito Internacional e seus paradigmas e fundamentos.
Diante dessa crise paradigmática do Direito Internacional que não é mais possível fundá-lo apenas na vontade do Estado e que a busca por seus fundamentos e critério de legitimidade não pode ser vista como extrínseca à própria matéria. O fundamento em si pode ser extremo ao sistema, mas estará subjacente ao mesmo tempo.
O que justifica o enorme destaque que se deu aos fundamentos não somente por tentar explicar a obrigatoriedade do Direito Internacional, mas por apontar os motivos pelos quais os Estados, como entes soberanos, respeitem e obedeçam ao Direito Internacional, mas igualmente, por que sem um fundamentação adequada, não conseguirá realizar suas quatro funções básicas, a saber:
(1) “definir o princípio normativo supremo de organização da política mundial”; (2) “estabelecer as regras de coexistência e cooperação entre os atores internacionais”; (3) “efetuar a qualificação dos comportamentos internacionais”; (4) “mobilizar obediência em relação às regras de coexistência e cooperação”. observa-se uma nova preocupação com o mesmo e a produção de teorias que direta ou indiretamente abordam a questão.
Em comum aparece a constatação da existência de valores, objetivos e interesses compartilhados no cenário internacional atual, bem como a contínua importância dos Estados, que embora tenham tido sua soberania flexibilizada com o aumento da interdependência e a diminuição dos temas que compõem o domínio reservado, seguem sendo os principais sujeitos do Direito Internacional, sobretudo em função de sua capacidade de produzir normas internacionais.
Em face do exposto parece-nos que a melhor definição dos fundamentos do Direito Internacional contemporâneo seria uma combinação de pressupostos das teorias jusnaturalistas e voluntaristas. Destas se utilizaria a ideia de vontade presente em consensos e daquelas a existência de valores externos ao sistema – e compartilhados pelos entes que o compõe-, sobretudo na busca da justiça. Cabendo ao Direito Internacional fazer a junção entre os dois extremos (vontade versus valores) por meio de suas normas.
Os fundamentos do Direito Internacional contemporâneo seriam, assim, o consenso sobre a necessidade de segurança (jurídica) para a consecução dos objetivos e proteção dos valores compartilhados pela sociedade internacional.
Verifica-se nesta definição a existência de três elementos dos fundamentos do Direito Internacional contemporâneo: (1) o consenso, que remete a ideia de vontade estatal presente nas teorias voluntaristas; (2) a consecução dos objetivos e a proteção dos valores compartilhados, que resgatam os ideias de justiça e a dimensão axiológica presente nas teorias jusnaturalistas; e (3) a segurança jurídica que seria garantida pelo Direito Internacional e que auxiliaria no apaziguamento dos critérios das duas teorias.
Com essa definição respeita-se o aspecto político que limita o cenário internacional, representado sobretudo pela soberania estatal; consagrada na fórmula acima na ideia de consenso; mas, ao mesmo tempo, destaca-se o aspecto de valores compartilhados e objetivos comuns, acrescentando-se uma dimensão axiológica ao Direito Internacional e buscando efetuar um resgate da unidade ética do mesmo, que existia, como mencionado, no início desta disciplina.
Tal definição contempla a realidade internacional existente, preocupando-se, simultaneamente, com a criação de um cenário internacional ideal. Combina, assim, aspectos descritivos e propositivos a fim de auxiliar na evolução do Direito Internacional.
Para que essa definição possa, contudo, prosperar, faz-se necessário analisar se há, efetivamente, uma sociedade internacional com objetivos e valores compartilhados que autorizem a inclusão dos mesmos como base dos fundamentos do Direito Internacional. O próximo item se ocupa da análise de tal tema.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) tem como base fundamental a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Resolução 217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Observa-se que o Direito Internacional é capaz de servir e legitimar diferentes aspectos da ordem social, como por exemplo, defender a prevalência da vontade particular de uma potência mundial, em detrimento de nação hipossuficiente, mas também, esse direito é capaz de criar condições mais igualitárias para todos as nações, afirmando os princípios superiores às vontades particulares, consagrando-se, finalmente, como um complexo e denso paradoxo.
Naturalmente que foi o enfraquecimento da figura do Estado que fez com que a dinâmica da sociedade internacional evoluísse para nova perspectiva sob a qual não mais se vislumbra a intensa necessidade de reforçar as condições de manutenção do status quo desses entes coo sento os únicos a comandar e reger o sistema internacional.
A globalização do capitalismo faz com que o poder não esteja mais disponível apenas de quem detém o controle do território. Ou seja, os governantes não mais possuem o controle e a submissão da população em suas mãos e não são os únicos nem os mais importantes, pois, já não é mais o Estado o único ente capaz de fortalecer a economia e garantir a segurança aos indivíduos.
O surgimento de novos Estados, os fatos decorrentes dos desajustes de uma sociedade internacional pautada exclusivamente na soberania, como as guerras e o incremento da cooperação pacífica para atingir certos interesses comuns de atores internacionais, fizeram com que junto a essa sociedade internacional passasse a subsistir um novo ambiente de relações entre os Estados, qual seja, a comunidade internacional, na qual novas regras de direito internacional serão contempladas a fim de regular as ações comuns, pautadas em valores também comuns a todos os sujeitos nela envolvidos.
A comunidade internacional é hoje um grupo social em transição, porque sobre esta incide, por um lado, o passado de vários séculos como uma sociedade de Estados soberanos, ainda presente em grande medida na atualidade.
Mas, também, por outro lado, as mudanças experimentadas a partir da Primeira Guerra Mundial e que têm sido acentuadas na Era das Nações Unidas (1945), orientam para outras finalidades.
A dinâmica da ordem internacional bem como do direito que a regula passa a enfraquecer a ideia exclusiva de consentimento em diversas situações na realidade internacional. Principalmente, depois do fortalecimento da busca da segurança coletiva pela punibilidade, como por exemplo, com os tribunais penais (TPI e outros), mesmo antes da ONU (1945) quando os Estados começaram a reconhecer o movimento de delegação do consentimento a entidades internacionais tais como os Tribunais.
A delegação da soberania, principalmente, no tocante à ONU demonstra o movimento dos Estados em prol de interesses comuns, em uma estrutura multilateral.
De acordo com Cançado Trindade é possível, com base na análise jurisprudencial e da doutrina internacional contemporânea, entender, in litteris: “o despertar de uma consciência jurídica universal (…), para reconstruir, neste início do século XXI, o Direito Internacional, com base em novo paradigma, já que não mais estatocêntrico, mas situando o ser humano em posição central e tendo presentes os problemas que afetam a humanidade como um todo”.
Enfim, todo novo paradigma pressupõe o fim de um velho paradigma. Ressaltando-se que a evolução do Direito Internacional não é uma ruptura de um paradigma tradicional para um novo, pois ainda não se vislumbra o fim do Direito Internacional na sua forma tradicional.
De todo jeito, há positivamente nova consciência que surge para ser a força contrária ao movimento tradicional da ordem internacional, gerando tensão que sustenta a dinâmica contemporânea do cenário internacional, ora tido com caráter societário e, ora com caráter comunitário.
Enfim, o que torna possível o Direito Internacional é se portar em prol da busca social por valores comuns.
A noção da formação de comunidade no ambiente internacional é enfaticamente refutada por grande gama de jusinternacionalistas. O termo “comunidade” é reconhecido por caracterizar ambiente de formação natural, no q qual se manifestam o prazer, os hábitos comuns, bem como onde se reconhece haver memória que une os indivíduos que pretendem ao grupo e que não se reúnem por uma escolha consciente, mas sim, por cooperação natural.
Os adeptos a existência de uma comunidade internacional defendem a união dos sujeitos, pautados em valores comuns que existiram desde sempre, mas que primordialmente e conscientemente estão cada vez mais bem definidos, desde 1945, com a criação das Nações Unidas e a necessidade de manutenção da paz e da segurança internacional.
Desde as revoluções burguesas, pode-se perceber a preocupação dos indivíduos em retomar seu papel na sociedade como um todo.
O século XVIII, ainda arraigado do ideal estatal na ordem internacional, já dava sinais da manifestação do indivíduo enquanto senhor de si e protagonista da história, porém muito mais no âmbito interno do que no âmbito internacional.
As revoluções americana e francesa marcaram o pensamento da época encorajando a sociedade a defender a liberdade dos indivíduos acima do poderio estatal. Em decorrência de tais revoluções foi possível estabelecer os direitos liberais, considerados os direitos de primeira geração do tardio direitos humanos, mas principalmente marcando o início do pensamento dos direitos fundamentais, isto é, do âmbito interno.
Teorias sobre as liberdades individuais surgiram no pensamento político da época. A maioria desses pensamentos estava ligada ao âmbito interno.
No entanto, alguns chegaram a serem concluídas no âmbito internacional, isto é, pensadores, como Immanuel Kant, por exemplo, já percebiam que as realizações das liberdades individuais só estariam completas e só fariam sentido se findassem em uma busca para além das fronteiras estatais. Assim, percebe-se que, aos poucos, os valores internos deveriam ser transferidos para o âmbito internacional.
De acordo com Brant, parte-se, portanto, de um direito descentralizado e horizontal para se dirigir na direção de uma analogia com uma Constituição material, definida como um conjunto de valores estruturados de uma determinada sociedade.
Este conjunto normativo, independente das fontes formais e originárias, prevê uma hierarquia de valores a serem protegidos.
Com o aparecimento de novos sistemas normativos, no cenário do direito internacional, regidos por ideais não mais baseados puramente em vontades dos Estados, como por exemplo, o Direito Humanitário, que surge no século XIX, estabelecendo limites às guerras com o fim de torná-las mais digna. É o caso da cláusula Martens. A referida cláusula merece destaque, pois sua trajetória histórica permeia mais de um século.
Foi criada por Friedrich Von Martens, com base no direito natural e em regramentos das forças armadas do Reino Unido e da Escócia datados de 1643 e, apresentada à sociedade internacional na Conferência de Paz de Haia de 1899 e inserida nas convenções de 1899 e de 1907 sobre Direito Humanitário.
A cláusula Martens afirmou: que nos casos não incluídos nos Regulamentos (…), as populações e os beligerantes permanecem sob a proteção e o império dos princípios de direito internacional, tal como resultam dos usos estabelecidos entre as nações civilizadas, pelas leis da humanidade e as exigências da consciência pública. (In: MERON, 2003).
A proposta da cláusula Martens visa estender proteção aos civis e aos combatentes durante as guerras e quaisquer situações de conflito, invocando os princípios do direito internacional, com base nas leis da humanidade e de exigência de consciência pública, que demonstra patamar mínimo de dignidade do ser humano, já existentes na consciência coletiva do mundo ocidental, ou como bem retratado na própria cláusula, das nações civilizadas.
Eis que a adaptação da cláusula Martens a acepção contemporânea, numa reedição nos Protocolos Adicionais da Convenção de Haia, consolidou a noção de princípios da humanidade, ao invés de leis da humanidade, bem como a ideia de ditames de consciência pública, no lugar de exigência de consciência.
Portanto, os princípios da humanidade e os ditames da consciência pública tem sido fatores de restrição da liberdade do Estado para fazer o que não é expressamente proibido por Tratados, Convenções ou costumes.
O que consolida a existência de valores para além da vontade estatal e, que devem restringir a mesma no que diz respeito ao tratamento do indivíduo em tempo de guerra e de paz.
E, tal cláusula deve ter aplicação continuada, se sobressaindo ao longo do tempo, mesmo diante novas situações e dos avanços de tecnologias. Assim, a cláusula Martens continua a servir como advertência contra a suposição de que o que não esteja expressamente proibido pelas Convenções de Direito Internacional Humanitário poderia estar permitido; muito pelo contrário, a cláusula Martens sustenta a aplicabilidade continuada de princípios do direito das gentes, das leis de humanidade e das exigências da consciência pública, independentemente do surgimento de novas situações e do desenvolvimento da tecnologia.
A cláusula Martens[6] impede, assim, o non liquet, e ainda exerce relevante papel na hermenêutica e aplicação da normativa humanitária.
Ressalte-se que a cláusula Martens é considerada como fonte material principal do Direito Humanitário e, está, inegavelmente, dentro do domínio do jus cogens, ou seja, seu alcance está para além do próprio Direito Humanitário, sendo esta afirmada a favor de todo ser humano dentro do Direito Internacional geral.
Identificamos que a sociedade internacional está em construção e que o grau de vínculo existente entre os sujeitos do Direito Internacional que há muito preocupa os estudiosos do tema, até em razão de grau insignificantes, não haveria de se cogitar em direito para regular as condutas entre estes. Com o surgimento do Direito Internacional, com o advento do Estado moderno, nota-se que nível de relacionamento internacional denota a premente necessidade de regulação.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) tem como base fundamental a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Resolução 217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Observa-se que o Direito Internacional é capaz de servir e legitimar diferentes aspectos da ordem social, como por exemplo, defender a prevalência da vontade particular de uma potência mundial, em detrimento de nação hipossuficiente, mas também, esse direito é capaz de criar condições mais igualitárias para todos as nações, afirmando os princípios superiores às vontades particulares, consagrando-se, finalmente, como um complexo e denso paradoxo.
Naturalmente que foi o enfraquecimento da figura do Estado que fez com que a dinâmica da sociedade internacional evoluísse para nova perspectiva sob a qual não mais se vislumbra a intensa necessidade de reforçar as condições de manutenção do status quo desses entes coo sento os únicos a comandar e reger o sistema internacional.
A globalização do capitalismo faz com que o poder não esteja mais disponível apenas de quem detém o controle do território. Ou seja, os governantes não mais possuem o controle e a submissão da população em suas mãos e não são os únicos nem os mais importantes, pois, já não é mais o Estado o único ente capaz de fortalecer
a economia e garantir a segurança aos indivíduos. O surgimento de novos Estados, os fatos decorrentes dos desajustes de uma sociedade internacional pautada exclusivamente na soberania, como as guerras e o incremento da cooperação pacífica
para atingir certos interesses comuns de atores internacionais, fizeram com que junto a essa sociedade internacional passasse a subsistir um novo ambiente de relações entre os Estados, qual seja, a comunidade internacional, na qual novas regras de direito internacional serão contempladas a fim de regular as ações comuns, pautadas em valores também comuns a todos os sujeitos nela envolvidos.
A comunidade internacional é hoje um grupo social em transição, porque sobre esta incide, por um lado, o passado de vários séculos como uma sociedade de Estados soberanos, ainda presente em grande medida na atualidade.
Mas, também, por outro lado, as mudanças experimentadas a partir da Primeira Guerra Mundial e que têm sido acentuadas na Era das Nações Unidas (1945), orientam para outras finalidades.
A dinâmica da ordem internacional bem como do direito que a regula passa a enfraquecer a ideia exclusiva de consentimento em diversas situações na realidade internacional.
Principalmente, depois do fortalecimento da busca da segurança coletiva pela punibilidade, como por exemplo, com os tribunais penais (TPI e outros), mesmo antes da ONU (1945) quando os Estados começaram a reconhecer o movimento de delegação do consentimento a entidades internacionais tais como os Tribunais. A delegação da soberania, principalmente, no tocante à ONU demonstra o movimento dos Estados em prol de interesses comuns, em uma estrutura multilateral.
De acordo com Cançado Trindade é possível, com base na análise jurisprudencial e da doutrina internacional contemporânea, entender, in litteris:
“o despertar de uma consciência jurídica universal (…), para reconstruir, neste início do século XXI, o Direito Internacional, com base em novo paradigma, já que não mais estatocêntrico, mas situando o ser humano em posição central e tendo presentes os problemas que afetam a humanidade como um todo”.
Enfim, todo novo paradigma pressupõe o fim de um velho paradigma. Ressaltando-se que a evolução do Direito Internacional não é uma ruptura de um paradigma tradicional para um novo, pois ainda não se vislumbra o fim do Direito Internacional na sua forma tradicional.
De todo jeito, há positivamente nova consciência que surge para ser a força contrária ao movimento tradicional da ordem internacional, gerando tensão que sustenta a dinâmica contemporânea do cenário internacional, ora tido com caráter societário e, ora com caráter comunitário.
Enfim, o que torna possível o Direito Internacional é se portar em prol da busca social por valores comuns.
A noção da formação de comunidade no ambiente internacional é enfaticamente refutada por grande gama de jusinternacionalistas. O termo “comunidade” é reconhecido por caracterizar ambiente de formação natural, no qual se manifestam o prazer, os hábitos comuns, bem como onde se reconhece haver memória que une os indivíduos que pertencem ao grupo e que não se reúnem por uma escolha consciente, mas sim, por cooperação natural.
Os adeptos a existência de uma comunidade internacional defendem a união dos sujeitos, pautados em valores comuns que existiram desde sempre, mas que primordialmente e conscientemente estão cada vez mais bem definidos, desde 1945, com a criação das Nações Unidas e a necessidade de manutenção da paz e da segurança internacional.
Desde as revoluções burguesas, pode-se perceber a preocupação dos indivíduos em retomar seu papel na sociedade como um todo.
O século XVIII, ainda arraigado do ideal estatal na ordem internacional, já dava sinais da manifestação do indivíduo enquanto senhor de si e protagonista da história, porém muito mais no âmbito interno do que no âmbito internacional.
As revoluções americana e francesa marcaram o pensamento da época encorajando a sociedade a defender a liberdade dos indivíduos acima do poderio estatal. Em decorrência de tais revoluções foi possível estabelecer os direitos liberais, considerados os direitos de primeira geração do tardio direitos humanos, mas principalmente marcando o início do pensamento dos direitos fundamentais, isto é, do âmbito interno.
Teorias sobre as liberdades individuais surgiram no pensamento político da época. A maioria desses pensamentos estava ligada ao âmbito interno. No entanto, alguns chegaram a serem concluídos no âmbito internacional, isto é, pensadores, como Immanuel Kant, por exemplo, já percebiam que as realizações das liberdades individuais só estariam completas e, só fariam sentido se findassem em uma busca para além das fronteiras estatais. Assim, percebe-se que, aos poucos, os valores internos deveriam ser transferidos para o âmbito internacional.
De acordo com Brant, parte-se, portanto, de um direito descentralizado e horizontal para se dirigir na direção de uma analogia com uma Constituição material, definida como um conjunto de valores estruturados de uma determinada sociedade. Este conjunto normativo, independente das fontes formais e originárias, prevê uma hierarquia de valores a serem protegidos.
Com o aparecimento de novos sistemas normativos, no cenário do direito internacional, regidos por ideais não mais baseados puramente em vontades dos Estados, como por exemplo, o Direito Humanitário, que surge no século XIX, estabelecendo limites às guerras com o fim de torná-las mais digna. É o caso da cláusula Martens.
A referida cláusula merece destaque, pois sua trajetória histórica permeia mais de um século. Foi criada por Fredrich Von Martens, com base no direito natural e em regramentos das forças armadas do Reino Unido e da Escócia datados de 1643 e, apresentada à sociedade internacional na Conferência de Paz de Haia de 1899 e inserida nas convenções de 1899 e de 1907 sobre Direito Humanitário.
A cláusula Martens afirmou: que nos casos não incluídos nos Regulamentos (…), as populações e os beligerantes permanecem sob a proteção e o império dos princípios de direito internacional, tal como resultam dos usos estabelecidos entre as nações civilizadas, pelas leis da humanidade e as exigências da consciência pública. (In: MERON, 2003).
A proposta da cláusula Martens visa estender proteção aos civis e aos combatentes durante as guerras e quaisquer situações de conflito, invocando os princípios do direito internacional, com base nas leis da humanidade e de exigência de consciência pública, que demonstra patamar mínimo de dignidade do ser humano, já existentes na consciência coletiva do mundo ocidental, ou como bem retratado na própria cláusula, das nações civilizadas.
Eis que a adaptação da cláusula Martens a acepção contemporânea, numa reedição nos Protocolos
Adicionais da Convenção de Haia, consolidou a noção de princípios da humanidade, ao invés de leis da humanidade, bem como a ideia de ditames de consciência pública, no lugar de exigência de consciência.
Portanto, os princípios da humanidade e os ditames da consciência pública tem sido fatores de restrição da liberdade do Estado para fazer o que não é expressamente proibido por Tratados, Convenções ou costumes.
O que consolida a existência de valores para além da vontade estatal e, que devem restringir a mesma no que diz respeito ao tratamento do indivíduo em tempo de guerra e de paz.
E, tal cláusula deve ter aplicação continuada, se sobressaindo ao longo do tempo, mesmo diante novas situações e dos avanços de tecnologias. Assim, a cláusula Martens continua a servir como advertência contra a suposição de que o que não esteja expressamente proibido pelas Convenções de Direito Internacional Humanitário poderia estar permitido; muito pelo contrário, a cláusula Martens sustenta a aplicabilidade continuada de princípios do direito d as gentes, das leis de humanidade e das exigências da consciência pública, independentemente do surgimento de novas situações e do desenvolvimento da tecnologia.
A cláusula Martens impede, assim, o non liquet, e ainda exerce relevante papel na hermenêutica e aplicação da normativa humanitária.
Ressalte-se que a cláusula Martens é considerada como fonte material principal do Direito Humanitário e, está, inegavelmente,
dentro do domínio do jus cogens, ou seja, seu alcance está para além do próprio Direito Humanitário, sendo esta afirmada a favor de todo ser humano dentro do Direito Internacional geral.
Na década de 1990 em face, por um lado, do fenômeno da supranacionalidade na União Europeia e, por outro, do fortalecimento da sociedade civil internacional, alguns doutrinadores passem a apontar a existência da uma comunidade internacional, que abrangeria não apenas os Estados e as Organizações Internacionais, mas também os demais entes que influenciam o cenário internacional (como por exemplo os indivíduos, a sociedade civil internacional e entes que não se enquadram tão facilmente em classificações existentes, como era o caso da União Europeia antes do tratado de Lisboa quando passou a ser uma organização internacional).
De toda forma, verifica-se que o Direito Internacional contemporâneo reflete alguns objetivos e valores compartilhados, que, embora não estabeleçam um sistema axiológico uníssono e completo, permite, ao menos, dizer que há uma sociedade internacional em construção.
São exemplos que ilustram tal afirmação as normas de jus cogens e a primazia da teoria do constitucionalismo sobre a teoria da fragmentação internacional.
Doutrinariamente a noção de jus cogens é aceita tanto individual quanto coletivamente. Vários autores, ainda que questionem alguns tópicos relativos à aplicação das normas de jus cogens (como Dominique Carreau e George Schwarzenberg) aceitam sua existência, e o Instituto de Direito Internacional destacou o tema ao aprovar, em 1983, uma resolução acerca da impossibilidade de extradição
caso haja suspeita de violação de uma norma de jus cogens (como por exemplo em caso de suspeita de tortura ou perseguição em função de raça, religião ou etnia).
Já na jurisprudência internacional a existência (e relevância) do jus cogens é encontrada em vários julgados como parte da argumentação, como por exemplo nos casos: (i) North Sea Continental Shelf julgado pela Corte Internacional de Justiça em que se afirmar – nos votos dissidentes e em separado – que reservas opostas contra normas imperativas são inadmissíveis, (ii) Tadić e Furundžija do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, em que se determinou que as normas de jus cogens são oponíveis também ao Conselho de Segurança e que possuem efeitos impedientes (deterrent effect) além de representarem os “most fundamentals standards of the international community”, respectivamente (iii) Michael Dominguez em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (que embora não seja um tribunal integra o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e é parte do sistema de solução de controvérsias deste; sendo essencial sobretudo nos casos contra Estados que não tenham aceito a competência e jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como, por exemplo, os Estados Unidos que são a parte contrária no caso mencionado) reconhece e aplica a noção de jus cogens44, e (iv) Al Barakat na Corte de Primeira Instância e na Corte Europeia de Justiça, em que se debate a extensão e o conteúdo do jus cogens e se reafirma a submissão do Conselho de Segurança da ONU.
O grande desafio da aplicação do jus cogens atualmente é a definição de seu conteúdo. Contudo, apesar de não haver um rol amplo de normas consideradas unanimemente como imperativas, já existe o que se poderia chamar de um “mínimo denominador comum”, com cinco grandes temas que são consensualmente entendidos como jus cogens.
São eles: 1) a proibição do genocídio, 2) a proibição da escravidão, 3) a proibição da tortura, 4) a proibição da pirataria, e 5) algumas normas sobre o uso da força no cenário internacional46.
Nota-se que as três primeiras se relacionam à dignidade humana – base dos direitos humanos, um novo valor da sociedade internacional. A proibição à pirataria resgata um tema tradicional do Direito Internacional (o mar) e relaciona-se com o uso da força, que é, por sua vez, tema inerente ao novo sistema regulatório trazido pela ONU e base essencial do Direito Internacional atual47.
Quanto ao uso da força vale destacar que seriam normas de jus cogens a legítima defesa (consagrada no artigo 51 da Carta da ONU), a não-intervenção (artigo 2, 7 da Carta da ONU) e o não uso da força nas relações internacionais (artigo 2,4 do mesmo documento).
Além disso, algumas normas do Direito Internacional Humanitário (como a distinção entre civis e militares e regras sobre prisioneiros de guerra), sobretudo as presentes nas quatro Convenções de Genebra de 1949 também são imperativas (e a decisão do presidente dos Estados Unidos – Barack Obama – de fechar a prisão de Guantánamo – ainda que não em um prazo curto como se esperava – demonstra a revalorização destas normas).
A existência de jus cogens denota, assim, a existência de valores e interesse compartilhados internacionalmente, o que permite que se defenda tanto a existência de uma sociedade internacional em construção quanto um fundamento de Direito Internacional baseado em critérios axiológicos, a estas normas.
Como explica o professor português Jorge Miranda (2012), no âmbito internacional[o] desenvolvimento do jus cogens tem como pano de fundo alguns fatores ou tendências nem sempre coincidentes: a nova consciência do primado dos direitos das pessoas, após os cataclismos provocados pelos regimes totalitários e pela Segunda Guerra Mundial; as novas exigências de paz e de segurança coletiva e a crise de soberania; a ideia de autodeterminação dos povos e o aparecimento de novos Estados empenhados em refazer a ordem internacional; e o impulso dado pela ciência internacionalista (MIRANDA, 2012).
No entanto, o jus cogens só aparece como se conhece atualmente em 1963, com Humphrey Waldock na relatoria da CDI.” Jus cogens” significa uma norma peremptória do direito internacional geral, da qual nenhuma derrogação é permitida exceto em uma situação especificamente sancionada pelo direito internacional geral, e que pode ser modificada ou anulada apenas por uma ulterior norma de direito internacional geral (ONU, 1963b, p. 39).
Destacamos que a corrente humanista é, sem dúvida, uma das mais recentes doutrinas sobre o fundamento do direito internacional e, cujas bases prostam-se no jusnaturalismo.
Assim, a corrente humanista de pensamento se situa dentro do Renascimento do direito natural, movimento que é uma outra reação contra o positivismo clássico. Sendo considerada como corrente antipositivista e idealista. E, que se lastreia na premência em se lutar contra os efeitos nefastos da anarquia das soberanias estatais.
Os derradeiros fatos presenciados nesse último século já marcaram de tal forma as concepções de tantos juristas, doutrinadores tanto do direito como da filosofia que foram capazes de consolidar novas tendências na contemporaneidade.
E, nesse sentido, nos esclarece Trindade, in litteris:
” A convivência constante, como Juiz de um tribunal internacional de direitos humanos, com os relatos comprovados de sucessivas atrocidades e abusos praticados contra a pessoa humana, nos casos submetidos ao conhecimento do Tribunal interamericano, convivência esta, refletida em mais de uma centena de sentenças internacionais de cuja elaboração e adoção tenho tido privilégio de participar ativamente, tem reforçado minha convicção quanto à premente necessidade de sustentar e promover o atual processo histórico de humanização do Direito Internacional e de buscar a consolidação do novo jus gentium do século XXI.”
Lembremos que para o grande filósofo Immanuel Kant, o Direito Internacional cuja evolução atinge seu ápice no direito cosmopolita, carrega como princípio basilar a autonomia da pessoa humana para a corrente humanista, o Direito Internacional é, e deve ser, um instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana. Com a merecida ressalva que tanto a autonomia como a dignidade da pessoa humana são dois dos três princípios fundamentais dos Direitos Humanos.
Referências
BBC NEWS. Brasil. Rússia x Ucrânia: os desdobramentos da crise e o alerta da Casa Branca sobre possível invasão. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60355992 Acesso em 13.02.20222.
BRANT, Leonardo Nemer C. A Autoridade da Coisa Julgada no Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
________________________. Comentário à Carta das Nações Unidas. Belo Horizonte: CEDIN, 2008.
CABRAL, Maria Walkíria de Faro Coelho Guedes; MARTINS, Hugo Lázaro Marques. Comunidade Internacional: posições doutrinárias e repercussões em casos concretos. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d468e2fdf2626d80 Acesso em 13.02.2022.
DE OLIVEIRA, Vinícius. A Legitimidade e a Legalidade das Intervenções Humanitárias na Ordem Internacional. Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-legitimidade-legalidade-das-intervencoes-humanitarias-ordem-internacional.htm Acesso em 13.02.2022.
HOBSBOWN, Eric. A Era dos Extremos. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1999.
______________. A Era dos Impérios – 1875-1914. 7ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
HUMPHREY, Waldock, Sir, “General Course on Public International Law (Volume 106)”, em: Collected Courses of the Hague Academy of International Law . Consultado online em 13 de fevereiro de 2022 http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028614321_01 .
JUBILUT, Liliana Lyra. A “Responsabilidade de Proteger” É uma mudança real para
as intervenções humanitárias. Disponível em: http://centrodireitointernacional.com.br/static/revistaeletronica/artigos/Liliana%20Jubilut%20DIH.pdf Acesso em 13.02.2022.
KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 2008.
MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
MERON, Theodor. General Course on Public International Law. R.C.A.D.I. Volume 301, 2003.
MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. 5ª edição.
Cascais: Princípia, 2012.
TRINDADE, Antonio A. Cançado. Direito das Organizações Internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
_____________________________. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. V. I, 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2003.
SIMÕES, Caroline Figueiredo Lima; SIMÕES, Sandro. A Escola de Salamanca e a sua herança humanista para o direito internacional público: um estudo sobre as contribuições de Francisco de Vitória e Francisco Suárez. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/99253 Acesso em 13.02.2022
[1] Os contemporâneos problemas que o Direito Internacional enfrenta relacionam-se com os pontos pertencentes a uma compreensão sobre a formação de comunidade universal. Que são questões já aventadas por grandes mestres da Escola Ibérica da Paz, do século XVI e XVII. Cumpre destacar ainda os valorosos estudos da Escola de Salamanca, especialmente, as contribuições de Francisco de Vitória e Francisco Suárez. As principais contribuições conceituais aportadas pela Escola de Salamanca como fundamentação para o desenvolvimento da paz e justiça entre as nações, por meio de confrontações das noções de razão da humanidade e razão do Estado, com vias à compreensão da comunidade universal.
[2] Quando do final da URSS, em 1991, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia tentaram criar uma nova organização que, respeitando a independência política de cada uma, mantivesse o funcionamento da economia dos países. Assim surgiu a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que enveredava pelo sistema econômico capitalista. Essa organização recebeu a adesão relativamente rápida das outras repúblicas, compondo 12 países no final de 1993. É claro que o sucesso da CEI dependia muito do crescimento econômico da Rússia, entretanto não foi isso que se observou. No campo político, ocorreu a agitação dos movimentos nacionalistas, com conflitos generalizados na Geórgia, guerra civil no Tajiquistão e o conflito entre Armênia e Azerbaijão por territórios com minorias étnicas de ambos os grupos. Esses problemas ainda persistem hoje, mas foram suplantados por um problema mais sério: a crise econômica.
[3] A Paz de Westfália foi um acontecimento histórico marcado pela assinatura de dois tratados de paz nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück, em 1648, e que colocou fim a Guerra dos Trinta Anos (1618 – 1648). Para lembrar, a Guerra dos Trinta Ano Para lembrar, a Guerra dos Trinta Anos marcou o século XVII como um dos conflitos mais sangrentos da história. As principais motivações da guerra foram as questões religiosas, que tiveram seu ápice com a Reforma Protestante. Em 1648, a Europa estava devastada, marcada pelos últimos 30 anos, assim a Paz de Westfália foi importante para determinar o fim do conflito, instaurar a paz e estabelecer uma nova ordem mundial marcou o século XVII como um dos conflitos mais sangrentos da história.
[4] A eminente invasão da Ucrânia pela Rússia nos traz um conceito de guerra híbrida que foi um conceito utilizado em primeira vez no início do anos 2000, relaciona-se com a implementação de estratégia de enfrentamento que não passa obrigatoriamente por um combate militar. Afinal, um país pode usar meios que prejudiquem a segurança e estabilidade de outro país. E, nem sempre são meios militares, é o caso de ataques cibernéticos ou o lançamento de onda massiva de tuítes que vão contra a posição de determinado governo. É a isso que chamamos de guerra híbrida. Também usam a insurgência das fake news e, a desinformação que impulsiona a propaganda e a provocação como papel fundamental. “Agora, as guerras são mais assimétricas, com outros atores envolvidos”, diz ele. Outra diferença entre a guerra híbrida e a guerra tradicional é que é difícil saber quando a primeira começa. Na guerra tradicional, geralmente um país declara guerra a outro. Mas nesses casos, a dinâmica não é a mesma.
[5] A questão da Crimeia é um revés geopolítico gerado pela invasão e anexação da Crimeia pela Rússia. Tal situação ocorreu no ano de 2014 e gera consequências político-militares até a atualidade, como a crise entre Ucrânia e Rússia em 2022. A Crimeia, antes república autônoma, era uma região da Ucrânia, mas que sempre teve fortes vínculos com a Rússia. A sua ocupação pelos russos gerou grande tensão, que abrangeu toda a Europa. As motivações de invasão e anexação da Crimeia pela Rússia envolvem questões históricas, políticas, econômicas e culturais. Essa região apresenta importância geoestratégica em áreas comerciais e militares. A crise da Crimeia perdura até hoje, com a Ucrânia defendendo a posição de que essa região é parte de seu território, enquanto a Rússia argumenta que a anexação da Crimeia foi feita legalmente, mediante a realização de um contestável plebiscito entre a população local.
[6] A Cláusula de Martens afirma textualmente: Nos casos não previstos nas disposições escritas do Direito Internacional, as pessoas civis e os combatentes ficam sob a proteção e o regime dos princípios do direito de gentes, derivados dos usos estabelecidos, dos princípios de humanidade e dos ditames da consciência.